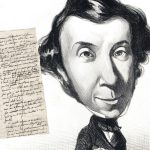Há uma série de consensos que foram forjados pela repetição. Um deles é a excelência do Bolsa Família no enfrentamento da pobreza. Está errado. O Bolsa Família é um bom programa de combate à miséria (ou extrema-pobreza), mas não de emancipação da pobreza.
Enquanto houver extrema-pobreza, o Bolsa Família é um programa necessário, inclusive no combate à fome (ou à insegurança alimentar e nutricional). Mas o que ele faz é incluir seus beneficiários na pobreza, retirando-os da miséria.
A rigor, na ausência de crescimento econômico distribuído (ou de prosperidade econômica), o Bolsa Família é um programa de manutenção da pobreza. O que significa que ele mantém um estoque regulador de pobres, a depender do uso político que se faça, como um exército eleitoral.
Isso quer dizer que programas como o Bolsa Família não devam ser feitos? Não! Devem ser feitos até que se tenha: (i) um programa estatal (não-governamental) de renda cidadã universal; (ii) programas de emancipação da pobreza baseados em investimento em capital humano e social; e, obviamente, (iii) mais desenvolvimento econômico e social, com distribuição dos diversos capitais: além da renda e da riqueza, do capital humano (conhecimento) e do capital social (empoderamento).
O que não se pode é manter indefinidamente programas de distribuição de renda para os mais pobres, sem porta de saída e apenas com contrapartidas individuais-familiares, sem contrapartidas sociais-comunitárias.
Bem… aqui começa a conversa séria sobre o Bolsa Família.
Há muito já se sabe que o caminho para promover o desenvolvimento e superar a pobreza é investir em capital humano e em capital social.
Investir em capital humano, porém, não significa priorizar só o que chamam de Educação (entendendo por isso Escola-Ensino-Professor). É preciso multiplicar as oportunidades de aprendizagem (inclusive autodidáticas e alterdidáticas, ou seja, sem-ensino).
Mas nem isso é suficiente se não se investir, simultaneamente, em capital social.
Infelizmente os nossos policymakers governistas ainda não chegaram na década de 1990 (quando o conceito de capital social começa a comparecer nas teorias do desenvolvimento).
Exigem contrapartidas familiares em programas de combate à pobreza, mas não cogitam de contrapartidas comunitárias. Tratam o pobre como um cliente (ou paciente) familiar, separado do ambiente social onde convive. Se concentram nos laços fortes e esquecem os laços fracos.
Na verdade, nem desconfiam do que se trata. Mas sem multiplicar os laços fracos, não há emancipação da pobreza, no máximo poderá haver redução emergencial da miséria (1).
Uma outra questão é que não sabemos exatamente quem são os pobres e os miseráveis (muitas vezes descritos como “os famintos”). Sobre isso, um artigo do Fabio Giambiagi, em O Globo do último 10 de março, vale a pena ser lido. Segue reproduzido abaixo.
Reavaliar pobreza é necessário para a correta definição de políticas públicas
Fabio Giambiagi, O Globo (10/03/2023)
Bolsonaro foi uma aberração, mas não faz sentido repetir que 15% da população vive como se estivéssemos na Somália
O desemprego no Brasil em 2018 era de 12% e a subutilização de mão de obra, de 24%. E, apesar dos números elevados, não se falava em fome. Em 2022, essas taxas caíram para 9% e 21%, respectivamente. Em 2018, nosso índice de Gini da distribuição do rendimento domiciliar per capita era de 0,55. E ninguém falava em fome.
Em 2021, ele tinha caído para 0,54 (uma pequena redução da desigualdade). O IBGE publica a Síntese de Indicadores Sociais (SIS). “Pobreza extrema” e “pobreza” podem ser medidos olhando para esses indicadores. A proporção de pessoas por classe de rendimento domiciliar per capita com menos de US$ 1,9 diários pela Paridade do Poder de Compra (PPC) aumentou de 4,7% em 2014 para 6,8% em 2018. E ninguém falava em fome.
Depois, entre 2018 e 2020, caiu para 5,7%. Já a proporção de pessoas com menos de US$ 3,2 diários medidos por PPC aumentou de 10,3% em 2014 para 13% em 2018. E a palavra “fome” continuou ausente dos jornais. Depois, entre 2018 e 2020, caiu para 10,6%. Em 2021, aumentou, mas com certeza em 2022 terá caído novamente, pela expansão do Auxílio Brasil.
Convido o leitor a fazer o seguinte raciocínio: como é possível que, com um desemprego muito menor e indicadores distributivos que, pelas mensurações do IBGE, mostrariam uma melhora, em 2022 no Brasil se tenha passado de repente a falar de 33 milhões de famintos?
Em parte, isso decorre de entender “fome” como sinônimo de “insegurança alimentar”. Em parte, também, a resposta é clara: “viés”.
Muitos leitores devem ter visto no YouTube um vídeo de Lula, de 2014, onde ele diz que “uma vez eu estava num debate com Jaime Lerner em Paris, falando que no Brasil tinha 25 milhões de crianças de rua e aplaudido calorosamente pelos franceses. Então, quando terminei de falar, o Lerner me puxou e me disse: ‘Lula, é impossível ter 25 milhões de crianças de rua no Brasil, porque se fosse verdade a gente não poderia andar na rua’.
Bolsonaro foi uma aberração e mesmo daqui a 50 anos se falará das 700 mil mortes da pandemia, no contexto associado à postura negacionista absurda do então presidente. Não faz sentido, porém, parte da intelectualidade ter defendido (corretamente) em 2020 a necessidade de seguir critérios científicos no combate à pandemia e, dois ou três anos depois, repetir que 15% da população brasileira vive como se estivéssemos na Somália.
“Economia baseada em evidências” tem que servir para tudo, não apenas para aquilo que é politicamente conveniente. E é cristalino que o número de “33 milhões de famintos” foi exposto intensamente pelo PT em 2022 com objetivos eleitorais.
Bolsonaro se foi e espero que não volte nunca mais ao poder. Não obstante isso, entender a natureza da questão é fundamental para a correta definição das políticas públicas de agora em diante. Por quê? Porque se a população estiver convencida de que 15% dos brasileiros vivem como somalis, faz sentido gastar rios de dinheiro para mitigar essa chaga que afetaria tanta gente. Já se os miseráveis representarem 5% ou 6% da população, as políticas terão que ser mais focalizadas, com uma utilização mais eficientes dos recursos.
É óbvio que os R$ 600 do Auxílio Brasil devem ser mantidos. De qualquer forma, ao contrário do que muitas vezes se tende a pensar, o Brasil gasta uma enormidade de recursos com políticas sociais. Os benefícios rurais (completamente subfinanciados) em 2023 serão de mais de R$ 170 bilhões; o Bolsa Família será de mais de R$ 150 bilhões; o seguro-desemprego, da ordem de R$ 70 bilhões; o Loas, de R$ 85 bilhões; etc.
E vários desses programas estão mal formulados, levando a uma despesa muito maior do que o país poderia ter se tivesse regras mais razoáveis. Por isso, a precisão é chave em se tratando de políticas públicas. Séries históricas, submetidas ao crivo de especialistas, são fundamentais para desenhar bons programas sociais. O resto é torcida.
Nota
(1) Não conheço o assunto de ler pesquisas acadêmicas. Trabalho com o combate à pobreza deste 1994 (quando fui secretário executivo nacional da Ação da Cidadania contra Fome, a Miséria e pela Vida). Depois fui um dos idealizadores e coordenadores do programa de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável (o DLIS) em mais de mil localidades em todas as regiões do Brasil. Também promovi, desenhei e apliquei processos de capacitação de cerca de 2 mil agentes de desenvolvimento que se deslocaram, em boa parte, para localidades pobres de todo o país. Minha experiência indica que, em sociedades extremamente desiguais, mesmo havendo vigorosos surtos de crescimento econômico, seus resultados não se distribuem equitativamente, reconcentrando-se nos setores que têm mais acesso ao conhecimento e ao poder – o que exige uma nova concepção de combate à pobreza. Sobre isso cf. o artigo, de março de 2019, Emancipação da pobreza em uma sociedade em rede.