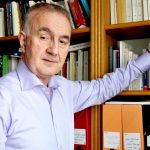O arco da democracia: do renascimento à ameaça
Larry Diamond
Larry Diamond é membro sênior da Hoover Institution e pesquisador sênior sobre democracia global do Freeman Spogli Institute for International Studies na Universidade de Stanford. Esta é sua última edição após 32 anos como coeditor do Journal of Democracy.
Journal of Democracy em Português, Volume 11, Número 1, Junho de 2022 © 2022 National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press
Publicado originalmente como “Democracy’s Arc: From Resurgent to Imperiled”, Journal of Democracy Volume 33, Number 1 January 2022 © 2022 National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.
“Não resta nenhuma outra causa a não ser a mais antiga de todas, a única, de fato, que desde o início de nossa história determinou a própria existência da política: a causa da liberdade em oposição à tirania.”
Hannah Arendt, Sobre a revolução, 1963
Quando Marc Plattner e eu começamos a preparar o lançamento desta revista no início de 1989, a democracia renascia globalmente, mas estava longe de ser dominante. O que Samuel P. Huntington pouco tempo depois viria a chamar de “a terceira onda da democracia” já havia se espalhado da Europa Meridional para a América Latina e Ásia, aumentando a proporção de nações consideradas democráticas de um quarto em 1974 para cerca de 40% no fim de 1988 (1). À medida que nos preparávamos para lançar um novo tipo de publicação que informaria acadêmicos, estudantes, ativistas e formuladores de políticas públicas ao redor do mundo, acreditávamos estar surfando uma onda que transformaria o mundo. Mas não tomávamos sua inevitabilidade como certa, bem como não imaginávamos a escala ou a velocidade da transformação política que estava por vir.
Quando a primeira edição da revista foi publicada, em fins de 1989, o Muro de Berlim havia sido derrubado pelas pessoas que ele havia aprisionado por décadas e o bloco soviético estava ruindo. Após cinco anos de abertura no governo de Mikhail Gorbatchov, a decrépita União Soviética estava em seu crepúsculo. Ao final de 1991, já não mais existia. Transições para a democracia estavam ocorrendo na maior parte da Europa Central e do Leste Europeu, Nelson Mandela havia sido liberado na África do Sul, a sociedade civil havia derrubado a ditadura em Benin, e outras ditaduras africanas longevas estavam na defensiva. Ditadores aparentemente impenetráveis logo cairiam no Zâmbia, Quênia e Malawi. Em 1994, cerca de quarenta países haviam feito a transição para a democracia no espaço de meia década.
Esse era o contexto de esperança — às vezes cercado de emoção — dos primeiros anos do Journal of Democracy, um período no qual as democracias liberais eram vistas como “as únicas sociedades verdadeira e plenamente modernas” (2). A democracia avançava não apenas literalmente — nas ruas e nas urnas —, mas também normativa e intelectualmente. Tanto na esquerda quanto na direita, intelectuais como o nigeriano Claude Ake e o peruano Mario Vargas Llosa defendiam a democracia como a melhor e historicamente necessária forma de governo (3). Em 1999, ao final da primeira década da revista, o economista indiano Amartya Sen rebateu de maneira decisiva a tese do líder singapurense Lee Kuan Yew de que as autocracias eram preferíveis enquanto motores de desenvolvimento econômico e estabilidade. Além de seu empiricismo seletivo, “esporádico” e, portanto, falho — que ignorava os frequentes e surpreendentes fracassos de desenvolvimento das autocracias —, os argumentos de Lee também eram falhos em termos intrínsecos e instrumentais. Intrinsecamente, argumentou Sen, a democracia é importante porque ela atende a necessidades humanas essenciais, como participação e liberdade política. Instrumentalmente, ela dá às pessoas — inclusive aos mais pobres — a capacidade de fazer suas demandas serem ouvidas (4).
Em diversas regiões, o governo de ditadores deixou uma trilha de destruição: abusos brutais de direitos humanos, insegurança generalizada, altos níveis de corrupção e, muitas vezes, estagnação ou ruína econômica. Na América Latina, isso despertou o bom senso de cidadãos e políticos, produzindo (especialmente na esquerda) o que Juan Linz e Alfred Stepan denominaram de “a crescente valorização da democracia como um importante fim em si mesmo, que precisava ser protegido” (5). Inspirada pela maré alta da liberdade, aversa às crueldades do autoritarismo e, em alguns países (especialmente no Leste Asiático) transformada pelo aumento da renda, da educação e da integração com o Ocidente, a opinião pública ao redor do mundo oscilou fortemente a favor da democracia como a melhor forma de governo (6). Em 1995, a maioria dos países do mundo havia se tornado uma democracia. Na década seguinte, a democracia continuaria a se expandir pelo mundo, embora em menor ritmo.
Ainda naquela época, anos antes do atual revés democrático, comecei a me preocupar com a questão da superficialidade e inautenticidade da democracia. Parte disso veio da minha crescente preocupação com os seus limites e profundas contradições na América Latina, que parecia inicialmente favorecida por sua experiência democrática anterior, sua proximidade com os Estados Unidos, uma arquitetura regional de defesa da democracia e níveis no mínimo medianos de desenvolvimento econômico. Trazia comigo uma lembrança de muitos anos antes: em uma conferência sobre a democracia nas Américas organizada pelo Carter Center no fim de 1986, tive um despertar abrupto quando o então presidente guatemalteco Vinicio Cerezo afirmou: “tenho dez porcento do poder em meu país”. O resto, disse ele, era controlado pelos militares e por uma poderosa elite. Quão reais e efetivas podem ser as instituições formais da democracia quando são suplantadas por forças ocultas, “prerrogativas” do poder militar ou “enclaves autoritários” de máfias e organizações criminosas locais? (7) Em 1993, Guillermo O’Donnell nos alertou para os limites do alcance do Estado na América Latina, para além do quais havia “áreas marrons” controladas de maneira informal, mas bastante efetiva, por poderes “patrimonialistas, sultanescos ou simplesmente criminosos”. Esses são mundos de “extrema violência” e predação que “coexistem com um regime que, ao menos no centro político nacional, é democrático” (8). Similarmente, minha avaliação da democracia na América Latina nos anos 1990 fez com que me preocupasse com a “natureza iliberal da ‘democracia’” na região. Argumentava que uma democracia rasa deixa um país mais suscetível a uma total ruptura da ordem constitucional e que regimes democráticos não podem se tornar seguros a não ser que respeitem amplamente os direitos humanos e institucionalizem limites ao poder de atores políticos importantes (9). Desde então, alguns países latino-americanos avançaram, outros retrocederam, mas a democracia permanece uma realidade parcial, conturbada e controversa que, recentemente, tem mostrado crescentes sinais de esgarçamento.
É impossível que a democracia se consolide quando reina a ilegalidade, a corrupção é desenfreada e o Estado é fraco. Como enfatizou Francis Fukuyama, uma boa governança — ou ao menos uma governança minimamente decente, não predatória — é a chave para as perspectivas de longo prazo de uma democracia (10). Democracias malgovernadas e com baixo desempenho são acidentes prestes a acontecer. Em algum momento, uma crise ou alguma força antidemocrática surgirá — sejam os militares, um movimento insurgente ou um demagogo autoritário como Vladimir Putin ou Hugo Chávez — e a derrubará. Se há um Santo Graal do desenvolvimento democrático, na minha opinião, é a boa governança.
Mas como a boa governança emerge de circunstâncias históricas e sociais de leis, tribunais, burocracias e outras instituições formais fracas? Isso só pode ser possível por meio do trabalho consciente de líderes, organizações e coalizões reformistas, por vezes com o apoio de outros Estados e instituições externas (11). Escolha, estratégia e agência cívica e política — ou, para usar uma palavra estranhamente incomum na ciência política atualmente, “liderança” — importam. A maioria dos casos de sucesso se beneficiaram de líderes capazes e dedicados (embora estivessem longe de ser anjos) comprometidos com a democracia, respeitadores de suas instituições e hábeis na construção e ampliação de coalizões e no fortalecimento gradual das instituições. Muitos pesquisadores enfatizam que o escopo de “agência” política costuma estar limitado por condições estruturais e arranjos institucionais. Mas muitas das instituições (partidos representativos, sistemas eleitorais apropriados, regras inclusivas, Estados competentes, tribunais independentes) que ajudaram as democracias a sobreviver são o produto histórico de períodos anteriores de exercício da política por líderes democráticos no governo e na sociedade civil.
No entanto, as democracias não surgem ou caem em um vácuo global. Uma importante contribuição da famosa obra de Huntington de 1991, A terceira onda, foi demonstrar o impacto crucial do contexto internacional de normas, ideias, modelos e tendências prevalecentes e como as políticas e ações de democracias poderosas — e seu poder relativo a autocracias — moldaram o destino da liberdade no mundo. Durante a terceira onda, a pressão, o engajamento diplomático e o apoio da Europa e dos Estados Unidos frequentemente penderam a balança para uma bem-sucedida transição democrática (ou para evitar o fim da democracia) diante de circunstâncias precárias. Um estudo comparativo posterior concluiu que a assistência técnica, o treinamento, o engajamento intelectual, a pressão diplomática e o apoio financeiro ocidental para uma imprensa e uma sociedade civil organizada independentes figuraram de maneira proeminente em transições democráticas bem-sucedidas, mas eram notavelmente mais fracos ou inexistentes em transições malsucedidas (12).
Um reconhecimento saudável do papel da agência evita que desenvolvamos um falso senso de segurança sobre o destino da democracia — que, uma vez “consolidadas”, as democracias vêm para ficar. Em meados da década de 1990, muitas democracias ocidentais, incluindo os Estados Unidos, demonstravam sinais de declínio político, desconfiança e diminuição do engajamento cívico e político. Em 1995, Robert Putnam chamou a atenção para uma dimensão particular desse problema — o declínio do capital social nos Estados Unidos — em seu famoso artigo “Bowling Alone” [jogando boliche sozinho], que até hoje é um dos artigos mais lidos na história do Journal of Democracy (13). Naquele mesmo ano, Juan Linz, Seymour Martin Lipset e eu fizemos nosso próprio alerta:
É uma perigosa falácia enxergar a consolidação como um processo único e irreversível. As democracias vão e vêm. Com o tempo, podem se legitimar, institucionalizar e consolidar. Mas, quando suas instituições entram em declínio e as crenças e práticas democráticas são erodidas, elas também podem se desconsolidar. […] Até mesmo democracias bem-estabelecidas possuem demagogos que culpam a própria democracia pelas limitações da sociedade. Diante de uma severa e prolongada crise social e um governo ineficaz e corrupto, é possível que esses demagogos ganhem muitos seguidores (14).
A aceleração da recessão democrática
Em 1996, levantei a possibilidade de que a terceira onda pudesse estar dando lugar a uma estagnação ou reversão, devido ao aumento da lacuna entre o mínimo eleitoral da democracia e o restante de sua essência liberal. Muitas democracias da terceira onda (ou regimes considerados como tal, como o Paquistão) sobreviviam em um nível muito superficial, enquanto sofriam ataques da elite às normas constitucionais que a ameaçavam de “morte por mil subtrações”. A não ser que a democracia fosse aprofundada e as instituições fortalecidas, muitas democracias se extinguiriam. E esse aprofundamento exigiria, argumentei então (e ainda argumento), que as democracias liberais consolidadas “demonstrem sua continua vitalidade democrática, capacidade de reforma e boa governança”, enquanto trabalham conscientemente “para promover o desenvolvimento democrático ao redor do mundo” (15).
Não tenho nenhum prazer em ver muitos de meus medos realizados. A rasa “democracia” paquistanesa ruiu diante de um golpe militar em outubro de 1999. Muitas outras democracias importantes com as quais me preocupava à época também caíram (Bangladesh e Turquia), oscilaram (Sri Lanka) ou entraram de cabeça no que Thomas Carothers chamou de “área cinzenta” de ambiguidade de regime (as Filipinas). Dos trinta Estados estratégicos que identifiquei em 1999 (16), apenas Taiwan e a República Tcheca mantiveram um alto nível de democracia liberal ou evoluíram substancialmente nessa direção. A democracia tem regredido ao menos em parte na Coreia do Sul e, sob a liderança de líderes e partidos populistas e iliberais, substancialmente no Brasil, Índia, México e Polônia (17). Além de Bangladesh e Turquia, a democracia ruiu na Rússia e na Tailândia e está mais uma vez sob ameaça pela polarização política extrema no Chile, por má governança na África do Sul, e pela interferência política e agressão russa na Ucrânia.
Essa é uma lista apenas parcial dos retrocessos democráticos. No agregado global, a recessão democrática não havia começado de fato até por volta de 2006. Desde então, os níveis de liberdade e de democracia vêm declinando continuamente, menos países fizeram a transição para a democracia e muito mais democracias (quase todas elas iliberais) ruíram. Muitas democracias liberais perderam qualidade, e ao menos uma (a Hungria) deixou completamente de ser uma democracia. Muitas democracias eleitorais (como o Peru) estão por um fio; a única democracia árabe (a Tunísia) sofreu um golpe de Estado do Poder Executivo; e a maioria das democracias africanas promissoras (como Gana) têm discretamente se deteriorado sob o peso do aumento da corrupção e do descontentamento popular. Vários regimes autoritários competitivos (Camboja, Nicarágua e Uganda) já quase não são competitivos, e os regimes mais autoritários (como China e Rússia, mas também Egito, Irã e Arábia Saudita) estão ainda mais autoritários. Por fim, em vez de manter a vitalidade e a autoconfiança, algumas das principais democracias liberais (de maneira mais preocupante, os Estados Unidos) têm trilhado um caminho em direção à polarização e decadência.
Por uma década, a recessão democrática foi suficientemente sutil, incremental e incerta para que se debatesse se estava de fato acontecendo (18). Mas, com o passar dos anos, ficou mais difícil de negar a tendência autoritária. Para cada um dos últimos quinze anos, muito mais países viram seus níveis de liberdade declinarem do que aumentarem (revertendo o padrão dos primeiros quinze anos pós-Guerra Fria). Pelas minhas contas, a proporção de Estados (com populações acima de um milhão) que são democracias atingiu o pico de 57% em 2006 e vem diminuindo desde então, caindo para menos da metade (48%) em 2019 pela primeira vez desde 1993 (19). A cada avaliação anual do estado da democracia no mundo há um novo alerta de espiral declinante, como nos títulos da mais recente pesquisa da Freedom House, “Democracy Under Siege” [democracia sitiada] (20), e o relatório do projeto Variedades de Democracia (V-Dem), “Autocratization Turns Viral” [a autocratização viralizou] (21). O Índice de Democracia de 2020 da Economist Intelligence Unit concluiu que, sob pressão da pandemia do novo coronavírus, os níveis de democracia declinaram em quase 70% dos países analisados, enquanto “a média global caiu para seu nível mais baixo desde que o índice começou a ser medido, em 2006” (22).
Entramos recentemente em uma fase mais sinistra de recessão democrática, que evoca as ondas reversas de Huntington. Mais preocupante que os números agregados são as tendências qualitativas e onde elas estão acontecendo. A democracia mais populosa do mundo, a Índia, está vivendo uma agressão difusa aos princípios normativos e constitucionais da democracia liberal: o pluralismo político e intelectual; a tolerância a minorias étnicas e religiosas; a independência do Judiciário e o profissionalismo burocrático; e a liberdade de imprensa e da sociedade civil. O governo do primeiro-ministro Narendra Modi está seguindo uma trajetória assustadoramente familiar àqueles que assistiram à destruição gradual da democracia em países como Turquia, e devido ao tamanho da economia da Índia e sua importância estratégica vital como contrapeso à China, nenhuma grande democracia ousa denunciá-la. As outras democracias grandes e influentes do Sul global também enfrentam problemas, graças a líderes populistas autoritários (no Brasil e no México) ou instituições fracas e crescente tensão social (na África do Sul e na Indonésia). As Filipinas podem eleger como presidente no próximo ano o filho do último ditador, Ferdinando Marcos, e talvez então completar seu retrocesso autocrático.
Quem vem alimentando esse retrocesso democrático mundial é o contínuo e chocante declínio da democracia nos Estados Unidos, que a Economist Intelligence Unit classifica como “democracia imperfeita”. Os problemas democráticos da Europa Ocidental foram alimentados pelo declínio da clareza programática, da criatividade e da responsividade dos principais partidos políticos. Afetada por muitas das mesmas tensões subjacentes — turbulência econômica, aumento da desigualdade, pressões migratórias, divisões de identidade e a inflamação explosiva de tudo isso pelas redes sociais —, a democracia americana vem se deteriorando de uma maneira diferente. A polarização partidária, habilmente explorada por forças demagógicas, vem seguindo a mesmo espiral descendente que minou a democracia na Hungria, Polônia, Turquia e Venezuela. Como explicam Jennifer Mc-Coy e Murat Somer, forças sociais e estratégias políticas polarizantes produzem uma clivagem social profunda, uma lógica intergrupo de “nós contra eles”, e o colapso de laços sociais transversais, que Seymour Martin Lipset e muitos outros acadêmicos viam como cruciais para a saúde da democracia (23). À medida que se solidificam a lealdade e a interação intragrupo, a tolerância e o respeito mútuos dão lugar à desconfiança, estereotipagem, preconceito e inimizade entre membros de campos políticos profundamente hostis. Cada lado passa a enxergar o outro como uma ameaça existencial, tensionando e logo rompendo o respeito por normas e regras democráticas (24). O problema é agravado, argumenta William Galston, por tensões arraigadas na natureza da democracia liberal que a torna vulnerável a reafirmações do nacionalismo e do tradicionalismo. “O individualismo dá origem ao desejo por comunidades mais densas. O igualitarismo luta contra o desejo por status e diferenciação. […] A diversidade produz o desejo por união; a negociação maçante, por uma liderança rápida e decisiva” (25).
Não é apenas o comportamento político que deixou os Estados Unidos à beira da crise constitucional. Uma crescente proporção de americanos de ambos os espectros políticos expressa atitudes e percepções que são um sinal de perigo para a democracia. O consenso político em grande medida desapareceu. Uma pesquisa de opinião do Pew Research Center de outubro de 2020 concluiu que “aproximadamente oito em dez eleitores de ambos os lados do espectro político disseram que suas diferenças com o outro lado eram sobre valores fundamentais americanos, e quase nove em dez — novamente, de ambos os lados do espectro político — temiam que uma vitória do outro lado causaria um ‘dano prolongado’ aos Estados Unidos” (26). Uma pesquisa de fevereiro de 2021 mostrou profundas divisões partidárias sobre a legitimidade da última eleição presidencial, com a maioria dos republicanos, mas poucos democratas, acreditando que houve fraude eleitoral generalizada. Quase três a cada dez americanos (29%), e 39% dos republicanos, estavam dispostos a apoiar “ações violentas” do “próprio povo” para “proteger a América” caso os líderes eleitos não o fizessem (27).
Um número crescente de políticos e representantes eleitos nos Estados Unidos tem se mostrado disposto a infringir ou abandonar normas democráticas na busca da conquista ou manutenção do poder — e, para a manutenção do poder, a barricar o partido nele como uma espécie de direito permanente, por meio de restrições ao direito de voto, politização das instituições eleitorais e um desenho de distrito eleitoral (gerrymandering) cada vez mais audacioso e científico, na busca de impedir a alternância de poder. Mesmo na sequência da invasão de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, a maioria dos americanos ainda não se deu conta do quão longe o país se desviou dos elementos mínimos do consenso normativo e comportamental que sustenta a democracia, o que Robert A. Dahl chamou de “sistema de segurança mútua”, no qual forças políticas concorrentes se comprometem a tolerar o outro e jogar pacificamente dentro das regras do jogo democrático (28). Todos os principais estudiosos da democracia reconhecem a importância fundamental em uma democracia de que os adversários: 1) aceitem a legitimidade de seus rivais políticos, e seu direito de concorrer; 2) acreditem que seus rivais não tentarão eliminá-los se chegarem ao poder; e 3) aceitem as consequências de eleições justas. Tudo isso exige, como observam Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, não apenas uma “tolerância mútua”, mas também “temperança” política — comedimento no exercício do poder, rejeição da violência e respeito pelas regras e limites não escritos da democracia (29). À medida que essas duas importantes normas começaram a se desintegrar, a democracia nos Estados Unidos começou a se desconsolidar e corre o risco de ruir na próxima eleição presidencial.
Autoritarismo ressurgente
Como observou meu coeditor de longa data, Marc Plattner, em nossa edição de 30º aniversário, “estamos reaprendendo a lição de que a geopolítica importa profundamente para o destino da democracia” (30). Não é coincidência que o auge da expansão democrática — a década de 1990 — também foi o que Charles Krauthammer chamou de “o momento unipolar”, quando os Estados Unidos estavam “no centro do poder mundial” como “a superpotência inconteste […] seguida de seus aliados ocidentais” (31). Já durante o fim da década de 1970 e especialmente na de 1980, o poder e a determinação dos Estados Unidos de defender os direitos humanos e promover a democracia ofereciam esperança e ajuda a movimentos por mudança democrática, ao mesmo tempo em que conduziam autocratas em apuros para fora do poder. Então, o colapso da União Soviética e a ausência de outras autocracias poderosas permitiram que os Estados Unidos, importantes aliados democráticos europeus e a União Europeia apoiassem e encorajassem mudanças democráticas em uma escala sem precedentes. Forças democráticas ao redor do mundo sentiram-se encorajadas, moralmente abraçadas e materialmente apoiadas. Autocratas que dependiam de apoio financeiro e diplomático foram pressionados a abrir o regime, planejar sua saída do poder ou afastar-se ao perder as eleições.
Krauthammer previa que o momento unipolar se estenderia por décadas. Ele durou pouco mais de uma década. O primeiro golpe à supremacia democrática global dos Estados Unidos foi a extensão irresponsável do poder americano na invasão do Iraque em 2003, que manchou a própria ideia de promoção da democracia. O segundo foi a crise financeira de 2008, gerada por cobiça e má gestão na indústria de empréstimos hipotecários subprime e políticas regulatórias falhas. Quando a crise financeira americana se tornou global, a reputação da democracia mais poderosa do mundo foi ainda mais abalada. Preocupado com a crise e dividido entre seu profundo comprometimento filosófico com os direitos humanos e seu instintivo pragmatismo, o novo presidente americano, Barack Obama, trilhou um meio-termo que trouxe apenas uma “revitalização parcial” do papel americano na promoção da democracia. Embora tenha continuado a apoiá-la, lançado a Parceria para Governo Aberto contra a corrupção, trabalhado para desincentivar o retrocesso democrático e em algumas ocasiões pressionado por mudanças democráticas, os Estados Unidos já não encabeçavam um esforço para fazer com que ditaduras de democratizassem. A era da liderança americana para moldar um mundo mais democrático havia terminado (32).
Dois fatores estruturais limitaram os planos de Obama — e dos Estados Unidos — de promover a democracia. Um foi o aprofundamento da polarização da política americana, que reduziu ainda mais o apelo dos Estados Unidos enquanto modelo de democracia (e ainda mais nos anos seguintes). E o segundo foi o reaparecimento global do autoritarismo: o crescente poder da China, o ressurgimento do poder agressivo e ressentido da Rússia, o sagaz aprendizado e adaptação de muitas autocracias e sua crescente colaboração em redes interconectadas e em iniciativas que desafiavam as normas (33).
Nenhum acontecimento global do século 20 foi mais danoso à causa da liberdade do que a emergência da República Popular da China (RPC) enquanto a próxima superpotência mundial, com a mais rápida expansão militar, uma estrutura mundial de propaganda e um programa de desenvolvimento de infraestrutura global — a Nova Rota da Seda — que já investiu mais de 200 bilhões de dólares em portos, ferrovias, rodovias, linhas de transmissão e afins em mais de sessenta países, que representam a maioria da população mundial. A China ultrapassou os Estados Unidos como maior parceiro comercial da Europa, do Sudeste Asiático, do Oriente Médio e da África. A China lidera quatro das quinze agências especializadas da ONU e, em cooperação com a Rússia e com outros regimes autoritários, está trabalhando vigorosamente para enfraquecer normas de direitos humanos e a participação da sociedade civil democrática em instituições globais, como a ONU e seu Conselho de Direitos Humanos, enquanto busca construir novas regras globais para tornar o mundo um lugar seguro para autocratas, a cleptocracia e a repressão digital. Atualmente, a China está desenvolvendo a primeira moeda digital emitida por um importante banco central do mundo, numa aposta para disputar a supremacia do dólar e enfraquecer a capacidade dos Estados Unidos de impor sanções financeiras a quem viola normas internacionais.
À medida que aumenta seu peso geopolítico e recursos, a China está empregando táticas clássicas de “frente unida” do Partido Comunista para penetrar e cooptar o tecido mole da democracia — universidades, think tanks, centros de pesquisa, imprensa, as artes, empresas, organizações da sociedade civil, partidos políticos e governos locais. Os três principais objetivos desse vasto aparato são: 1) roubar e se apropriar da tecnologia ocidental em uma corrida por dominância econômica e militar global; 2) controlar a narrativa sobre a China censurando e intimidando críticos de suas violações dos direitos humanos e beligerância externa, enquanto promove uma visão positiva do regime; e 3) mobilizar parceiros e aliados da frente unida (com ou sem seu conhecimento) para aceitar em vez de resistir às pretensões hegemônicas da China, e fazer lobby junto a seus governos por políticas que acelerem essa mudança sísmica no poder global.
Abandonando a máxima de Deng Xiaoping de “esconder sua força e dar tempo ao tempo”, a China sob seu líder ditatorial, Xi Jinping, vem desenvolvendo uma conduta cada vez mais arrojada e belicosa em sua região e além. Reivindicou soberania sobre todo o Mar do Sul da China, rico em recursos e estrategicamente vital, e reforçou essa alegação dragando e militarizando novas ilhas, colocando seus navios em águas disputadas, invadindo a pesca e outros direitos marítimos de seus vizinhos e lançando retóricas e investidas militares cada vez mais frequentes e ameaçadoras contra Taiwan. Tais ações, e a ampla projeção de sharp power da China na região e globalmente, tiveram um custo. O Diálogo Quadrilateral sobre Segurança entre Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão começou a desenvolver uma resposta coordenada, e Japão e Austrália em especial estão aumentando sua postura e vigilância de defesa. Globalmente, a opinião pública em favor da China diminuiu em reação às suas adulações e intimidações. Mas, precisamente pelo sharp power ser dissimulado e corrupto, muitas das elites governantes ao redor do mundo estão muito animadas em aceitar a barganha, e autocratas de Estados fracos em particular agradecem o apoio de uma superpotência autoritária para neutralizar e reduzir a pressão vinda de democracias ocidentais. A autocracia e a cleptocracia tornaram-se companheiras inseparáveis em uma campanha global para comprometer a soberania, saquear a riqueza nacional, eviscerar o Estado de direito, suprimir a oposição e enfraquecer as democracias avançadas lavando dinheiro ilícito e limpando a reputação dos saqueadores. Inúmeras empresas, consultorias, escritórios de advocacia e empresas de segurança e de vigilância privada do Ocidente tornaram-se profundamente implicadas nesse comércio global maligno, que aumentou enormemente a capacidade de repressão, alcance de retaliação e autoconfiança das autocracias do mundo (34).
Nenhum país testemunhou mais a união entre a autocracia e a cleptocracia em uma escala mais assombrosa do que a Rússia, onde um governante cada vez mais temível e despótico, há mais de duas décadas no poder, acumulou uma das maiores fortunas pessoais do planeta. O Estado mafioso do Kremlin ameaça seriamente o Estado de direito e a integridade da governança na Europa e nos Estados Unidos. Mas ainda maior é o dano que as profundas projeções digitais, financeiras e políticas de sharp power da Rússia vêm causando repetidas vezes a Estados vizinhos como a Geórgia, a Ucrânia e a Moldávia, bem como a democracias ocidentais por meio da manipulação e desinformação nas redes sociais e o apoio financeiro para atores da extrema direita. Esses esforços cada vez mais bem financiados e tecnicamente sofisticados seriam alarmantes o bastante, mas a Rússia também tem revivido e modernizado seu exército. Ela já empregou força militar para anexar a Crimeia, uma parte estratégica da Ucrânia, enquanto trava uma guerra de anos na região oriental de Donbas, na Ucrânia, para desestabilizar a democracia do país e dissuadi-la de formar uma aliança mais estreita com o Ocidente.
Embora difiram de maneira significativa em relação ao sistema político, capacidade econômica e poder global, os regimes chinês e russo compartilham importantes características e interesse. Ambos se tornaram dramaticamente mais repressivos na última década, com a China se transformando em um Estado neototalitário de vigilância e a Rússia em um sistema de punição vingativa e pervasiva de opositores e dissidentes políticos. Ambos os sistemas têm se tornado cada vez mais dominados por um único governante que, sentindo-se inseguro no poder, endurece a repressão e alimenta o nacionalismo para ampliar o controle doméstico. Ambos os regimes se sentem ameaçados pelo exemplo de democracias vizinhas — Taiwan no caso da China, e a Ucrânia no caso da Rússia —, que compartilha em grande medida sua língua e cultura e poderia inspirar seus cidadãos a querer que o sistema político de seu país seguisse o modelo vizinho de liberdade e pluralismo. Cada autocracia está, portanto, determinada a subverter a democracia vizinha antes que seja subvertida por ela. Ambos os líderes — e sistemas — possuem desprezo pelo Ocidente e estão determinados a derrubar a ordem democrática liberal, que detestam. E ambos acreditam que os Estados Unidos e, mais amplamente, as democracias ocidentais são fracas e irresolutas e, portanto, podem ser comprometidas, testadas e um dia confrontadas com sucesso. De maneira separada e junta, a China e a Rússia vêm desenvolvendo redes de conluio autoritário e se esforçam para refazer o equilíbrio global de poder.
Estamos nos aproximando de uma conjuntura bastante perigosa. Há uma possibilidade real de que a China venha a empregar força militar (se não uma invasão, então um bloqueio, um ciberataque massivo, ou uma campanha progressiva de guerra híbrida) para tentar compelir Taiwan a se “reunificar com sua terra natal” e abdicar de sua notável democracia. Também existe a preocupante possibilidade de que a Rússia promova um ataque militar mais explícito e massivo para subjugar a Ucrânia. Qualquer um desses eventos poderia acontecer não em algum cenário novelístico, de próxima geração, mas nos próximos anos, e a ocorrência de um deles poderia, de maneira oportunista, estimular a ocorrência do outro. Por este motivo, Taiwan e Ucrânia representam as linhas de frente da luta para a defesa da liberdade no mundo. A morte de qualquer uma dessas democracias por meio de agressão por um vizinho mais poderoso poderia representar um ponto crítico na história, de maneira muito mais semelhante à invasão nazista da Tchecoslováquia do que às disputas da Guerra Fria. Por várias décadas, nos acostumamos a pensar na luta pela liberdade como algo puramente político e cívico. Mas, infelizmente, como na década de 1930, o perigo real e imediato possui um elemento importante de ameaça militar, para o qual nem as duas democracias em disputa nem as democracias liberais mais poderosas do mundo estão adequadamente preparadas, psicologicamente, militarmente ou em termos da segurança de suas cadeias de suprimentos.
Poder e legitimidade
A solução mais eficiente para a crise da democracia que se acumula globalmente seria a democratização de seus dois maiores adversários, a Rússia e, em especial, a China. O fracasso da nascente democracia russa na década de 1990 não estava predestinado. Como explicou recentemente nestas páginas Michael McFaul, a escolha de um sucessor para Boris Yeltsin foi difícil. “Um colapso financeiro global derrubou a frágil economia da Rússia em agosto de 1998” e, com ela, os reformistas liberalizantes liderados pelo vice-primeiro-ministro Boris Nemtsov. Na ausência desse acontecimento, da saúde declinante de Yeltsin e alguns outros elementos do acaso, é possível imaginar um cenário diferente, no qual Nemtsov poderia ter sucedido Yeltsin e uma democracia imperfeita, porém real, poderia ter gradualmente se instalado (35). A ditadura de Putin pode parecer cruel e inatacável agora, mas a confiança do público em sua liderança está em declínio, e a autoconfiança do regime parece estar em baixa.
Em contraste, o regime comunista da China parecia um rolo compressor de sucesso econômico e controle eficiente desde o massacre da Praça da Paz Celestial em 1989. Mas o regime enfrenta múltiplos dilemas. Sua taxa de crescimento econômico desacelerou para provavelmente 4% ou menos. O setor imobiliário está desastrosamente superalavancado e em crise. Como observaram recentemente Hal Brands e Michael Beckley, “empresas-zumbi estatais estão sendo sustentadas enquanto falta capital às empresas privadas”. Para permanecerem economicamente inovadoras e dinâmicas, o regime precisa incentivar empresas privadas e investimentos, mas está lutando contra suas maiores empresas de tecnologia (bem como outros empreendedores) porque o Partido Comunista da China (PCC) é geneticamente incapaz de tolerar qualquer um que rivalize com seu poder. Por ter “destruído seus próprios recursos naturais”, escrevem Brands e Beckley, a China está ficando sem água e “está importando mais energia e comida do que qualquer outra nação”. Consequentemente, é três vezes mais custoso para a China produzir uma unidade de crescimento hoje do que era no início da década de 2000. O custo da mão de obra e as pressões fiscais devem aumentar com o rápido envelhecimento da população chinesa, o que irá reduzir a população em idade de trabalho em 200 milhões ao longo das próximas três décadas, enquanto o número de cidadãos idosos crescerá de maneira similar (36). Essas contradições poderiam transformar o milagre econômico da China em um período prolongado de estagnação no estilo soviético. Mas antes que isso pudesse trazer consigo o colapso do comunismo e a possibilidade de transformação democrática, Brands e Beckley temem que isso possa gerar pânico estratégico — uma conclusão de que o tempo não está do lado do regime, e que (como a Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial e o Japão antes de Pearl Harbor) o PCC precisa atacar militarmente em breve, antes que seu poder se esvaia.
Duas décadas atrás, era possível imaginar que o rápido desenvolvimento da China gerasse uma pressão por mudança democrática. Em 2007, o economista Henry S. Rowen previu que a rápida modernização econômica da China a tornaria um Estado “parcialmente livre” até 2015 e um Estado “livre” até 2025 (37). A pesquisa Barômetro Asiático também descobriu fortes evidências de que os valores estão mudando na China para uma direção mais liberal, em particular entre os mais jovens. Entretanto, essa fé no poder da modernização para liberalizar a China (pela qual eu também me deixei seduzir) até aqui mostrou-se imerecida. Antes do ensaio de Rowen (e desde então), o Journal publicou muitos outros que previam um progresso ao menos incremental em direção a uma sociedade civil mais forte e um Estado mais tecnocrático e baseado em leis, ou que a corrupção e o governo irresponsável produziriam uma crise que poderia abrir caminho para a democracia (38). Em vez disso, a análise de Andrew Nathan de 2003 sobre a “resiliência autoritária” tem sido mais certeira. Mas a avaliação de Nathan presumia uma contínua institucionalização do comando do PCC por meio de sucessões regulares e regidas por regras, aumento da meritocracia e da especialização burocrática e uma ampliação de canais de participação em massa (39). Poucos anteviram a emergência de um governante neototalitário como Xi Jinping, que poderia eliminar restrições institucionais a seu poder, intensificar o controle do Estado sobre as massas e extinguir qualquer traço de liberalização política. Desde cedo, Xiao Qiang, o fundador do China Digital Times, revelou as maneiras pelas quais os internautas chineses estavam contornando e até mesmo ridicularizando a autoridade governamental. Mas a censura, manipulação e controle digital fizeram do pluralismo cívico online em grande medida uma ilusão com a ajuda de um sistema cada vez mais omnisciente e integrado de vigilância e controle digital, alimentado por rápidos progressos em inteligência artificial, o PCC de Xi tem desafiado as previsões.
Entramos novamente em um período de confrontação histórica entre duas diferentes formas de governo — uma baseada no poder, a outra na legitimidade. Regimes baseados em poder contam com o apoio e ajuda uns dos outros, bem como de redes compartilhadas de corrupção e tecnologias de controle, mas a maioria enfrenta perspectivas econômicas desanimadoras. Vigilância e repressão são caras e a tirania cleptocrática drena a economia e atrofia o Estado para além de seu núcleo repressivo. Como a Venezuela e o Zimbábue descobriram, essa é uma fórmula para a decadência e, em última análise, fracasso do Estado, a não ser que os grupos no poder possuam recursos naturais a explorar ou (como no caso da Coreia do Norte e da Síria) possam operar como um sindicato do crime organizado global. Onde autocratas como Recep Tayyip Erdogan na Turquia e Viktor Orban na Hungria dependem de eleições para se legitimar e renovar seu governo, as consequências econômicas da má governança serão sua ruína. Esse é um dilema que o primeiro-ministro populista da Índia, Narendra Modi, terá que enfrentar se continuar pelo atual caminho iliberal.
Mas as ditaduras na Rússia e na China poderiam destruir a paz mundial antes de destruírem a si mesmas. Ao encarar as profundas contradições de seus modelos estupidificantes, os governantes autoritários da Rússia e da China verão sua legitimidade minguar. Se não quiserem abraçar a reforma política — uma hipótese que os apavora, dado o destino de Gorbatchov —, eles terão que se apoiar cada vez mais no exercício puro do poder em casa e no exterior para se preservar no poder. Isso pode levá-los para um caminho fascista, no qual a repressão implacável do pluralismo interno torna-se inseparavelmente ligada ao ultranacionalismo, expansionismo e intensa hostilidade ideológica a todos os valores e rivais liberais e democráticos. Tanto na China quanto na Rússia, a campanha de intolerância e assédio contra a comunidade LGBT e qualquer desvio dos papeis tradicionais de gênero reflete a maré alta da rejeição chauvinista da “influência ocidental” e é o outro lado da crescente ameaça que esses regimes oferecem à segurança e paz regional e, em última medida, global.
Este é o momento mais sombrio para a liberdade em meio século. Tenho fé nas perspectivas de longo prazo da democracia, porque é um sistema moralmente superior e porque provou ao longo do tempo ser mais efetivo em atender as necessidades humanas, crescer as economias, proteger o meio ambiente, respeitar os direitos humanos e controlar a corrupção (40). Além disso, faz parte da natureza humana buscar a autonomia pessoal, dignidade e autodeterminação e, com o desenvolvimento econômico, esses valores tornam-se ascendentes (41). Mas não há nada de inevitável quanto ao triunfo da democracia. Nessa nova era, as estratégias e escolhas de Estados e líderes democráticos terão consequências que reverberarão por décadas. Serão as democracias do mundo capazes de gerir suas divisões e reunir sua determinação de encarar o desafio colocado pelo autoritarismo ressurgente? Antonio Gramsci dizia: “pessimismo da razão, otimismo da vontade”. Apenas um reconhecimento lúcido da profundidade do perigo atual será capaz de produzir a vontade necessária.
Continuo otimista.
Notas
1. Samuel P. Huntington, “Democracy’s Third Wave”. Journal of Democracy, v. 2, n. 2 (primavera 1991), pp. 12-34; e Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991) [Ed. bras.: A terceira onda. São Paulo: Ática, 1994.].
2. Marc F. Plattner, “The Democratic Moment”. Journal of Democracy, v. 2, n. 4 (outono 1991), p. 38.
3. Claude Ake, “Rethinking African Democracy”. Journal of Democracy, v. 2, n. 1 (inverno 1991), pp. 32-44; e Mario Vargas Llosa, “The Culture of Liberty”. Journal of Democracy, v. 2, n. 4 (outono 1991), pp. 25-33.
4. Amartya Sen, “Democracy as a Universal Value”. Journal of Democracy, v. 10, n. 3 (jul. 1999), citado nas pp. 6 e 10.
5. Juan J. Linz & Alfred Stepan, “Political Crafting of Democratic Consolidation or Destruction: European and South American Comparisons”. In: Robert A. Pastor (Org.), Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum. Nova York: Holmes and Meier, 1989, p. 47.
6. O Journal publicou inúmeros artigos do Afrobarômetro, Barômetro Árabe, Barômetro Asiático, Latinobarômetro e outros mostrando um apoio global mais amplo à democracia do que céticos culturais imaginavam. Muitos desses ensaios foram compilados em Larry Diamond & Marc F. Plattner (Orgs.), How People View Democracy (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008).
7. Juan J. Linz & Alfred Stepan, “Toward Consolidated Democracies”. Journal of Democracy, v. 7, n. 2 (abr. 1996), p. 15; e Linz & Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996), pp. 67-69.
8. Essas citações foram extraídas de Guillermo O’Donnell, “The Quality of Democracy: Why the Rule of Law Matters”. Journal of Democracy, v. 15, n. 4 (out. 2004), p. 41, mas a ideia originou-se em seu ensaio “On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Postcommunist Countries”. World Development, v. 21, n. 8 (ago. 1993), pp. 1355-69.
9. Larry Diamond, “Democracy in Latin America: Degrees, Illusions, and Directions for Consolidation”. In: Tom Farer (Org.), Beyond Sovereignty: Collectively Defending Democracy in the Americas. Baltimore: John Hopkins University Press, 1996, pp. 73-74. Ver também Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), pp. 64-117, especialmente pp. 74-5.
10. Francis Fukuyama, “Why is Democracy Performing So Poorly?”. Journal of Democracy, v. 26, n. 1 (jan. 2015): pp. 11-20. [Ed. bras.: “Por que o desempenho da democracia tem sido tão ruim?”. Journal of Democracy em português, v. 4, n. 2, 2015. Disponível em: <http://plataformademocratica.org/publicacoes#JournalDemocracy>.]
11. Andreas Schedler, “Restraining the State: Conflicts and Agents of Accountability”. In: Schedler, Larry Diamond, & Marc F. Plattner (Orgs.), The Self–Restraining State: Power and Accountability in New Democracies. Boulder, Colorado, EUA: Lynne Rienner, 1999; e Alina Mungiu-Pippidi, “The Quest for Good Government: Learning from Virtuous Circles”. Journal of Democracy, v. 27, n. 1 (jan. 2016), pp. 95-109.
12. Kathryn Stoner et al., “Transitional Successes and Failures: The Domestic-International Nexus”. In: Kathryn Stoner & Michael McFaul (Orgs.), Transitions to Democracy: A Comparative Perspective. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.
13. Robert D. Putnam, “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”. Journal of Democracy, v. 6, n. 1 (jan. 1995), pp. 65-78.
14. Larry Diamond, Juan J. Linz, & Seymour Martin Lipset, “What Makes for Democracy?”. In: Diamond, Linz, & Lipset (Orgs.), Politics in Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy, 2ª ed. Boulder, Colorado, EUA: Lynne Rienner, 1995.
15. Larry Diamond, “Is the Third Wave Over?”. Journal of Democracy, v. 7, n. 3 (jul. 1996), pp. 20-37, citado nas pp. 33 e 35.
16. Larry Diamond, “Is Pakistan the (Reverse) Wave of the Future?”. Journal of Democracy, v. 11, n. 3 (jul. 2000), pp. 91-106.
17. Para duas visões mais amplas, ver Larry Diamond, Ill Winds: Saving Democracy from Russia Rage, Chinese Ambition, and American Complacency (Nova York: Penguin, 2019), e Stephan Haggard & Robert Kaufman, “The Anatomy of Democratic Backsliding”. Journal of Democracy, v. 32, n. 4 (out. 2021), pp. 26-41.
18. Ver os ensaios sob o título “Is Democracy in Decline?” no Journal of Democracy, v. 26, n. 1 (jan. 2015), e comparar especialmente com Larry Diamond, “Facing Up to the Democratic Recession” (pp. 141-155) e Steven Levitsky & Lucan Way, “The Myth of Democratic Recession” (pp. 45-58).
19. Larry Diamond, “Breaking Out of the Democratic Slump”. Journal of Democracy, v. 31, n. 1 (jan. 2020), pp. 36-50, & Diamond, “Democratic Regression in Comparative Perspective: Scope, Methods, and Causes”. Democratization, v. 28, n. 1 (jan. 2021), pp. 22-42.
20. Freedom House, Freedom in the World 2021; e Sarah Repucci & Amy Slipowitz, “The Freedom House Survey for 2020: Democracy in a Year of Crisis”. Journal of Democracy, v. 32, n. 2 (abr. 2021), pp. 45-60.
21. V-Dem Institute, Democracy Report 2021. Disponível em: <www.v-dem. net/media/filer_public/74/8c/748c68ad-f224-4cd7-87f9-8794add5c60f/dr_2021_ updated.pdf>.
22. Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2020: In Sickness and In Health?”. Disponível em: <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy- index-2020>.
23. Seymour Martin Lipset, Political Man: The Social Bases of Politics, edição expandida. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981, pp. 77-78.
24. Jennifer McCoy & Murat Somer, “Mainstream Parties in Crisis: Overcoming Polarization”. Journal of Democracy, v. 32, n. 1 (jan. 2021), pp. 9-11 [Ed. bras.: “A crise dos partidos tradicionais: superando a polarização”. Journal of Democracy em português, v. 10, n. 1, 2021. Disponível em: <http://plataformademocratica. org/publicacoes#JournalDemocracy>]; e McCoy & Somer, “Toward a Theory of Pernicious Polarization and How It Harms Democracies”. Annals of the American Academy of Political and Social Science, v. 681, n. 1 (jan. 2019), pp. 234-71.
25. William A. Galston,“The Enduring Vulnerability of Liberal Democracy”. Journal of Democracy, v. 31, n. 3 (jul. 2020), p. 23. [Ed. bras.: “A persistente vulnerabilidade da democracia liberal”. Journal of Democracy em português, v. 9, n. 2, 2020. Disponível aqui.
26. Michael Dimock & Richard Wike, “America Is Exceptional in the Nature of Its Political Divide”. Pew Research Center, 13 nov. 2020. Disponível em: <www. pewresearch.org/facttank/2020/11/13/america-is-exceptional-in-the-nature-of-its- political-divide>.
27. Daniel A. Cox, “After the Ballots Are Counted: Conspiracies, Political Violence, and American Exceptionalism”. Survey Center on American Life, 11 fev. 2021. Disponível em: <www.americansurveycenter.org/research/after-the-ballots- are-counted-conspiracies-political-violence-and-american-exceptionalism>.
28. Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press, 1971. [Ed. bras.: Poliarquia: participação e oposição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.]
29. Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, How Democracies Die. Nova York: Crown, 2018, pp. 97-117. [Ed. bras.: Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.]
30. Marc F. Plattner, “Democracy Embattled”. Journal of Democracy, v. 31, n. 1 (jan. 2020), p. 8.
31. Charles Krauthammer, “The Unipolar Moment”. Foreign Affairs, v. 70, n. 1 (1991), p. 23.
32. Thomas Carothers, Democracy Policy Under Obama: Revitalization or Retreat? Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2012.
33. William J. Dobson, The Dictator’s Learning Curve: Inside the Global Battle for Democracy. Nova York: Doubleday, 2012; Alexander Cooley, “Authoritarianism Goes Global: Countering Democratic Norms”. Journal of Democracy, v. 26, n. 3 (jul. 2015), pp. 49-63; e Larry Diamond, Marc F. Plattner, & Christopher Walker (Orgs.), Authoritarianism Goes Global: The Challenge to Democracy (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016).
34 Ronald Deibert, Reset: Reclaiming the Internet for Civil Society. Toronto: House of Anansi, 2020; Deibert, “Digital Subversion: The Threat to Democracy”. Lipset Lecture, National Endowment for Democracy, 1 dez. 2020; e Anne Applebaum, “The Autocrats Are Winning”. Atlantic (dez. 2021), pp. 44-54.
35. Michael McFaul, “Russia’s Road to Autocracy”. Journal of Democracy, v. 32, n. 4 (out. 2021), p. 17 (e ver a discussão completa sobre fracasso democrático, pp. 15-19).
36. Hal Brands & Michael Beckley, “China Is a Declining Power—and That’s the Problem”. Foreign Policy, 24 set. 2021.
37. Henry S. Rowen, “When Will the Chinese People Be Free?”. Journal of Democracy, v. 18, n. 3 (jul. 2007), pp. 38-52.
38. Todos esses ensaios do Journal of Democracy, incluindo os citados neste parágrafo, foram compilados em Andrew J. Nathan, Larry Diamond, & Marc F. Plattner (Orgs.), Will China Democratize? (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013).
39. Andrew J. Nathan, “China’s Changing of the Guard: Authoritarian Resilience”. Journal of Democracy, v. 14, n. 1 (jan. 2003), pp. 6-17.
40. Ver o projeto do V-Dem “The Case for Democracy”. Disponível em: <https:// www.v-dem.net/en/our-work/research-projects/case-democracy>.
41. Christian Welzel & Ronald Inglehart, “The Role of Ordinary People in Democratization”. Journal of Democracy, v. 19, n. 1 (jan. 2008), pp. 126-40; Welzel, “Why the Future Is Democratic”. Journal of Democracy, v. 32, n. 2 (abr. 2021), pp. 132-44.