Estas notas foram extraídas de um livro que publiquei, em 2007, para um programa de formação política que foi frequentado por centenas de pessoas no Paraná. Cf. FRANCO, Augusto. Alfabetização democrática. Curitiba: FIEP – Rede de Participação Política do Empresariado, 2007 (disponível apenas em papel, mas parece que a edição está esgotada). Para ler a primeira parte clique aqui. Para ler a segunda parte clique aqui. Para ler a terceira parte clique aqui.
4 – A PRESENÇA DA VELHA POLÍTICA NA VIDA SOCIAL
Ocorre que a velha política não está presente somente no Estado – nos parlamentos e nos governos – mas incide em outros tipos de agenciamento, inclusive em empresas e organizações da sociedade civil.
Na sociedade civil, ainda estão encharcados da velha política os partidos (que, na verdade, são organizações pró-estatais ou proto-estatais, de vez que, constituindo vias de acesso ao Estado, decalcam sua estrutura e sua dinâmica) e as corporações. Ambos – partidos e corporações – são organizações coletivas, porém privadas: em sua origem, em sua forma de funcionamento e (conquanto afirmem o contrário) em suas finalidades.
O problema é que a velha política se faz presente também em outras formas de organização da sociedade civil, tanto naquelas de caráter privado (como um clube esportivo), quanto nas de caráter público (como uma ONG ambientalista). A velha política está presente na vida social, nas atividades políticas da sociedade e também nas atividades que, pelo menos explicitamente, não são políticas.
Examinemos, a seguir, a título de exemplo, um elenco de comportamentos característicos da velha política que incidem na vida de organizações, articulações e movimentos da sociedade.
Montar esquemas para levar gente acarreada para fazer maioria em plenárias deliberativas e ganhar votações. Eis aí uma velha prática, muito comum nos chamados movimentos sociais. Los acarreados, como dizem os mexicanos – que tiveram longa experiência de manipulação populista – são pessoas arrebanhadas, em geral em bairros pobres das grandes cidades ou em distritos da zona rural, para fazer número em assembleias populares em que há disputa de propostas ou escolha de representantes pelo voto majoritário.
Governos e chefes políticos, considerados de direita ou de esquerda, têm feito isso sistematicamente, não apenas para ganhar votações na base da sociedade, mas também para montar platéias de comícios.
Partidos que se dizem progressistas ou revolucionários também têm lançado mão desse tipo de manipulação em instituições ou programas que são proclamados (e amplamente propangadeados e “vendidos”) como democrático-participativos. Inclusive intelectuais, cujo pensamento foi deformado pela visão da política como relação amigo-inimigo, tecem loas a tais processos, achando a coisa mais natural do mundo transformar lideranças e participantes populares em massa de manobra para disputas que não têm nada a ver – pelo menos não diretamente – com sua vida individual ou com a vida coletiva das comunidades a que pertencem. Chega a ser deprimente o espetáculo de ver pessoas se digladiando em defesa de chapas que sustentam propostas (tomadas a priori como antagônicas) ou para a escolha de dirigentes ou delegados, em processos assembleísticos de deliberação e decisão pelo voto, quando poderiam, com um pouco de diálogo, chegar a consensos sobre o melhor caminho ou estabelecer mecanismos de rodízio de seus “representantes”. Aliás, todas essas organizações e processos baseados na votação para escolher representantes são processos de democracia representativa, informal, por certo, mas representativa e não participativa, como se declara (aliás, em franco atentado, antes de tudo ao dicionário e, depois, ao bom senso).
Organizar grupos ou tendências para fazer maioria e conquistar a direção de uma organização ou para aprovar suas propostas em algum fórum ou instância de decisão. Trata-se de outra prática da velha política, sobretudo da chamada esquerda, que decorre da escolha do caminho da votação como mecanismo único de decisão ou deliberação. Submeter sempre tudo à votação antes de tentar construir um consenso significa querer vencer sem esgotar a possibilidade de convencimento.
Mas impor de pronto a vontade majoritária não concorre, em princípio, para construir pactos a partir da conversação e da apreciação substantiva que valoriza a livre opinião do outro. Vencidos, mas não convencidos, os participantes arrumam, mais cedo ou mais tarde, um meio para “dar o troco”, quer organizando uma facção ou tendência, quer sabotando, de modo surdo ou explícito, a implantação da decisão tomada por maioria. Como ocorre na chamada “espiral da violência”, uma vitória que não convence gera resistência e necessidade de revanche.
Além disso, organizada uma tendência, entra-se em um caminho sem volta: outras tendências surgirão e o ambiente passará a ser regido pela lógica da disputa de grupos, dificultando o trânsito do pensamento e bloqueando as possibilidades de construção de pontos de vista comuns.
Articular as intervenções das pessoas de um grupo ou de uma tendência para tentar conduzir as decisões coletivas. Montar claques para aplaudir determinados pronunciamentos. Fazer alegações falsas ou empregar argumentos falaciosos apenas para vencer uma discussão ou levar vantagem em uma disputa. Aceitar usar a mentira como arma ou artifício para derrotar os adversários. Todas essas atitudes são conseqüências da prática comentada anteriormente. Quando a regra do jogo é vencer fazendo maioria, tudo deve ser articulado, engendrado, industriado, urdido para alcançar a vitória nesses termos. Como, segundo o pensamento que legitima tais procedimentos, tudo se justifica pela vitória (quem tem vitória tem sempre razão, pois que está expressando a vontade da maioria), então se trata não de construir a melhor proposta e sim de fazer valer a sua própria proposta contra às dos demais. E aqui já não bastam os acarreados, pois os adversários também “acarrearão” os seus.
É necessário preparar com antecedência as próprias forças para a disputa, ter um plano e elaborar um script para o confronto e ensaiá-lo até que os atores estejam prontos para desempenhar com eficácia os seus papéis. Essa linha de ação abrange o levantamento de recursos para trazer gente para os encontros (em alguns casos para corromper mesmo as pessoas, mudando seus votos em troca de dinheiro ou de alguma benesse ou favor), a elaboração de listas de oradores, a designação de pessoas que tentarão convencer ou neutralizar potenciais contingentes adversários por meio do chamado “recurso ou embargo auricular” (aquela conversinha de pé-de-ouvido), a escolha de pessoas que, em plenário, estarão encarregadas de contrariar um orador do próprio campo, dando-lhe a deixa retórica para aumentar a verossimilhança de seus argumentos, a organização de aplausos e vaias (que devem parecer espontâneas), e o uso instrumental da verdade (mentir com a verdade, como método) ou, simplesmente, mentir mesmo, descaradamente. Uma vez estabelecida a “lei de ferro” da maioria e a dinâmica de grupos que se digladiam para conquistar maioria, tudo se justifica: é o vale-tudo e a política é pervertida como “arte da guerra”.
A luta política requer sempre, em alguma medida, o exercício das atividades listadas anteriormente. Sim, a luta da velha política envolve sempre, em algum grau, as práticas anteriores. Isso não significa que a política que se pratica na sociedade esteja condenada a repetir, inexoravelmente, procedimentos como os que foram aqui descritos. Tudo isso depende da maneira como o sistema está arranjado, da sua estrutura e da sua dinâmica. Se, por exemplo, a votação não fosse estabelecida como modo principal de decisão e se a escolha de representantes (dirigentes ou delegados) fosse feita por sorteio, cairia por terra boa parte das práticas adversariais que foram aqui analisadas e criticadas. Por incrível que pareça, bastaria isso para desconstruir os esquemas de “acumulação de forças” (ou de ereção de estruturas de poder) transfundidos da velha política para organizações, articulações e movimentos da sociedade civil.
As práticas listadas anteriormente justificam-se sob o pretexto de que “faz parte do jogo” e de que “não podemos ser ingênuos: se nós não fizermos, outros farão (e nos derrotarão)”. Isso, todavia, leva à lógica daquele poder que só se mantém reproduzindo indefinidamente os mesmos comportamentos adversariais e excludentes, ou seja, daquele poder que significa expropriação da cidadania política alheia, daquele poder que implica criar obstáculos à participação do outro.
Submeter sempre tudo à votação antes de tentar construir um consenso significa querer vencer sem esgotar a possibilidade de convencimento. Tentar impor – por meios explícitos ou sutis – a própria vontade e usar a posição de poder conquistada para influir decisivamente no resultado dos processos de decisão constitui comportamentos inevitáveis dentro dessa “lógica”, segundo a qual o agente político é levado a achar que precisa ser o mais poderoso – ou ter mais poder do que já tem – e por isso deve buscar continuamente conquistar tal condição.
O sonho (às vezes não declarado) de todo político é subir a escada do poder. Alguns começam de baixo, mas almejando secretamente chegar ao topo. Às vezes sabem, racionalmente, que não terão chances de conquistar a presidência da República ou o governo de um estado importante ou de uma grande capital, mas ficam aguardando uma chance; quem sabe… se, como diz o ditado, “o cavalo passar encilhado” querem estar prontos para montá-lo. A política como profissão estabelece uma carreira, cuja trajetória básica (pelo menos a mais freqüentada) é mais ou menos assim (em países como o Brasil): o vereador deseja se tornar prefeito ou deputado estadual, o prefeito ou o deputado estadual almeja se tornar deputado federal, o deputado federal quer chegar a governador, o governador quer ser eleito senador, enquanto espera a oportunidade de voltar ao cargo anterior ou se candidatar à presidência da República. Com o estabelecimento da reeleição para cargos executivos majoritários, a fixação no poder (e o desejo de retê-lo) ficou ainda mais explícita. Eleito para o primeiro mandato, o governante, antes mesmo de tomar posse, pensa apenas em uma coisa: o que fazer para ser reeleito.
Bem, tudo isso também transborda da política institucional para as organizações e movimentos da sociedade civil que, via de regra, são utilizados como trampolim para o Estado. Uma rápida pesquisa poderia constatar que um número considerável de líderes, com visibilidade regional ou nacional, de organizações e movimentos da sociedade civil (sobretudo os de caráter corporativo ou reativo), acaba se candidatando a postos no Estado. Basta contar o número de sindicalistas que viraram parlamentares ou executivos estatais ou paraestatais. É óbvio que, ao proceder assim, tais lideranças estão desarmando a sociedade civil (privando-a de suas expressões arduamente construídas durante anos de trabalho) e usando instrumentalmente suas formas organizativas para alcançar posições de maior poder em outra esfera da realidade social, em seu próprio benefício ou de seu grupo (em geral as duas coisas). Na prática, portanto – para usar uma imagem criado pelo Betinho – a despeito do discurso de valorização da “planície” (a sociedade), o “planalto” (o Estado) é o alvo, o objetivo.
Independentemente desse fenômeno (que poderíamos chamar de “síndrome do trampolim”), a fixação e o apetite voraz pelo poder contaminam as organizações da sociedade que estão estruturadas piramidalmente com base na delegação de poder (escolha de representantes pelo voto). Em todas elas manifesta-se, em maior ou menor grau, uma luta pelo poder que se coloca acima de qualquer princípio democrático ou critério ético. Quem tem o poder não quer dividi-lo e, sobretudo, não quer deixá-lo. Nas organizações da sociedade civil o grau de rotatividade nas direções é ainda menor do que nas organizações políticas e nos postos do Estado. Os dirigentes são donos (ou comportam-se realmente como donos) dessas organizações.
A “lógica” mencionada acima altera o comportamento dos indivíduos que participam de iniciativas da sociedade civil, os quais, por exemplo, evitam manter muito próximas de si pessoas capazes de fazer sombra ao seu desempenho, preferindo escolher colaboradores mais medíocres, que não possam embaçar seu brilho e ameaçar seu poder. Ou passam a administrar com mão de ferro o espaço a ser ocupado por pessoas de seu próprio grupo e de grupos aliados para que elas não cresçam ou apareçam mais do que seria conveniente para a sua agenda própria ou para seu projeto pessoal de poder.
Em suma, nossos comportamentos políticos na sociedade ainda não são predominantemente democráticos. Em certo sentido são até menos democráticos do que os comportamentos dos políticos tradicionais na vida institucional, que está mais exposta à fiscalização e ao controle públicos.
Isso coloca em evidência a questão de se é possível – e em que medida – praticar a democracia na base da sociedade e no cotidiano dos cidadãos.
Antes de qualquer coisa, é preciso admitir que se pode sempre prescindir da democracia. Adotá-la é uma opção, um ato voluntário. Em determinadas circunstâncias é mais difícil praticar a democracia. Em tempos de guerra, por exemplo, é quase impossível: uma vez instalada a guerra como modo – necessariamente autocrático – de solução de conflitos, a política (democrática) está morta (ou, pelo menos, temporariamente desativada). Em tempos de paz, entretanto, é sempre possível aceitar a legitimidade do outro, valorizar sua opinião e exercer a conversação, mesmo no interior de grupos privados, como em boa parte das organizações da sociedade civil, nas empresas e, inclusive, na vida familiar.
Por incrível que pareça, a democracia – ou a idéia de democracia, como queria o filósofo John Dewey – tem mais a ver com a vida da sociedade do que com o sistema representativo. Ela é mais projeto de vida comunitária do que mecanismo de legitimação de governos.
Mas seria possível praticar, na base da sociedade e no cotidiano dos cidadãos, essa democracia que não conseguimos praticar na esfera institucional da velha política?
Queremos apostar que sim, mas dificilmente por meio da participação em movimentos sociais e organizações da sociedade civil tradicionais. Movimentos sociais de caráter setorial, reivindicativo e reativo, bem como partidos, entidades corporativas e outras organizações estruturadas piramidalmente, inclusive aquelas da nova burocracia associacionista das ONGs, são (ou ainda são) – predominantemente – espaços para a reprodução de práticas da velha política na sociedade civil. Ou seja, é bastante improvável que, por meio de tais movimentos e organizações, a democracia possa se materializar de uma nova maneira – mais democratizada – na base da sociedade e no cotidiano dos cidadãos.
Muitos desses movimentos e organizações se estruturam e se comportam de modo pouco democrático (ou até mesmo autocrático) quando atuam como correias de transmissão de organizações privadas (em geral partidos ou corporações), organizam-se de forma hierárquica e não adotam princípios democráticos em seu funcionamento ou criam burocracias que se alimentam de recursos públicos por meio de uma atuação assistencialista e clientelista, voltada para a cooptação de bases de apoio eleitorais, partidárias ou governamentais.
Os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil, em sua imensa maioria, ainda se estruturam como mainframes e não como networks. Quando se denominam redes, quase sempre tal denominação é indevida, pois é aplicada a estruturas verticais de poder, que apresentam topologia descentralizada e não distribuída, baixíssimo grau de rotatividade em suas direções e uma burocracia que, a despeito de ser reduzida pela falta de recursos, não deixa de ser formalmente semelhante a qualquer outra burocracia baseada na opacidade dos procedimentos, na discricionariedade das decisões e na verticalidade do fluxo comando-execução.
Tudo indica que uma nova política só poderia se materializar por meio das novas formas de participação social que estão emergindo na sociedade contemporânea, sobretudo da conexão em rede entre pessoas para a consecução de atividades voluntárias em prol de objetivos públicos.
A política feita para obter algo – para além de viabilizar a existência dos cidadãos como seres políticos, isto é, como participantes da comunidade política – é uma política instrumental: transforma os outros em instrumentos para a satisfação de nossos desejos. Essa afirmativa é desconcertante porque, aparentemente, nada tem a ver com o que entendemos por política e com o que podemos testemunhar pela observação do que fazem os políticos. Mas isso é sinal de que o que fazem os políticos não é exatamente o que podemos entender por democracia.
A democracia é a única política que não tem outra finalidade a não ser a própria política. A rigor, todas as outras formas de fazer política são utilizações da política para propósitos extrapolíticos. Esses propósitos principais são os expostos a seguir.
Poder. Ainda que a política lato sensu se constitua sob o signo do poder, a política propriamente dita (quer dizer, a política ex parte populis), não é feita para “acumular” poder nas mãos de um ator particular, individual ou coletivo e sim para resolver (pacificamente) os conflitos que surgem em virtude da existência do poder (em um sentido estrito, como queria Bobbio, do poder político, ou seja, daquele poder imbricado na separação entre fortes e fracos).
Riqueza. O poder também está imbricado na separação entre ricos e pobres. Em um sentido amplo, tal poder enseja a prática da política. Mas quando se usa a política para acumular riquezas, então já se está tentando aproveitar instrumentalmente a política para garantir que o acesso diferenciado aos recursos, possibilitado aos detentores de poder político ou aos que se organizam para disputá-lo, conduza a uma repartição não-igualitária que privilegie uns em detrimento de outros. Quem usa a política para obter riqueza em geral apropria-se indevidamente, de modo direto ou indireto, de recursos públicos. E sempre utiliza outras pessoas – transformando-as em objetos – para lograr seu intento (muitas vezes corrompendo essas pessoas e levando-as ao crime).
Fama. A fama ou a popularidade é um efeito do fazer político: as pessoas que adquirem mais visibilidade pública em função do papel político que desempenham ficam mais famosas do que as outras que não estão submetidas a tanta exposição. Mas querer aproveitar a política para ficar famoso leva, em geral, àquele tipo de cretinismo que assola os políticos tradicionais, que vai desde a figura jocosa e menor do “papagaio de pirata” (o sujeito que estica o pescoço para aparecer no segundo plano da foto) e da “holofotofilia” (a atração irresistível pelos holofotes, refletores cinematográficos e flashes de câmeras fotográficas, própria de certas estrelas de cinema, mas que afeta também outras figuras VIPs) até o planejamento calculista da agenda de reuniões e festividades em que o ator político deve aparecer e como deve aparecer. Para “aparecer na foto” o ator político secundário, às vezes, tem que distribuir cotoveladas e atropelar os outros que estão à sua frente na fila. Ele também tem que gastar muito tempo articulando incessantemente para ser convidado para um evento importante, para integrar comitivas, para chegar (aparentemente por acaso) a uma solenidade ao lado do ator principal ou de uma personalidade de destaque. Quem luta pela fama, em geral disputa a fama com outros ou tenta impedir que outros tenham tanta fama quanto ele próprio. Inevitavelmente não se pode fazer isso sem usar outras pessoas; no mínimo uma legião de auxiliares que ficam na obscuridade para que ele – o desejoso da fama – apareça como o único responsável por um trabalho que em geral é coletivo.
Evidentemente, é o velho sistema representativo, do jeito como está organizado e funciona, que reforça esse tipo de comportamento instrumentalizador, pois o ator político precisa ser conhecido, precisa se tornar quase uma celebridade se quiser obter os votos necessários para receber um mandato ou se manter no poder.
Glória. Diz-se que a glória, ao contrário das outras recompensas mencionadas acima (com exceção do poder), constitui matéria propriamente política. O político se moveria, fundamentalmente, em busca da glória (e não da riqueza ou da fama, que seriam efeitos benéficos colaterais). Mas isso é discutível do ponto de vista da democracia. Em geral a glória – como o triunfo dos generais romanos – é um objetivo dos guerreiros (e, portanto, dos autocratas). A glória seria a suprema recompensa pela vitória sobre os inimigos, o passaporte para entrar na história e o reconhecimento público por feitos extraordinários. Para auferir a glória (como uma condecoração sempre pessoal), em geral o político utiliza outras pessoas que trabalharam anonimamente (sem glória ou ingloriamente) para produzir os feitos extraordinários que a ele somente são atribuídos.

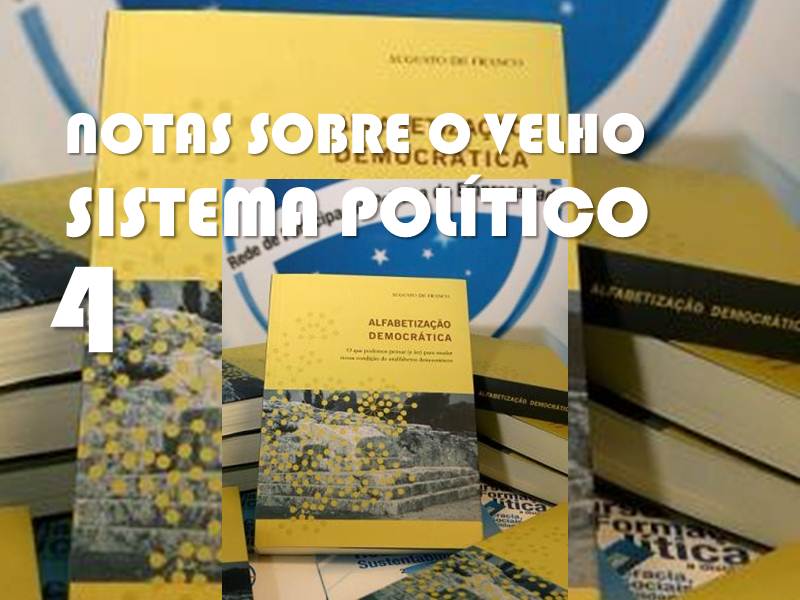
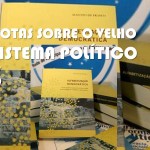
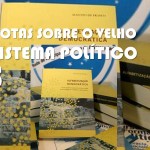
Deixe seu comentário