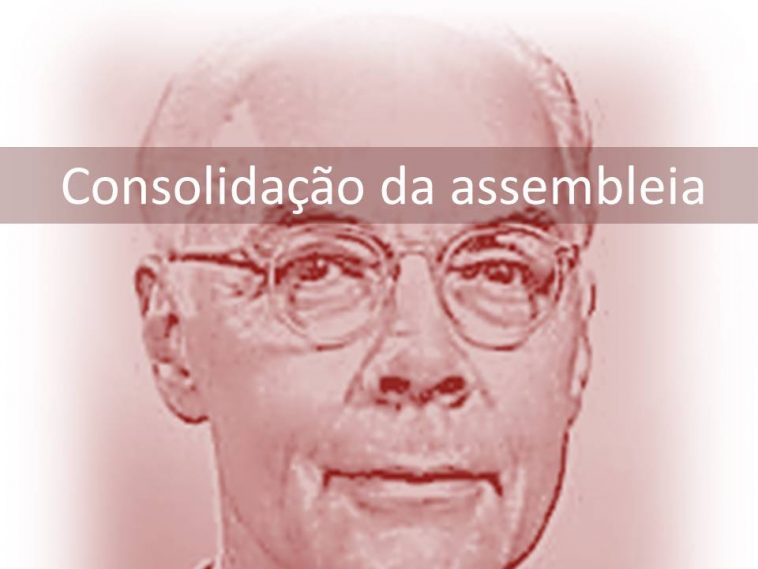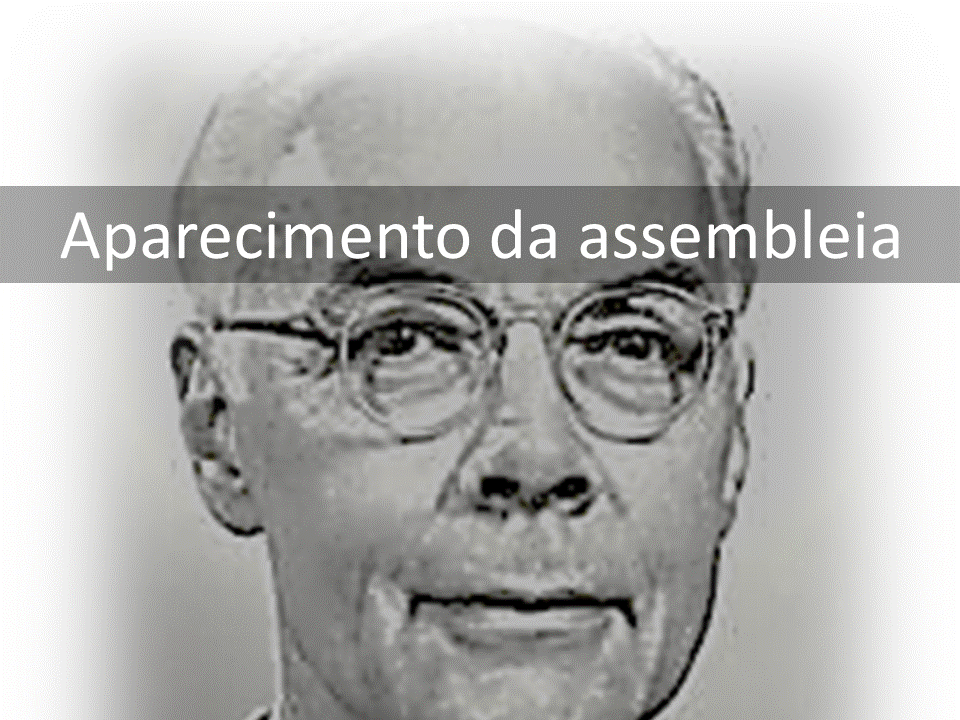O nascimento da democracia ateniense
CHESTER G. STARR
1990
SUMARIO
2. Consolidação da assembleia
3. Eleitores na assembleia
4. Funções da assembleia
5. Sessões da assembleia
Bibliografia
Índice remissivo
CAPÍTULO 2
CONSOLIDAÇÃO DA ASSEMBLEIA
Logo após a libertação de Atenas pelos espartanos, o político dominante passou a ser o aristocrata Iságoras, que quis voltar o tempo desfazendo as mudanças ocorridas no período da tirania; para isso, tentou expulsar os estrangeiros que se haviam insinuado no quadro de cidadãos. Seu principal oponente era o Alcmeônida Clistenes, mas em 508 Iságoras foi eleito arkhón epónymos para levar adiante seus intentos. A trama dos eventos que se seguiram é razoavelmente bem esclarecida por Heródoto e pela Constituição dos Atenienses, embora não coincidam em todos os pontos. Fica claro, porém, que Iságoras pode ter sido destituído do cargo por Clístenes, que “chamara em sua ajuda o povo comum” sob o grito de batalha de isonomía, e direitos iguais.
Iságoras revidou jogando o trunfo espartano, convidando Cleômenes a voltar e restaurar a situação. O rei espartano veio com 700 homens e invocou a velha “maldição dos Alcmeônidas” para obrigar Clístenes a deixar a Ática. Iságoras e Cleômenes, então, tentaram abolir o conselho soloniano dos Quatrocentos, provavelmente para neutralizarem a assembleia, mas os atenienses se enfureceram e sitiaram os espartanos e Iságoras na Acrópole. Dois dias depois, foi permitido aos espartanos deixarem o solo ático; Iságoras e seus aliados foram executados. Clístenes pôde entāo retornar e dar início a um notável conjunto de reformas que podem ter levado muitos anos para serem traçadas e implementadas.
As reformas de Clístenes (1)
Sua reorganização da constituição ateniense exigia um conhecimento geográfico muito preciso da Ática e de sua estrutura social, para poder remodelar os distritos eleitorais com vistas a executar seus objetivos fundamentais (2). A Ática foi a partir de então dividida em 10 tribos; cada tribo, por sua vez, era composta por três distritos (tritias): uma dentro e nas cercanias da cidade, as outras duas nas áreas rurais, que podiam ser próximas mas costumavam ficar a uma certa distância. Cada trítia, por sua vez, era composta por um ou mais dêmoi, normalmente as aldeias preexistentes da zona rural da Ática; os dêmoi de cada trítia podiam ser adjacentes, mas muitas vezes não era este o caso. No século IV, havia 140 dêmoi (3).
O objetivo desse complexo arranjo era controlar a maneira como o novo conselho dos Quinhentos era formado. Cada tribo fornecia 50 membros, um grupo mais tarde chamado pritanias, que eram sorteados dentre os candidatos indicados pelos dêmoi. Não há informações sobre como essas pessoas eram escolhidas em nível local (4), mas no século IV um homem que quisesse ser conselheiro num determinado ano podia articular sua indicação. Numa data desconhecida, o ano político (mas não o ano religioso e civil) foi dividido em dez partes, que receberam nomes de acordo com a tribo que fornecia os conselheiros, por sorteio, para cada pritania. Os decretos a partir da década de 460 nomeiam primeiro a tribo no exercício das funções, e seus membros tinham de estar prontos para a ação imediata na câmara do conselho se surgisse uma emergência – de fato, um terço da pritania fazia suas refeições e dormia, alternadamente, no thólos. Para proteger-se do perigo de que o conselho se tornasse um poder oculto, como a Signoria da Veneza medieval, os conselheiros não podiam servir dois anos em seguida, ou mais de duas vezes na vida; com isso, uma proporção muito grande de eleitores atenienses, cerca de um terço, ocupariam um posto nesse comitê dirigente da assembleia.
Pelo esquema de Clístenes, além disso, o conselho representava todas as áreas da Ática; os velhos blocos geográficos, os grupos de culto e o controle local pelos mais ricos saíram muito enfraquecidos (5). Sua ousadia, com certeza, não era inédita. A reorganização dos distritos eleitorais já fora levada a cabo em Sícion, Corinto, Mileto e em outros lugares; em Corinto, as oito tribos foram divididas igualmente em “terços” de território não contíguo (6). Os gregos em geral estavam libertando-se das algemas herdadas da tradição.
Os verdadeiros objetivos de Clístenes continuam sendo tema de debate, pois não há evidências que esclareçam suas atitudes básicas, como acontece no caso da poesia de Sólon. Os historiadores céticos tendem a suspeitar que Clístenes, ao agrupar os dêmoi em trítias, buscava vantagens pessoais, embora seja difícil, ao examinarmos o novo mapa da Ática, detectar uma repartição deliberada do território para vantagens eleitorais em larga escala (7). Claramente, ele colocou o poder de decisão politica em última instância nas mãos da assembleia, embora com pelo menos uma salvaguarda. O conselho dos Quinhentos, dai em diante, teve de submeter a escrutínio cada medida proposta ao povo e votar uma proposta preliminar, proboúleuma, que ou podia conter recomendações específicas ou apresentar uma declaração mais geral, para inserir uma matéria ou na agenda da assembleia; sem um proboúleuma, o povo nunca votava nenhuma matéria. Outra medida de segurança contra decisões temerárias deviam ser introduzidas mais tarde, provavelmente nas reformas de Efialtes.
As instituições sociais de Atenas foram deixadas intactas, salvo sob um aspecto. Antes, o fundamento para se reivindicar a cidadania era a aceitação de um filho por parte da fratria de seu pai, e um homem era oficialmente conhecido como o filho de determinado homem. Depois das reformas de Clístenes, o registro nas listas de um determinado dêmos era a etapa necessária, e um cidadão era formalmente chamado, por exemplo, Temístocles de Freari, embora os patronímicos continuassem a ser amplamente usados.
A conclusão mais segura é a de que Clístenes procurou obter apoio popular por meio da assembleia, e, o que é igualmente importante, a massa dos cidadãos atenienses desenvolveu uma consciência política suficiente para capacitá-los ao exercício de suas novas responsabilidades (8); imediatamente após as reformas, os atenienses se uniram e repeliram uma invasão por parte de Cálcis e dos beócios. Como comenta Heródoto acerca dessa vitória, ela provou “quão nobre é a liberdade, não sob um só aspecto, mas sob todos; pois enquanto eram oprimidos por um governo despótico, não tiveram melhor êxito que seus vizinhos, mas, uma vez libertados do jugo, demonstraram ser os melhores combatentes do mundo” (9). A palavra grega aqui traduzida por “liberdade” é na verdade isegoría, o direito igual da palavra, que aparece como um pré-requisito para a participação na assembleia, ainda que tenham sido feitos esforços no sentido de mostrar que esse privilégio só foi obtido em meados do século V (10).
Aparentemente, as reformas estavam todas em vigor em 501/0, quando os conselheiros fizeram um juramento oficial que continuou a ser usado nos dois séculos seguintes, embora com algumas modificações; uma cláusula significativa orientava-os a processar quem subvertesse a democracia ou apoiasse uma tentativa de restauração da tirania (11). Os atenienses da época de Clístenes estavam preocupados com uma possível restauração da tirania, e com boas razões para isso. Hípias fora exilado, mas gozava da simpatia dos persas e aparentemente de um apoio persistente em alguns círculos atenienses; “os atenienses, com a costumeira leniência da democracia, permitiram que os defensores dos tiranos permanecessem na cidade, contanto que não tivessem participado pessoalmente de seus erros na época da desordem civil” (12). Em 490, Hípias retornou realmente com a expedição persa enviada por Dario para vingar o apoio ateniense aos rebeldes jônicos; após a incrível vitória do exército ateniense em Maratona, este voltou o mais rápido possível para a cidade, em parte para obstar qualquer tentativa de golpe por parte de uma facção pisistrátida.
Como uma medida permanente contra os pretendentes à tirania, Clístenes instituiu o sistema do ostracismo. Na agenda da sexta pritania, a cada ano a assembleia votava se haveria ou não um ostracismo; se assim fosse decidido, os cidadãos se reuniam num determinado dia na Agora e carregavam cacos de cerâmica (óstraka) com o nome de um político que desaprovassem ou temessem. Para haver uma condenação, eram necessários no mínimo 6.000 cacos nas urnas; esta era a única ocasião em que os votos dos cidadãos eram formalmente contados. O homem que recebesse mais votos era devidamente punido com uma pena de exílio de 10 anos, embora não perdesse seus direitos de cidadão.
Alguns estudiosos mostram que o ostracismo não entrou em vigência até 487, e duvidam de que Clístenes fosse o autor desse dispositivo de segurança, que traz, no entanto, a marca de sua sagacidade. No começo, como acabamos de sugerir, o ostracismo foi concebido como mais um entrave aos elementos tirânicos; assim, alguns óstraka sobreviventes trazem maldições contra uma possível vítima por apoiar os persas. O ostracismo, porém, podia ter um objetivo mais amplo na vida pública ateniense. Varios anos antes, Periandro, tirano de Corinto, pedira o conselho seu colega Trasíbulo de Mileto acerca de como lidar com os descontentes; Trasíbulo simplesmente pôs-se a caminhar por um trigal, rompendo com o chicote os talos altos demais, o que deixou confuso o mensageiro. Periandro, porém, compreendeu a mensagem, e os atenienses de origem nobre que se mostrassem ambiciosos demais podiam justamente temer o perigo de receberem o ostracismo por ameaçarem “o consenso nacional, sobretudo por defender em publico ideias ou atos que ameaçassem os valores da sociedade política” (13).
O nome de Sólon era muito evocado pelos oradores atenienses do século IV, e pelo menos a partir da época de Platão foi considerado um dos Sete Sábios, guias éticos e filosóficos da Grécia antiga, dados a aforismos; os termos “solon, solonisch” aparecem de fato nos vocabulários políticos modernos. Clístenes não gozou de tal prestígio. Após as reformas, desapareceu completamente de vista, mas, uma vez que Clístenes provavelmente nasceu vários anos antes de 560 (foi arconte em 525/4), pode ter simplesmente morrido por volta de 500 (14). Nos anos seguintes, foi quase esquecido e nunca se tornou uma figura de reverência, embora, mais do que qualquer outro homem, tivesse codificado os processos atenienses de tomada de decisão que permaneceram em vigor pelos dois séculos seguintes, com exceção dos breves levantes de 411 e 404. Suas reformas talvez soubessem demais a oportunismo, como sugere tacitamente Heródoto ao descrever suas manobras contra Iságoras. “Ele não criou a democracia, mas tornou-a possível”, e outros passos deveriam ser necessários antes que se pudesse dizer que Atenas chegara à plena democracia (15). Mesmo assim, mais de uma vez na história os oportunistas produziram maiores efeitos do que esperavam ao buscarem seu próprio proveito; agora que o domínio da assembleia estava consolidado, ele se fez valer ainda mais.
Desenvolvimentos do início do século V
Novos políticos ocuparam o lugar de Clístenes nas primeiras décadas do século V; nas Vidas de Plutarco, eles são retratados como Aristides, um líder conservador, e Temístocles, o mais radical, embora na Constituição dos Atenienses Aristides pareça ter colaborado por vezes com seu suposto oponente (16). Não há, porém, nenhuma indicação de que alguma figura significativa da época quisesse subverter a nova democracia (17), e a assembleia a que eles tinham de recorrer para obter apoio começa a tornar-se um pouco mais visível nas fontes literárias e epigráficas.
Quando os jônios planejavam a rebelião contra os senhores da Pérsia em 499, enviaram o líder milésio Aristágoras à Grécia continental em busca de ajuda. Naturalmente, ele foi primeiro a Esparta, o fiel da balança do sistema estatal da Grécia, mas não conseguiu convencer o rei Cleômenes. Em Atenas, teve uma recepção muito mais favorável por parte do conselho, que primeiro ouviu os embaixadores e convenceu com facilidade a própria assembleia a enviar uma ajuda temporária, sob a forma de vinte navios. Como observou secamente Herodoto, “parece sem dúvida mais fácil enganar uma multidão do que um só homem” (18).
Já no primeiro ano após o fim da tirania, a assembleia aprovara um decreto que bania o uso da tortura, mas isso só é sabido por uma referência literária (19). Agora começam a aparecer os decretos inscritos na pedra. O primeiro, que parece ser dos últimos anos do século VI, regulamenta os deveres dos colonos na ilha de Salamina, finalmente tomada a Mégara, e começa simplesmente assim: “o povo decretou” (édoxen toî dêmoi); parece haver uma referência ao conselho na última linha, como exercendo a função probulêutica, mas “não há certeza quanto a isso” (20). O segundo exemplo que chegou até nós, datado de 484, é formado por duas inscrições acerca do templo do Hecatompedon; mais uma vez, o dêmos é referido duas vezes como o autor dos decretos (21). De 480 parece haver um decreto proposto por Temístocles que ordenava a evacuação da Ática durante a invasão persa, mas a autenticidade do “Decreto de Temístocles”, que chegou até nós numa inscrição do século III de Trezena, é mais do que discutível (22). Não há dúvida, porém, de que a assembleia agora considerava seus atos dignos de serem publicados de forma permanente em estelas.
A assembleia também assumiu outros poderes, em primeiro lugar o de eleger os dez generais por voto aberto, mas por outro lado mudou a maneira de escolher os arcontes, do voto para o sorteio entre 100 ou 500 candidatos indicados pelos dêmoi (23). Alegou-se que essa última decisão enfraqueceu o prestígio do conselho do Areópago, para o qual os arcontes entravam ao concluírem seu ano no cargo, mas não temos provas da qualidade dos homens propostos pelos dêmoi; afinal, eles ainda vinham das três classes superiores de Sólon (24).
Nessa época, o mecanismo do ostracismo foi ativado, primeiro em 487 contra o aristocrata Megaclés e outros antigos defensores da tirania; logo Temístocles passou a dirigir os ataques contra seus próprios adversários, até obter em 482 o ostracismo de Aristides. Com isso, passou a ser o chefe indiscutível de Atenas quando teve de enfrentar o ataque das forças persas, por terra e mar, sob o rei Xerxes.
A invasão persa
Temos aqui de nos deter brevemente para examinar, sob uma luz mais ampla, o curso da invasão e seu quase inacreditável rechaço; para repetir um comentário do meu Prefácio, o desenvolvimento político ateniense ocorreu dentro do contexto da história grega como um todo.
Em 490, a expedição enviada pelos persas por mar contra Atenas fora derrotada na planície de Maratona – mas, como o rei Dario morreu logo em seguida, não pôde consertar a situação; seu filho e herdeiro Xerxes teve de consolidar sua posição durante vários anos, tanto no plano interno como externo. Mais tarde, decidiu preparar uma invasão em grande escala, sob seu próprio comando, para conquistar toda a Grécia continental, e para tanto comandou forças esmagadoras, por terra e mar, no outono e inverno de 481-480 na Ásia Menor.
A maior parte dos estados gregos e seus líderes foram cegos para esse perigo ameaçador, mas houve um homem, Temístocles, que viu a ameaça e também foi capaz de forjar uma arma que seria decisiva, ao dar aos gregos a oportunidade de enfrentar o ataque persa. Em 483-482, uma descoberta inesperada e rica foi feita nas minas de prata estatais de Atenas, em Láurio; normalmente, essas rendas eram divididas entre os cidadãos, mas Temístocles persuadiu a assembleia a aplicar os recursos na construção de navios de guerra e na fortificação do promontório do Pireu, para oferecer um porto melhor do que o ancoradouro aberto de Falero. Aos concidadãos, ele propôs uma justificativa baseada na velha inimizade de Atenas com a ilha vizinha de Egina, mas sua visão era muito mais ampla.
Quase todos os estados gregos tremeram de medo quando a ameaça se tornou mais evidente, submetendo-se aos enviados persas ou permanecendo neutros; na trípode erigida em Delfos após a vitória final, só 31 póleis foram nomeadas, dentre as centenas existentes no Egeu e além mar (25). Os que resolveram resistir reuniram-se no istmo de Corinto, no outono de 481, e tomaram uma decisão crucial; levando em conta o fato de que os rebeldes jônios não haviam conseguido estabelecer um comando único, concordaram em que os espartanos deveriam ter a liderança em terra e também em mar.
Não havia dúvida de que os espartanos, que dispunham das maiores e mais bem treinadas divisões de hoplitas, deveriam ter a preeminência em terra. No que se refere ao comando naval, os atenienses, que, com seus navios recém-construídos ofereciam dois terços da marinha grega, poderiam ter resistido, como disse cruamente um embaixador a Gelon, tirano de Siracusa, num mal sucedido esforço por obter sua ajuda; mas para garantir a unidade, Temístocles desistiu de qualquer reivindicação quanto ao almirantado.
Não se sabe se a assembleia ateniense levantou objeções quando ele relatou essa sábia medida, mas aceitou seu parecer numa questão semelhante que é brevemente relatada em Heródoto, o primeiro debate formal conhecido entre os cidadãos (26). Anteriormente, os atenienses haviam enviado representantes para receber o conselho de Apolo em Delfos. A primeira profecia do deus era de total desastre; numa consulta posterior ao oráculo, uma resposta mais suave prometia que “uma muralha de madeira” protegeria os atenienses e seus filhos e falava numa linguagem enigmática sobre uma batalha na sagrada Salamina. Na reunião da assembleia convocada para meditar sobre o conselho de Apolo, as opiniões ficaram agudamente divididas entre os cidadãos mais velhos, que queriam confiar na Acrópole, antigamente protegida por uma paliçada, e os demais, que alegavam que o deus se referia aos navios, os quais “seria melhor preparar”. Persistiram as dúvidas acerca da referência a Salamina, mas estas foram postas de lado por Temístocles, que ressaltou que Apolo descrevera Salamina como “sagrada”, e não “de mau agouro”; logo, se tivessem a oportunidade de lutar no mar em Salamina, venceriam. Uma vez que os atenienses seguiram Temístocles ao longo de todos os terríveis acontecimentos de 480-479, eles aceitaram sua hábil interpretação e se prepararam para travar batalha em mar, se necessário.
Do lado grego, as decisões estratégicas de base quanto a este e a outros problemas foram fruto do juízo agudo e incisivo de Temístocles e de sua oratória persuasiva, reforçada pelo fato de os outros lideres saberem que ele contava com o apoio de seus concidadãos atenienses. Temístocles percebera a falha vital do ataque inimigo: a frota persa devia permanecer perto da costa, para proteger o abastecimento marítimo de grãos para o grande exército e também para ser guardada com segurança quando desembarcava na praia à noite seus exaustos remadores. Maratona havia mostrado que os hoplitas gregos tinham possibilidades de vitória contra a infantaria persa, armada mais levemente, mas como poderiam os aliados enfrentar a superioridade marítima persa, em número e em habilidade, graças ao contingente fenício?
A solução era atrair a frota persa para águas estreitas, onde sua força não pudesse ser posta inteiramente em ação. O primeiro local escolhido pelos gregos foi o estreito de Artemísio, entre a ilha de Eubéia e o litoral da Beócia, mas este foi superado quando o exército de Xerxes conseguiu forçar a passagem nas Termópilas. A frota grega então recuou para a ilha de Salamina, nas costas da Ática.
Os atenienses – homens, mulheres e crianças – evacuaram sua terra natal quando o exército persa invadiu a Grécia central. Ainda que se possa duvidar da autenticidade do “Decreto de Temístocles”, não há dúvidas de que essa manifestação de desesperada determinação foi desencadeada por um decreto da assembleia (27). Para garantir a unidade, os cidadãos também revogaram todos os decretos anteriores de ostracismo, e o conselho do Areópago distribuiu o tesouro do estado, dando a cada homem oito dracmas (a moeda padrão era de quatro dracmas) para seu sustento em Salamina ou no Peloponeso. Heródoto estava certo quando afirmou que “foram os atenienses que – depois de Deus – repeliram o rei persa” (28).
O conselho dos chefes gregos em Salamina descambou em discussões, e alguns queriam recuar até o istmo de Corinto, onde os peloponésios haviam trabalhado durante o verão na edificação de uma muralha defensiva; mas Temístocles discordou com veemência. Em águas abertas, os gregos teriam poucas esperanças de vitória, e Argos, que ficava por trás da muralha, era neutra, em razão de sua oposição ao velho inimigo, Esparta, e certamente se uniria aos persas quando surgisse uma oportunidade segura.
Seus companheiros concordaram, por fim, com ele em que, se pudesse atrair Xerxes a comprometer a frota persa nas águas do estreito de Salamina, eles permaneceriam e lutariam. Por meio de ardilosas mensagens enviadas aos persas, que sugeriam que os atenienses estavam a ponto de desistir, Temístocles foi bem-sucedido, e na batalha que se seguiu se perderam cerca de 200 navios de guerra persas, em sua maioria das cidades fenícias, contra apenas cerca de 40 navios gregos. Xerxes abandonou parte de seu exército para tentar vencer por terra, mas em 479 os hoplitas de Esparta, Atenas e de uns poucos outros estados esmagaram os persas em Platéia (29). Temístocles foi aclamado em Esparta como o arquiteto da vitória, mas em Atenas a sua liderança na assembleia enfraquecia-se, embora os cidadãos aprovassem sua proposta de construir rapidamente um muro ao redor da cidade. Os atenienses não toleraram facilmente o orgulho arrogante por ele exibido.
Desenvolvimentos internos após a derrota persa
Segundo Tucídides, Temístocles foi o primeiro a convencer os atenienses de que seu futuro estava no mar. Durante o século VI, a exportação de vasos da Ática varreu todos os mercados do Mediterrâneo, mas enquanto estado Atenas desempenhou um papel no mar menor do que o de Egina, Corinto e Esparta. Bem mais tarde, um chefe de Siracusa deveria advertir seus concidadãos de que “os atenienses eram mais presos à terra do que os siracusanos e só foram ao mar quando forçados pelos persas” (30).
Segundo uma opinião de aceitação geral, essa mudança fortaleceu indiretamente a posição política dos thétes, que tripulavam a frota e também se beneficiaram com a crescente atividade comercial do Pireu. Tal interpretação deve ser vista com cautela por duas razões. Primeiro, boa parte do comércio e da indústria de Atenas estava nas mãos de estrangeiros residentes (metecos), como Céfalo, em cujos jardins Platão situou sua República, que não necessariamente queriam compartilhar os pesados encargos dos cidadãos (31) e, segundo os próprios thétes, como veremos de modo mais completo no próximo capítulo, muitas vezes não tinham muito peso na assembleia.
A principal consequência das Guerras Persas foi um importante fortalecimento da autoconfiança dos cidadãos atenienses. Um voto da assembleia propiciara a ajuda ateniense aos rebeldes jônicos em 499; depois disso, a criação de uma forte marinha e as decisões de apoiar com firmeza a resistência grega contra os persas foram tomadas, ao que se sabe, sem oposição considerável. Em 479, de fato, os persas enviaram dois embaixadores a Atenas, incitando-os a se renderem; o segundo deles, Muricides, apresentou-se primeiro ao conselho dos Quinhentos, e um de seus membros sugeriu que ele fosse ouvido na assembleia. Seus colegas conselheiros e os atenienses interromperam abruptamente a proposta, apedrejando a ele e à família até a morte, e os atenienses permaneceram leais à aliança grega (32).
Imediatamente após a retirada persa, ocorreram duas importantes mudanças na história ateniense. A primeira delas foi o início inconsciente do império ateniense; a segunda, um reflorescimento do conservadorismo, sob a liderança de Aristides e Címon (33). Aristides, famoso por sua probidade, foi o representante ateniense na criação da liga de Delos, em 478/7, que uniu as forças das ilhas e dos estados do litoral da Ásia Menor às de Atenas, para impedir a volta dos persas; também Ihe foi confiada a delicada tarefa de avaliar a quantidade de navios ou de dinheiro, no caso das comunidades menores, com que cada estado devia contribuir no apoio das operações navais. Em 471, os oponentes de Temístocles, que, segundo as óstraka que nos chegaram, muitas vezes votaram contra ele na década de 480, dispunham de força suficiente para tramar seu próprio ostracismo; nunca mais ele pôde voltar a Atenas e morreu como hóspede do rei da Pérsia.
Um importante fator do predomínio conservador nas décadas de 470 e 460 foi a confiança depositada pelos atenienses em Címon, filho daquele Milcíades que comandara os atenienses em Maratona; durante mais de uma década, foi o mais importante líder da comunidade. Ano após ano, ele foi eleito general, talvez o maior comandante de campo que Atenas produziu, e varreu os persas do mar Egeu; seus contínuos êxitos culminaram na esmagadora vitória sobre os restos da frota persa no rio Eurimedonte, na costa meridional da Ásia Menor (provavelmente por volta de 465). O butim proporcionou os fundos para a construção da grande muralha sul da Acrópole, que está de pé ainda hoje; o próprio Címon era famoso por sua prodigalidade com seus colegas dos dêmoi. Címon também fortaleceu a amizade com Esparta; quando seus hilotas se revoltaram e embaixadores pediram o apoio de Atenas, ele garantiu a aprovação por parte da assembleia para o envio de forças em auxílio de seus “camaradas de servidão” – mas infelizmente os espartanos mudaram de ideia e recusaram a ajuda (34).
Os primórdios do império ateniense (35)
Aristides desempenhara um papel importante no estabelecimento da carta da liga de Delos, pela qual Atenas, por contribuir com a maior parte da frota da liga, podia indicar seus generais e os tesoureiros dos fundos armazenados no templo de Apolo em Delos. No começo, os demais membros da liga provavelmente deram pouca importância a essas medidas, mas mais tarde deveriam arrepender-se profundamente delas.
Durante os anos de liderança de Címon, a natureza do vínculo mudou sutilmente. Quando o pequeno estado de Caristo, na ilha de Eubéia, foi libertado, teve de juntar-se à liga, a contragosto; a cruzada não devia ser enfraquecida por mas vontades locais em participar. Em seguida, a ilha de Naxos cansou-se da obrigação anual de fornecer navios; Atenas não podia tolerar nenhuma tentativa de evitar o dever comum. O pior de tudo foi a “revolta” de Taso, um estado grande, que teve de ser chamado de volta à lealdade por um cerco. Uma vez que são os raros documentos anteriores à metade do século V que chegaram até nós, não podemos ter certeza de até que ponto as atividades de Címon exigiram aprovação formal. Nas décadas posteriores, o estabelecimento de dissidências locais parece ter dado origem a um decreto ateniense, cujos exemplos serão apresentados quando tratarmos de Péricles, mas nos primeiros anos a assembleia da liga talvez tenha estado ativa o suficiente para dar sua aprovação às despesas ligadas ao cerco de Taso.
Mesmo assim, a liga voluntária foi transformando-se lentamente, quase de modo inconsciente, num império sob a direção única de Atenas. Os estudiosos modernos datam de 454 o ponto em que o processo se concluiu, quando o tesouro da liga passou de Delos para Atenas, onde Atena e seus sacerdotes podiam melhor protegê-lo na Acrópole.
As reformas de Efialtes
No final da década de 460, o pêndulo da liderança ateniense passou de novo dos conservadores a figuras muito mais radicais, e permaneceu em suas mãos até a Guerra do Peloponeso. A mudança decisiva dos eleitores atenienses nessa passagem foi o ostracismo de Címon, em 461.
As causas últimas desta reviravolta não são sequer vagamente esclarecidas pelas escassas fontes; como é muitas vezes o caso na história antiga, é preciso considerar os acontecimentos ulteriores para se orientar entre as forças que os moldaram. No presente caso, pode-se dizer com segurança que Efialtes e, em seguida, Péricles promoveram políticas que se adaptaram à nova índole da época: hostilidade ou pelo menos desconfiança em relação a Esparta; imperialismo claro; e a remoção dos empecilhos conservadores da estrutura do governo ateniense. Estes seriam os princípios a que a assembleia aderiria, rejeitando todos os esforços conservadores para obstar sua implementação.
Efialtes foi ao mesmo tempo um dos mais significativos reformadores da constituição ateniense e sua figura mais obscura. Nossas limitadas fontes concordam que, durante a guerra persa, o conselho do Areópago obteve um mais amplo prestígio em seu papel ancestral de “guardião das leis”; ao examinar as mudanças nas constituições, Aristóteles observou que “o conselho do Areópago por exemplo, fortaleceu sua reputação durante a guerra persa, e durante algum tempo a consequência disso pareceu ser um enrijecimento da constituição [ou seja, um movimento na direção da oligarquia]”. Então a maré mudou e, em 462/1, Efialtes, após atacar diversos areopagitas com acusações de má conduta administrativa, obteve uma legislação que diminuiu severamente os poderes do Areópago e “mergulhou a cidade na democracia irrestrita” (37). Depois disso, o Areópago passou a só dirigir julgamentos por homicídio, envenenamento, incêndios e matérias menores (38).
Que jurisdição perdeu ele? A resposta depende das funções que o Areópago ainda exercia em 462, mas esse é um problema que não pode ser resolvido facilmente, dada a incerteza que envolve as reformas de Clístenes, as possíveis mudanças ocorridas no começo do século V e a falta de provas claras e pertinentes. Recentemente vários estudiosos alegaram que o Areópago perdeu três poderes decisivos: o direito de instituir acusações de traição e mau procedimento (eisangelía), a inquirição dos novos magistrados (dokimasía) e a auditoria do desempenho destes (eúthyna) (39). O Areópago certamente tivera essas funções no século VI, mas não no fim do século V.
O ponto interessante é para quem foram conferidos esses poderes – não para a assembleia, mas em primeiro lugar ficaram nas mãos do conselho dos Quinhentos. Sua fiscalização das nomeações por sorteio bem como os conselheiros do ano seguinte era em ampla medida uma determinação formal de propriedade de terra na Ática e outras qualificações, mas presumivelmente ele poderia rejeitar um homem física ou intelectualmente incapaz (40). Quanto à fiscalização financeira, o conselho se valia de quadros de peritos que remetiam os infratores aos tribunais de justiça. Seu direito de ouvir acusações de eisangelía, endereçadas principalmente a generais e políticos, “pôs a disposição de crimes contra o estado inteiramente nas mãos de órgãos populares”, embora o conselho só pudesse aplicar multas de até 500 dracmas; os outros casos tinham de ser apresentados aos tribunais ou, com menos frequência, à assembleia (41). Uma outra mudança talvez tenha tido uma significação que nunca foi muito ressaltada. Nos primeiros decretos como já foi observado, “o povo decidia”; nos decretos passados depois da época de Efialtes, a fórmula costumava rezar que “o conselho e o povo decidiram” (édoxen teî bouleî kaì toi dêmoi). O papel do conselho como regulador do debate público pode assim ter sido formalmente ampliado, assim como a eficiência com que os negócios do estado eram conduzidos.
No que se refere à assembleia em si, não há em nossas fontes provas efetivas de transferência de poderes, além de uma afirmação ligeira. De fato, desde a época de Grote tem havido um consenso geral de que Efialtes pode ter sido responsável por mais um obstáculo à ação precipitada da assembleia, com a introdução da graphè paránomon, “ação de inconstitucionalidade”. Esta opinião foi algumas vezes questionada, na medida em que o primeiro uso atestado da graphè ocorreu somente em 415. Nossa informação pormenorizada acerca de acontecimentos do século V, porém, é tão irregular que isso não pode ser considerado decisivo, e à primeira vista parece não haver nenhuma razão para que a ação tenha sido introduzida em 415. Ao contrário, pode-se salientar que os reformadores atenienses, de Sólon e Clístenes em diante, muitas vezes conjugaram um aumento da jurisdição popular na assembleia com salvaguardas contra o seu mau uso, e Efialtes pode muito bem ter seguido este principio. Em suma, podemos seguir Grote e outros historiadores apenas com cautela, ao atribuirmos a graphè paránomon à época de Efialtes, mas certamente esta salvaguarda contra as decisões falhas estava em vigor antes do término do século V (42).
Todo decreto aprovado pela assembleia tinha de ser proposto nominalmente por um indivíduo específico, que, porém, quase nunca era uma figura política importante (exceto no caso do Decreto de Temístocles) – isso por boas razões. Se uma reflexão posterior decidisse que um decreto havia sido impróprio após a introdução da graphè paránomon, o seu introdutor formal podia ser processado nos tribunais de justiça. Se dentro de um ano houvesse condenação, o decreto era invalidado e o seu propositor estava sujeito a uma multa pesadíssima; depois de um ano, só o decreto poderia ser revogado. Entre a exigência de que o conselho fornecesse um proboúleuma a cada matéria apresentada à assembleia e a possibilidade de que uma acusação de graphè paránomon pudesse se seguir mais tarde, as deliberações da assembleia transcorriam cuidadosamente.
Efialtes também foi considerado, embora mais uma vez sem provas efetivas, o autor da divisão da Heliéia em listas de jurados (dikastéria) para obsequiar o entusiasmo ateniense pelos processos judiciais, satirizado por Aristófanes no início de Os pássaros; na Apologia de Platão, Sócrates ressalta nunca ter estado num tribunal de justiça, embora isso talvez fosse apenas um recurso de retórica. Mais tarde, as regras segundo as quais cada jurado era incluído em sua lista foram engenhosamente codificadas, para que ninguém pudesse saber antes do dia do julgamento quem ouviria um caso; os atenienses acreditavam de coração na democracia, mas nem na esfera legislativa nem na judicial confiavam nos indivíduos (43).
No ano em que Címon foi condenado ao ostracismo, 461, Efialtes foi apunhalado à noite por um assassino desconhecido; o assassínio de políticos era muito menos comum em Atenas do que em Roma na época final da República, e assim evidentemente houve aqueles que se ressentiram profundamente com essas reformas, que substituíram “o paternalismo do estado aristocrático” pela “sociedade aberta e permissiva da Atenas democrática” (44). Seu assistente e em seguida sucessor como chefe da ala radical da política ateniense foi Péricles.
A era de Péricles
Péricles tinha sangue do mais puro azul: seu pai era o aristocrata Xantipo e sua mãe, Agariste, era sobrinha de Clístenes; mas ele logo demonstrou simpatias populares, ao aderir a uma acusação contra Címon, em 463, e em seguida ao ajudar Efialtes (45). Após a morte deste último, conta-se que se tornou prostátes toû démou, embora seu papel não seja muito claro até cerca de 455, quando era general. Em 451, era incontestavelmente a figura principal da política ateniense, e nesse ano ele defendeu o decreto de que os cidadãos de sexo masculino deviam ser filhos de mães e de pais atenienses (46). Juntamente com essa ênfase dada à exclusiva e majestosa qualidade de cidadão, o que constituía um leitmotiv nas políticas internas de Péricles, vinha uma exploração muito mais clara do poder ateniense como senhor de um império marítimo. A assembleia, assim, arrogou-se o direito de aprovar uma lei para apossar-se dos fundos excedentes da liga de Delos, com vistas a iniciar as reformas da Acrópole; isso levou imediatamente à construção do Partenon, o mais dispendioso templo já erguido no mundo grego.
Nem todos os cidadãos aprovaram esta e outras medidas. Os cidadãos prósperos e conservadores, os chamados kaloi kagathoí (belos e valorosos) haviam apoiado Címon; agora eles se voltavam para Tucídides, filho de Melésias (não o famoso historiador) (47). Em 445 ou 443, Tucídides desafiou Péricles a uma disputa por ostracismo com respeito a várias acusações, sendo que a única que chegou até nós foi a afirmação de que Péricles transformara os atenienses em prostitutas, adornando-se com as rendas do império (48). Estes eram argumentos friamente racionais, que provavelmente não seduziriam o eleitor ateniense. A paixão que os movia e que Péricles, então e nos anos seguintes, exploraria com habilidade era, nas palavras de Jacqueline de Romilly, “o desejo de fama, prestigio e honras… Em sua mais alta forma, sua ambição visava à glória; na mais baixa, ao uso do poder” (49).
Tucídides perdeu a disputa. Sob o comando de Péricles, a assembleia legislou de modo a interferir cada vez mais abertamente na autonomia dos ex-aliados, agora súditos, por meio de leis que ordenavam o uso de pesos, medidas e cunhagens atenienses ou impondo a democracia aos estados que ousavam rebelar-se (50).
Provavelmente no final da década de 450, por exemplo, houve uma desavença em Éritras, um estado da costa da Ásia Menor, talvez provocada por um elemento que procurava voltar para os vizinhos persas. A assembleia ateniense ordenou que ele formasse um conselho de 120, como de Atenas, cujos membros deveriam jurar lealdade às democracias de Eritras e de Atenas; não deveria mais haver expulsões ou retornos de exilados sem a autorização de Atenas (51). Mais tarde, Cálcis, na ilha de Eubéia, tentou livrar-se do jugo e foi chamada de volta à fidelidade pela força. Num decreto proposto na assembleia ateniense, foi adicionada uma cláusula que dizia que, embora Cálcis pudesse julgar seus próprios cidadãos, não poderia infligir-Ihes “o exílio, a morte ou a perda dos direitos de cidadão. Com relação a estas matérias, o recurso deveria ser feito em Atenas, no tribunal de Thesmothetae, de acordo com o decreto do povo”. Como observou cruamente um crítico anônimo da democracia ateniense na década de 430, conhecido como Pseudo-Xenofonte, ou o Velho Oligarca, isso era bom para os hotéis de Atenas; também servia para proteger dos maus tratos os amigos de Atenas (52).
O poder de Péricles certamente continuou a ser contestado, mas só indiretamente. Fídias foi processado em 438 e condenado por desvio de fundos da grande estátua de Atena, de ouro e marfim, e outro amigo de Péricles, o filósofo Anaxágoras, teve de deixar Atenas às pressas antes de ser acusado de impiedade, por ter afirmado que o Sol era uma rocha incandescente do tamanho do Peloponeso (53).
A partir de 445, pelo menos, Péricles foi reeleito general ano após ano, até sua morte, em 429. Como disse seu grande admirador, o historiador Tucídides, “Atenas, embora ainda nominalmente uma democracia, era de fato governada por seu primeiro cidadão” (54). No entanto, em 429 o povo voltou-se contra ele, irritado com as privações da guerra contra Esparta, e o removeu temporariamente do cargo, aplicando-lhe uma multa. A assembleia, não nos esqueçamos nunca, era a origem em última instância das decisões de governo.
Os estudiosos modernos quase sempre aceitaram o juízo de Tucídides. “A longa preeminência de Péricles deveu-se a seu caráter incorruptível, a uma política coerentemente inteligente e a notáveis dotes de orador” (55). Ele não só levou seus concidadãos a aceitarem o império sem questionamentos, como também teve uma grandiosa visão da necessidade de elevá-los culturalmente, visão esta bem expressa na Oração Fúnebre que, de acordo com Tucídides, pronunciou em solene homenagem aos homens que tombaram no primeiro ano da Guerra do Peloponeso (56).
Péricles foi o herói de Tucídides, e o historiador procurou distinguir entre seus previdentes programas políticos e militares e a temerária perda da cautela de seus sucessores. No entanto, Plutarco, Tucídides e os poetas cômicos concordam em que a vontade de Péricles era soberana na vida política ateniense após 450 (57), e foi nas décadas seguintes que as leis que consolidaram o domínio ateniense de seu império foram postas em vigor, à custa da violação da premissa fundamental da política estatal grega, o direito que cada comunidade tinha de ter suas próprias leis (autonomía) (58). Péricles deve também ser pesadamente responsabilizado pelas etapas que levaram à deflagração da Guerra do Peloponeso; ele instigou a decreto que bania os megarios dos mercados e dos portos do império e outras afrontas ao poderio e ao orgulho dos aliados de Fsparta, que mal eram capazes de convencer a própria Esparta a abraçar sua causa. Em suma, de todas as figuras antigas, Péricles talvez tenha exercido a mais devastadora influência sobre o seu estado, primeiro ao ajudar a desencadear uma guerra que Atenas jamais poderia vencer, no máximo empatar, e em seguida por já ter levado a assembleia ateniense ao imperialismo manifesto, que tornou inevitável o posterior colapso de seu governo.
A Guerra do Peloponeso
Essa luta extenuante teve efeitos devastadores a longo prazo no corpo de cidadãos ateniense e em suas decisões, tanto na assembleia quanto nos tribunais de justiça, mas primeiro será útil esboçar brevemente o curso real da guerra, como pano de fundo para uma posterior discussão de algumas distorções da justiça causadas por suas tensões. Convencionalmente, a luta contra Esparta é datada de 431-404, mas consistiu em dois duelos muito diferentes entre Atenas e Esparta (59).
Na primeira fase, 431-421, os atenienses seguiram em geral a politica cautelosa estabelecida por Péricles e desgastaram os espartanos e seus aliados com operações navais ao redor do Peloponeso. Em 421, os espartanos estavam dispostos a aceitar a paz, que deveria durar 50 anos; fazendo isso, eles sacrificavam os interesses de Corinto e de outros estados.
Os atenienses, porém, estavam tão insatisfeitos com os escassos resultados de seus esforços e com a perda de mão-de-obra numa grande peste, que se entusiasmaram com as adulações do líder popular Alcibíades e votaram uma grande expedição à Sicília, em 415; Nícias, um conservador, alertou-os em vão sobre a necessidade de se manter intacta a força no Egeu, e sua avaliação da aventura siciliana só fez com que a assembleia votasse um maior compromisso de empenho. A operação anfíbia, uma das maiores da Antiguidade, teve um desenlace desastroso em 413, com a perda de todos os navios e tropas envolvidas.
Nessa altura, Esparta retomou a guerra e pôde contar com o apoio dos súditos descontentes de Atenas, bem como com uma ajuda financeira da Pérsia. Os atenienses continuaram a combater com obstinação, mas a assembleia perdeu a confiança em si mesma e exibiu muitas vezes uma crueldade inabitual; exemplos disso serão tratados no Capítulo IV.
Em 405, o competente almirante espartano Lisandro investiu pelo Helesponto e capturou os navios atenienses encalhados em Egos Potamos, enquanto suas tripulações estavam na praia. Em seguida, conduziu os colonos atenienses do Egeu para Atenas, que suportou desesperadamente um cerco até 404, quando teve de se render incondicionalmente. Lisandro permitiu-lhes conservar 12 navios, mas derrubou os Longos Muros que protegiam as comunicações atenienses com o Pireu; meninas tocaram flautas para comemorar a ocasião festiva. Em Atenas, foram concedidos plenos poderes a um regime oligárquico; os ex-súditos logo descobriram que haviam simplesmente trocado o domínio ateniense pelo espartano. Esse domínio havia de ser bem mais irregular em sua aplicação e breve em duração, tanto em Atenas quanto no Egeu em geral.
Notas
1 Na extensa literatura sobre Clistenes, vide sobretudo D. W. Bradeen, “The Trittyes in Cleisthenes’ Reforms”, Transactions of the American Philological Association, 86 (1955), pp. 22-30; D. M. Lewis, “Cleisthenes and Attica”, Historia, 12 (1963). pp. 22-40; J. Martin, “Von Kleisthenes zu Ephiales”, Chiron, 4 (1974), pp. 5-42; C. Meier, “Cleisthenes et le problème politique de la polis grecque”, Revue des droits de l’antiquité, 3° série 20 (1973), pp. 115-59.
2 P. Léveque e P. Vidal Naquet, Clisthène l’Athénieni (Paris, 1964), ressaltam sua sensibilidade geográfica.
3 D. Whitehead, The Demes of Attica, 508-7-ca. 250 B.C. (Princeton, 1986), pp. 18-21; J. S. Traill, Demos and Trittys (Toronto, 1986).
4 De Laix, Probouleusis, pp. 149-53; E. S. Stavely, Greek and Roman Voting and Elections (Ithaca, 1972), pp. 38-40.
5 Acerca de seus esforços para neutralizar a influência dos cultos, vide Lewis, Historia, 12 (1963), pp. 30-35.
6 J. B. Salmon, Wealthy Corinth (Oxford, 1984), pp. 207-09, 413-19; N. F. Jones, “The Civic Organization of Corinth”, Transactions of the American Philological Association, 110 (1980), pp. 161-93; sobre o Leste da Grécia, J. M. Cook, Cambridge Ancient History, 3. 3 (Cambridge, 1982), pp. 200-201.
7 Sobre a possível repartição do território para obtenção de vantagens eleitorais, vide G. Daverio Rocchi, “Politica di familia e politica di tribù nella polis ateniese (V secolo)”, Acme, 24 (1972), pp. 13-44; G. R. Stanton, “The Tribal Reform of Kleisthenes the Alkmeonid, Chiron, 14 (1984), pp. 1-41; P. J. Bicknell, “Kleisthenes as Politician”, Historia, Einzelschrift 19 (1972).
8 Esta tese é plenamente desenvolvida em C. Meire, Die Entstehung des Politischen bei den Griechen (Frankfurt, 1980); vide também Meier e P. Veyne, Kannten die Griechen die Demokratie? (Berlim, 1988).
9 Heródoto, 5. 78.
10 J. D. Lewis, “Isegoria at Athens: When Did It Begin?”, Historia, 20 (1971), pp. 129-40, data o direito de Sólon e Clístenes; G. T. Griffith, em Ancient Society and Institutions (Oxford, 1966), pp. 115-38, situa-o em cerca de 457/6; A. G. Woodhead, “Isegoria and the Council of 500”, Historia, 16 (1967), pp. 129-40, aceita essencialmente o argumento de Griffith. K. Raaflaub, “Des freien Bürgers Recht der freien Rede”, Studien zur Antiken Sozialgeschichte, ed. W. Eck et al. (Colônia, 1980), pp. 28-34, argumenta que Clístenes pelo menos endossou a isegoría para a classe de hoplitas; vide também J. Ober, Mass and Elite in Democratic Athens (Princeton, 1989), pp. 72-73, 78-79.
11 De Laix, Probouleusis, p. 157, não tem tanta certeza de que o juramento contivesse essa cláusula quanto Busolt, Griechische Staatskunde, p. 1023, e outros.
12 Constituição dos Atenienses 22. 4; Sólon já havia legislado contra tentativas de restabelecer a tirania (Constituição 8. 4). Vide em geral M. Ostwald, “The Athenian Legislation against Tyranny and Subversion”, Transactions of the American Philological Association, 86 (1955), pp. 103-28.
13 Ober, Mass and Elite, p. 74; R. Thomsen, The Origins of Ostracism (Copenhaguem, 1972); E. Vanderpool, “Ostracism at Athens”, Lectures in Honor of Louise Taft Semple 2 (Cincinnati, 1970), pp. 215-50. Um manuscrito do século XV afirma que o ostracismo é anterior a Clístenes, mas isso é certamente discutível; vide J. J. Keaney e A. E. Raubitschek, “A Late Byzantine Account of Ostracism”, American Journal of Philology, 93 (1972), pp. 87-91.
14 J. K. Davies, Athenian Propertied Families 600-300 B. C. (Oxford, 1971), p. 375, um inestimável estudo das linhagens, até onde podem ser conhecidas, de cada ateniense assinalado no presente trabalho.
15 Resenha feita por R. Seager de Entstehung de Meier em Journal of Hellenic Studies, 102 (1982), pp. 266-67; vide também H. W. Pleket, “Isonomia anda Cleisthenes, a Note”, Talanta, 4 (1972), pp. 64-81.
16 Plutarco, Temístocles 5. 5; Aristides passim; Címon 5. 4, 10. 7; na Constituição dos Atenienses 23-24, Aristides aconselha os atenienses a deixar o campo e viver na cidade.
17 Plutarco, Aristides 13. 1-2 refere-se a um complô urdido por alguns ricos atenienses em 479 para derrubar a democracia, com vistas a acabar com a oposição aos persas.
18 Heródoto 5. 97.
19 Andócides 1. 43.
20 Greek Historical Inscriptions, no. 14; B. D. Meritt, Hesperia, 10 (1941). pp. 305-06, recuperou a referência ao conselho; de Laix, Probouleusis, p. 88, levanta a dúvida.
21 Inscriptiones Graecae, I (3a. ed.; Berlim, 1981), n. 4.
22 Greek Historical Inscriptions, n. 23, também apresentada em parte em Demóstenes 19. 303. C. Habicht, Hermes, 88 (1961), pp. 1-35, apresenta o mais poderoso ataque contra a sua autenticidade, mas muitos estudiosos querem acreditar nela, como recentemente N. G. L. Hammond, Cambridge Ancient History, 4 (2 ed.; Cambridge, 1988), pp. 559-63.
23 A Constitução dos atenienses, 22, diz 500; Kenyon, na editio princeps, defende 100, o número padrão ultimamente (Constituiçāo 8. 1).
24 G. L. Cawkwell, Journal of Hellenic Studies, 108 (1988), p. 2, duvida corretamente de que a qualidade dos arcontes tivesse baixado; vide também E. Badian, Antichthon, 5 (1971), pp. 319ss.
25 Greek Historical Inscriptions, n. 27; esse monumento foi levado por Constantino à sua nova capital e ainda está em Istambul.
26 Heródoto 7. 161, 140-43.
27 Heródoto 7. 144 utiliza o termo técnico edoxe.
28 Heródoto 7. 139; Wallace, Areopagus Council, p. 78, e muitos outros rejeitam o pagamento de oito dracmas (Constituição dos atenienses 23), mas ele se encaixa bem demais com o padrão da cunhagem ateniense para ser posto de lado.
29 Na abundante literatura a respeito destes acontecimentos, C. Hignett, Xerxes’ Invasion of Greece (Oxford, 1963) e A. J. Podlecki, The Life of Themistocles (Montréal, 1975), podem bastar.
30 Tucídides 7. 21; cf. 1. 18.
31 Whitehead, The Ideology of the Athenian Metic (Cambridge, 1971); a recusa deliberada por parte dos metecos de participar da vida pública é ilustrada em Eurípides, Suplicanles 888-900.
32 Heródoto 9. 5.
33 J. M. Balcer, “Athenian Politics: The Ten Years after Marathon”, in Panathenaia (Lawrence, Ks., 1979), pp. 27-49.
34 Badian, Classical Views, 32 (1988), pp. 304-10, defendeu recentemente a ideia de Hammond (Historia 4, [1955]. pp. 371-81) de que houve duas expedições atenienses em auxilio aos espartanos, mas não consigo convencer-me de que a narrativa de Diodoro (11. 63-64) possa assim ser salva; Badian, p. 316, talvez esteja mais justificado em sua asserção de que as reformas de Efialtes não foram aprovadas na ausência de Címon, como se costuma alegar.
35 O trabalho padrão acerca da história do império ateniense é R. Meiggs, The Athenian Empire (Oxford, 1972), mas devemos também citar o magistral estudo de J. de Romilly, Thucydides and Athenian Imperialism (Oxford, 1963).
36 A mais recente discussão sobre as reformas de Efialtes é G. L. Cawkwell, “Nomophulakia and the Areopagus”, Journal of Hellenic Studies, 108 (1988). pp. 1-12, com referências completas às limitadas fontes e bibliografia moderna, inclusive a tentativa mal orientada de Ruschenbuch de retirar as reformas da história ateniense.
37 Plutarco, Címon 15. 1; Aristóteles, Política 5.4 (a interpolação entre colchetes é de Barker). Cawkwel duvida do renascimento da autoridade do Areópago, mas apresenta um bom exame da elasticidade da “guarda das leis”.
38 Wallace, Areopagus Council, pp. 83-87, é um tanto sumário, mas aceita a retirada da eisangelia da jurisdição do Areópago (acerca da nomophylakía, vide pp. 55-61).
39 Rhodes, Boule, c. 4; Ostwald, Sovereignty, pp. 50-53; R. Sealey, “Ephialtes, Eisangelia, and the Council”, in Classical Contributious: Studies in Honor of M. F. McGreyor (Locust Valley, 1981), pp. 125-34. Sobre a eiúthyna, vide J. T. Roberts, Accountability in Athenian Government (Madison, 1982).
40 Ostwald, Sovereignty, p. 43, sintetiza as evidências sobre o desenvolvimento dokimasía; como ressalta Wallace, Areopagus Council, p. 67, suas origens têm data incerta.
41 Ostwald, Sovereignty, p. 51; M. H. Hansen, Eisangelia (Odense, 1975).
42 Grote, History of Greece, 4 (2 ed.; Londres, 1869). p. 459; Busolt, Griechische Staatskunde, p. 896: Rhodes. Boule, p. 62; sobre os perigos, vide Hansen, Assembly. p. 59. Andócides 1. 17 é a primeira referência a seu uso; Ober, Mass and Elite, p. 95, recentemente a datou de 427-15.
43 Constituição dos atenienses 63-69 descreve integralmente os complexos procedimentos dos tribunais. S. Dow, Harvard Studies in Classical Philology, 50 (1939). pp. 1-34, exibe uma engenhosidade magistral em sua reconstrução das máquinas de sorteio a partir das evidências materiais; J. H. Kroll, Athenian Bronze Allotment Plates (Cambridge, Mas., 1972) estudou os bilhetes dos jurados.
44 Cawkwell, p. 11.
45 Davies, Athenian Propertied Families, pp. 455ss.
46 O argumento de S. C. Humphreys, The Family (Londres, 1983), pp. 24-25, de que a lei foi concebida para obstar a tendência que os aristocratas tinham de fazer casamentos inter-nacionais pode impressionar pela excessiva engenhosidade.
47 Vide o recente estudo de A. Andrewes, “The Opposition to Pericles”, Journal of Hellenic Studies, 98 (1978), pp. 1-8, embora eu não possa aceitar todas as suas ideias; também H D. Meyer, Historia, 16 (1967), pp. 141-54.
48 Plutarco, Péricles 7. 2, 8. 4.
49 De Romilly, Thucydides and Athenian Imperialism, p. 79; nas páginas 71-73, ela corretamenie não leva em conta as tentativas de G. B. Grundy e outros de encontrar motivos econômicos para o imperialismo ateniense.
50 Greek Historical Inscriptions, n. 45; meu Athenian Coinage, 480-449 B. C. (Oxford, 1970), pp. 68-70; os ensaios de D. M. Lewis e H, B. Mattingly em Coinage and Administration in the Athenian and Persian Empires, org. I. Carradice (BAR International Series n. 343, 1987).
51 Greek Historical Insciptions, n. 40.
52 Greek Historical Inscriptions, n. 52; Velho Oligarca 1. 17. Vide também G. E. M. de Ste. Croix, “Jurisdiction in the Athenian Empire”, Classical Quarterly, 11 (1961), pp. 94-112, 268-80.
53 F. Frost, Journal of Hellenic Studies, 84 (1964), pp. 69-72. e Historia, 13 (1964). pp. 385-99; P. Krentz, Historia, 33 (1983). pp. 502-03. E. Derenne, Les Process d’impiété intentés aux philosophes à Athènes au V et au IV siècles avant J.-C. (Liège, 1930) continua util.
54 Tucídides, 2. 65.
55 A. W. Gomme, s. v, Pericles em Oxford Classical Dictionary (2a. ed; Oxford, 1970).
56 Não se deve perder de vista a demonstração de P. A. Stadter (The Speeches in Thucyades, Chapel Hill, 1973) de que Plutarco, em sua Vida de Péricles, nunca citou esse discurso como se refletisse o ponto de vista de Péricles, ainda. que se refira a ele em seus ensaios morais.
57 Plutarco, Péricles 7, 9; Tucídides, passim; Teléclides frags. 42, 44 (T. Koch, Comicorum Alticorum Fragmenta [Leipzig, 1980]. p. 220).
58 M. Ostwald, Autonomia: Its Genesis and Early History (Chico, Calif., 1982); V. Ehrenberg Greek State (Oxford, 1960), parte I; meu ensaio “Athens and its Empire”, Classical Journaç 83 (1988), pp. 114-23.
59 Os acontecimentos relacionados especificamente à assembleia durante a Guerra do Peloponeso serão mencionados nos próximos capítulos; dentre os muitos estudos modernos, E. Will, Le Monde grec et l’Orient: le V siècle (Paris, 1972), pp. 315ss., é uma análise lúcida.
Leia o Capítulo 3