Profa. Dra. Gilda Naécia Maciel de Barros
Revista Internacional d´Humanitats 10
CEMOrOCFeusp / Núcleo HumanidadesESDC / Univ. Autónoma de Barcelona 2006
“O saber, gnosis, não é para Platão mera contemplação desligada da vida, mas convertese em tekhne, arte, e em phronesis, reflexão sobre o verdadeiro caminho, a decisão acertada, a meta autêntica, os bens reais.”
W. Jaeger. Paideia, p. 1199
Tratar da Carta VII, atribuída a Platão, implica, sobretudo, em estabelecer uma correlação importante na história cultural e política grega entre o filósofo, o tirano e o poder.
Na vida da cidade antiga, em certas circunstâncias, o sábio, de um lado, político, de outro, assomam na condição de homem superior, por suas qualidades pessoais singulares e intransferíveis, ocupando um lugar privilegiado na comunidade, com a qual podem interagir na qualidade de conselheiro, ou mesmo protetor, que a dirige e a salva na ocasião de perigo.
Nos primeiros tempos, o sábio identificase sobretudo com o poeta e legislador, como é o caso de Sólon, em Atenas, ou mesmo com o xamã, lembrando a figura instigante de Epaminondas de Creta. Na época clássica esse homem superior continua a exercer o seu fascínio, mas agora sob outras cores. Para o sofista Protágoras (séc. V a.C.), por exemplo, essa figura é o político inteligente que define o que é útil para a comunidade considerando sempre a conveniência do momento (kairo/j). Para Isócrates, mestre de eloquência e grande formador de homens de Estado, (séc. IV a.C.), conselheiro assumido do rei de Chipre, Evágoras, e de seu filho Nícocles, o sábio pode e deve ser o educador do rei. Para Platão, para quem apenas o saber pode dar fundamento e legitimidade ao poder, esse homem superior é o filósofo, capaz de dar à coletividade a lei conforme a reta razão, porque alcançou, por meio de um longo processo de formação, o conhecimento da essência da justiça (1).
Todavia, a possibilidade de o destino da cidade ser entregue ao tirano e de o tirano ser instruído pelo sábio também foi cogitada por Platão, que não apenas considerou a ideia do ponto de vista teórico como não poupou esforços para realizála.
Mas, que aproximação pode ser estabelecida entre sábio e esse governante de regime de exceção? Que intimidade pode nascer entre a filosofia e essa figura do homem forte, geralmente hábil estratego, com dotes superiores, que controla, com a força, o destino de uma comunidade? Até que ponto, na Grécia antiga, a maioria do povo conseguia compreender a ideia platônica da coalescência entre o conhecimento e o poder?
Na verdade, os gregos antigos guardaram uma relação de ambiguidade com a tirania.
Lembrando Burkhardt, diz W. Jaeger que “havia um tirano em cada Grego, e ser tirano constituía para todos tal sonho de felicidade que Arquíloco (2) não achou melhor maneira de caracterizar o seu satisfeito sapateiro do que declarar que ele não aspirava à tirania. Os Gregos achavam que o domínio de um só homem, de bondade realmente invulgar, estava de acordo com a natureza (Aristóteles) e submetiamse a ele de melhor ou pior grado.” (3)
Todavia, do ponto de vista religioso, a tirania violava o ideal grego de medida, de comedimento, ainda que alguns tiranos governassem de forma benevolente, favorecendo o povo com uma política cultural muitas vezes pujante e generosa. Para a consciência moral grega o excesso de poder, concentrado nas mãos de uma só pessoa, quase sempre alcançado e mantido com violência, não podia trazer felicidade duradoura.
Assim, manifestações contra ela podem ser registradas ao longo de toda a história grega, desde a época arcaica, quando o fenômeno fez a sua aparição pela primeira vez. E, como dissemos, embora alguns tiranos tenham desenvolvido políticas de apoio popular, favoráveis ao florescimento não só cultural mas material da comunidade e tenham favorecido as camadas sociais mais desvalidas, a democracia grega, pelos seus princípios, também iria repudiar a tirania, considerando que, em tese, o tirano representa o usurpador do poder, aquele que nele se mantém ao arrepio da norma, a que a sua vontade substitui. Ora, para uma mentalidade que defendia com orgulho o império da lei, essa atitude representava uma agressão indiscutível (4).
Dessa perspectiva, alguns regimes de governo orientais eram vistos com desprezo. A simples ideia de inclinarse diante do soberano, o rei, como se fazia entre alguns povos bárbaros, era, aos olhos gregos, indicativa de subserviência, e um símbolo dessa condição de vassalo. Com maior razão essa conotação se impunha se o poder tivesse sido arrebatado. A tragédia grega é generosa em advertências acerca das desgraças que acompanham o exercício da tirania.
Voltando à época arcaica, lembremonos de que, em Atenas, no século VI a.C., o legislador Sólon, defendendo a participação política responsável, distinguindo em seus poemas princípios essenciais de humanismo, repudiou veementemente a tirania e recusou-se a abraçála quando assumiu o governo (5).
A hostilidade a esse regime é confirmada ainda por uma canção de mesa que circulava nas festas atenienses desde o século VI aC., em louvor da isonomia, cuja salvaguarda a cidade creditava aos jovens Harmódio e Aristogíton, pelo assassínio do tirano Hiparco (514 a.C.) (6). Estátuas em homenagem a eles foram erigidas em praça pública; como se vê, a comunidade reconhecia nos tiranicidas heróis cívicos (7).
No século IV a.C., textos sobre atos oficiais da época ilustram a importância que se atribuía ao império da lei e a repulsa à tirania. Um deles é o juramento do cidadão que atuava como juiz (heliasta) no tribunal do povo (Helieia) (8) em Atenas, o outro, decreto de Eucrates (3376). Ambos referem, no fundo, o mesmo amor à legalidade e à liberdade (9).
Mas na avaliação do historiador moderno o fenômeno da tirania na Grécia recebe uma consideração diferente, conforme a época, a forma e o local em que ocorreu. E, por vezes, positiva. Assim, por exemplo, para Robert Cohen (10), a tirania foi uma instituição fecunda e necessária; J. Burckhardt considera a tirania uma “das formas absolutamente necessárias da ideia grega do Estado” (11). Em algumas poleis gregas, adverte L.Gernet, o tirano apresentase como o patrono do povo (prosta/thj tou= dh=mou) (12).
Do ponto de vista teórico, vários autores gregos antigos teceram considerações sobre esse fenômeno, suas razões e conseqüências e a figura do tirano exerceu mesmo um certo fascínio sobre alguns deles, como é o caso de Xenofonte e de Platão.
No século IV a.C., lembra Jaeger, deparamos repetidas vezes com o problema de saber como converter a tirnaia numa constituição mais suave (13). A ideia de que o tirano podia ser recuperado foi acalentada por alguns, entre os quais o próprio Xenofonte, que nos deixou um interessante diálogo a respeito, intitulado Hieron, no qual o poeta Simônides interpela Hieron acerca de seu estilo de vida e de sua suposta felicidade, abrindo a possibilidade de o tirano vir a exercer o poder com benignidade.
Platão, que nos quadros políticos de seu pensamento filosófico deprecia de forma radical o tirano e seu governo, não desprezou, contudo, a oportunidade de promover a sua reeducação. Conforme os livros VIII e IX da República, onde apresenta uma teoria sobre a decadência do regime perfeito (o governo do rei filósofo), é a tirania que aparece como o último estágio dessa degeneração. Não esclarece se o processo pelo qual os governos degeneram constitui um ciclo, que recomeça, sendo, então, possível passar da tirania para a monarquia/aristocracia (14). Mas é também na República – como faz na Carta VII – que Platão levanta a possibilidade de os reis ou seus filhos serem transformados em filósofos (Rep. 499b). Nas Leis, o jovem tirano bem dotado é visto pelo Legislador (15) como um instrumento privilegiado de reforma política (Leis 709e710 a et sqs) (16). Nesta última obra, Platão considera até a possibilidade de recorrer ao legislador tirano para executar a purificação radical na cidade (735 ce) (17).
A oportunidade de conviver com o tirano e de conhecer suas paixões, Platão a teve quando, por três vezes, tentou converter os Dionísios de Siracusa à filosofia. Foi vítima do arbítrio de ambos. Essa experiência, que pode ser conhecida pela leitura da Carta VII, compreendeu um período significativo de sua vida, dos quarenta aos sessenta e oito anos, quando construiu as grandes linhas de sua filosofia e foi consolidando suas ideias acerca do poder, da justiça e da felicidade.
Vejamos os fatos e o contexto relativos a essa experiência.
Todas as vezes em que Platão foi à Sicília o objetivo confesso era converter o tirano à filosofia e dar apoio a seu discípulo e amigo Díon, que pretendia transmudar a tirania siracusana em realeza constitucional, misturando autoridade com liberdade, e promovendo uma reforma dos costumes. Díon, siracusano e parente dos tiranos, empenharia sua vida, seus bens e sua honra nesse projeto, que, apesar disso, não vingaria.
Ao tempo da Carta VII, de que ora tratamos, Díon já está morto (353 a.C.), por traição do ateniense Calipo, companheiro e aliado no golpe que em 357a.C. destronara Dionísio II em Siracusa (18). Platão, sob o impacto dessa perda, dirige o texto aos amigos e parentes de Díon. Apesar de a missiva ter destinatários certos, tratase de uma carta aberta, que, em última análise, representa um depoimento de Platão acerca de sua experiência na Sicília, mais precisamente, em Siracusa, que visitara três vezes, em momentos diferentes de sua vida. Um depoimento e uma justificativa de seu comportamento.
Vejamos os fatos. Por volta de 388/7 a.C. teve início da ação política de Platão na Sicília. Ele tinha quarenta anos e Siracusa era governada por Dionísio I, que se designa também por Dionísio, o velho (430367 a.C.) Dionísio, eleito estratego aos 25 anos (406 a.C.) com plenos poderes, governaria Siracusa como tirano por vários anos (405367), como libertador dos gregos sicilianos da pressão cartaginesa.
Na segunda viagem Platão tem 60 anos (366 a.C.) e, estimulado pela força viril e idealismo de Díon, apresentase diante de um jovem tirano de 25 anos (Dionísio II), mais uma vez esperançoso, na fé de realizar seu projeto políticoeducativo. Mas o tirano, sensível mais a intrigas de amigos da tirania do que aos encantos da filosofia, acabará por desterrar Díon (366365) e lhe reter os bens.
Na terceira viagem (361 a.C.) vem a cair a máscara do tirano.
Platão, agora com sessenta e oito anos, percebe que Dionísio II brinca com a filosofia e articula um pérfido jogo com ele e com seu amigo Díon, pois não apenas proibiulhe a saída de Siracusa como negouse a revogar quaisquer medidas que tomara contra Díon.
Novamente enclausurado e correndo riscos, Platão sente ameaçado o dia de seu regresso à Grécia. Após relatar o estado em que encontrou a corte de Siracusa, o grau de decadência dos costumes e reconhecer o mau caráter de Dionísio, informa: “Foi assim que até aquela data eu trabalhei em prol da filosofia e dos meus amigos. A partir de então, vivemos, eu e Dionísio, da seguinte maneira: eu, olhando para fora, como passarinho impaciente de escapar da prisão; Dionísio, excogitando algum meio de acalmarme, porém sem me entregar a menor parcela dos bens de Dião. E contudo, a Sicília inteirinha nos tinha na conta de grandes amigos.” (Carta VII 347e348 a)
Em 360 a.C., para finalmente deixar Siracusa, Platão vai recorrer aos bons ofícios de seu amigo Arquitas, tirano de Tarento, filósofo e matemático de renome, que, diplomaticamente, obtém a sua libertação.
Quanto a Díon, acusado de conspirar com os cartagineses, por obra e graça da vontade do tirano, estava fadado a não mais ver a luz do dia em Siracusa; Dionísio II prejudicavao sem escrúpulos, moral e materialmente. Divorciandoo da mulher Ariete, roubaralhe a metade dos bens e vendia o restante. O destino de Díon é conhecido: permanecerá na Grécia como exilado político até retornar à Sicília, por iniciativa própria, em ação revolucionária
O epílogo do projeto de Platão e Díon, para recuperação do regime, foi violento: ocupação de Siracusa por Díon, em golpe contra Dionísio II (357 a.C.), que fugiu; curto governo de Díon (4 anos), assassinado 353 a.C., em cilada do ateniense Calipo (19).
Estes, os fatos. Vejamos agora como Platão apresenta e relata estes acontecimentos. O contexto em que devemos compreender a ação política de Platão em Siracusa é explicado pelo próprio Platão. Diz ele, na Carta VII (20): “Quando moço, aconteceu comigo o que se dá com todos: firmei o propósito, tão logo me tornasse independente, de ingressar na política” (324 bc).
Pertencendo a uma família aristocrática, Platão integrava a elite e, nessa condição, naturalmente seu destino seria a política. Todavia, os acontecimentos que se seguiram à derrubada da democracia pelos oligarcas (411 a.c.), à derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso e à violenta tirania dos Trinta (404 a.C.), levaramno a rever suas pretensões (Carta VII 324c325a).
A ilusão, que renascera com a queda dos Trinta, durou pouco. A morte de Sócrates em 399 a.C., a quem julgava o homem mais justo de seu tempo, foi decisiva. Sua decepção, agora, era com a democracia restaurada, que assacava contra seu mestre e amigo uma acusação odiosa, absolutamente imerecida (325bc). Suas esperanças de participar da vida política diminuíam à medida que observava os políticos, as leis e costumes contemporâneos; faltavam amigos e colaboradores confiáveis, aos quais pudesse associarse numa aventura política (325ce). A seus olhos, Atenas era uma cidade em decadência, pois as leis escritas e os costumes se achavam desmoralizados. Platão tudo observava, esperando o momento oportuno para agir.
Considerando irrecuperável a cidade de seu tempo, e incurável sua legislação, eis que formula, então, o princípio fundamental de sua teoria política: “Daí ter sido levado a fazer o elogio da verdadeira filosofia, com proclamar que é por meio dela que se pode reconhecer as diferentes formas da justiça política ou individual. Não cessarão os males para o gênero humano antes de alcançar o poder a raça dos verdadeiros e autênticos filósofos ou de começarem seriamente a filosofar, por algum favor divino, os dirigentes das cidades ”(326 ab) (21).
Nesse ponto, ganha significado a sua experiência em Siracusa, para onde se dirigiu, esperando a conversão do tirano: “Tais eram minhas convicções, quando fui à Itália e a Siracusa pela primeira vez” (326 b).
Essas ideias são apresentadas também por Platão na República, onde se investiga se a justiça é um bem em si e se descreve a cidade justa. A República considera a possibilidade de se educar o filósofo e colocálo no poder, na sociedade justa; a Carta VII referese a um plano para converter o tirano que já está no poder. A República associa o poder (dynamis) ao conhecimento moral (philosophía), que na vida real andam separados (Rep. 473 d). Todavia, aos olhos de Platão, pareceu mais fácil mudar um único homem do que vários ou muitos (Rep. 502 ab). No caso, esperavase que a conversão do tirano resultasse numa reforma do regime e, claro, do próprio estilo de vida do governante.
Como Platão justifica a experiência de Siracusa? Pela necessidade de unir o discurso à ação: não quer ser acusado de ser homem de palavras, apenas (VII 328c).
A oportunidade lhe parecia perfeita. Dionísio I tinha poder, riqueza e um reino; gosto para a filosofia e educação do espírito; talvez conseguisse influenciálo e promover uma vida feliz e verdadeira em todo o país: “Nunca houvera uma ocasião como aquela, de vir a concretizarse nos mesmos homens a união da filosofia e do governo das cidades….também confiava no caráter de Dião, naturalmente firme, por ele já ser de idade madura…. acabou de decidirme a consideração de que era chegado o momento de tentar por em prática meus projetos de legislação e de governo. Bastava persuadir um único homem, para que tudo me saísse bem.” Carta VII, 328 ac.
Platão é enfático quanto à importância que dava ao julgamento de seus contemporâneos sobre seu interesse em aplicar suas ideias: “Com essa viagem, desobrigava me diante de Zeus hospitaleiro e eximia de toda culpa o filósofo que em mim se teria manchado se, por timidez ou comodidade eu me tivesse desmoralizado.” (Carta VII, 329 b).
Este, o contexto em que se desenvolve a ação política de Platão na Sicília.
Vejamos, agora, suas implicações.
Na Carta VII confirmamse certas ideias que reencontramos nos diálogos. Como na República, Platão estabelece a justiça como a viga mestra da alma e da cidade, afirma, como no Fédon e outras obras, a crença na imortalidade da alma e no julgamento que, após a morte, castiga o homem mau. Além disso, como o Sócrates do Górgias, as bases da moral grega, de feição particularista, ele as amplia, preferindo ser vítima de uma injustiça a praticar o mal. (Carta VII 335 ab).
Há, também, na Carta VII, elementos para avaliação da figura do governante ideal o filósofo. Dionísio II julgandose com vocação para a filosofia, posava de filósofo, razão pela qual Platão é instado pelos amigos a voltar pela terceira vez a Siracusa, para conferir in loco e pessoalmente os avanços filosóficos que o tirano proclamava a quatro ventos (Carta VII 340b341 a).
Ora, pela leitura de alguns diálogos (22), que a Carta VII (343 e344 e) confirma, sabemos que Platão exige do aspirante a dialético boas disposições naturais, entre as quais boa memória, facilidade para aprender, e, além de afinidade com o objeto investigado, um bom caráter. Submetido à prova, Dionísio mostrouse a contrafacção do filósofo. A razão disso é apontada pelo próprio Platão, que nega ter expresso por escrito seu pensamento no nível de profundidade alegada pelo tirano (Carta VII 341ce; 344 c). Platão diz na carta VII o que repete em outras passagens de sua obra: os grandes assuntos da filosofia não podem ser vertidos em palavras. Essa sua objeção vai ao encontro da convicção de que o melhor processo para se chegar às ultimas verdades é o diálogo, e mesmo o diálogo pode restringirse, nos últimos estágios da dialética, a um intercurso do espírito consigo mesmo e à intuição imediata do objeto investigado.
Verificase, então, que essa forma de ver o caminho para a verdade se faz acompanhar de uma restrição à escrita. Ora, essa restrição encontrase também no Fedro, onde se lê que o texto escrito guarda apenas uma presunção de sabedoria, porque o conhecimento é sempre localizado na alma do indivíduo. Além disso, o texto escrito não pode responder às objeções do leitor, uma vez que o seu autor está ausente.
A Dionísio II, pois, não teria sido possível expressar textualmente as verdades últimas da filosofia. E há, ainda, uma razão específica para isso, que radica na natureza do assunto envolvido. O ser não pode ser nomeado (Carta VII 343 a): “nenhuma pessoa de senso confiará seus pensamentos a tal veículo, principalmente se este for fixo, como é o caso dos caracteres escritos ” (Carta VII 343 a). O veredicto de Platão é claro: faltou ao pretensioso Dionísio a discrição que vem da sabedoria, uma vez que, sobre assuntos sérios não é para escreverse, despertando a inveja e a incompreensão do público (Carta VII 344 ce). É leviandade, por “haver ficado retido o pensamento na porção mais nobre da alma” (Carta VII 344 d).
O raciocínio de Platão é simples: se de fato Dionísio aprendeu sobre tais elevados temas, não pôde ter escrito sobre eles (Carta VII 344 de); nem necessita de escrita, pois se trata de verdades inesquecíveis, que transformam a vida. O que, sem dúvida, para desgosto de Platão, não aconteceu com o tirano.
Enfim, a Carta VII, posta à margem a hoje arrefecida questão de sua autenticidade, reforça aspectos interessantes de nosso conhecimento sobre a vida e obra de Platão, às quais não teriam faltado, então, unidade e coerência. De alguma forma, com essa carta, Platão pretendeu responder à crítica e ao preconceito contra a filosofia, e dirimir a dúvida sobre a sua aptidão para aconselhar a comunidade. Em última análise a Carta VII nos diz que os filósofos não são inúteis, mas benfeitores da polis, mesmo quando os tiranos se mostram arredios ao poder sedutor da filosofia.
Essa conclusão pode ser consoladora. Porque reavalia a experiência de Siracusa, confirmando a coerência do filósofo, ainda que a questão da fracassada conversão dos Dionísios possa configurar também a tragédia da paideia.
Referências
(1) Esse longo caminho (makro/j o (do/j) de estudos implica dez anos de matemáticas e cinco de dialética, seguidos de quinze anos ativos na vida cívica, preparatórios para a chefia da polis. Cf. livros VI e VII da República.
(2) De Paros, poeta lírico do século VII a.C.
(3) Paideia, cap. sobre A política cultural dos tiranos, ed. citada, p. 254.
(4) Cf. Eurípides, Suplicantes, vv. 399461..
(5) Cf.”… Se poupei a terra/pátria, se não me entreguei à amarga violência da tirania,/ manchando e desonrando minha boa fama,/ não me envergonho: penso que assim venci melhor/ todos os homens. …” cf texto completo em Tetrâmetros fr. 23, in Sólon de Atenas A cidadania antiga.S.Paulo:Humanitas FFLCH/USP, 1999, p. 173 et sqs, trad. Gilda Naécia Maciel de Barros.
(6) frs. 893896 Page, in Polis. Trad. de José Ribeiro Ferreira. Instituto de Estudos Clássicos. Coimbra, 1989.
(7) Feitas por Antenor, exibidas na agora ateniense, as estátuas, saqueadas pelos persas, foram depois reapresentadas por Crítios e Nesíotes, que esculpiram em bronze o grupo dos Tiranicidas. Cf. A. Jardé, A Grécia Antiga e a Vida Grega. Trad. Gilda Maria Reale Starzynski. S.Paulo: E.P.U.:EDUSP, 1977.
(8) Cf. Eu votarei em conformidade com as leis e com os decretos do povo ateniense e da Boulé dos Quinhentos, e não darei o meu voto nem a um tirano, nem à oligarquia. E alguém derrubar a democracia ateniense, ou fizer uma proposta, ou submeter um decreto nesse sentido, eu não o seguirei. ….” Demóstenes, Contra Timócrates 1489 (texto interpolado, mas não posterior ao fim do séc. IV).Cf. Claude Mossé – As Instituições Gregas, Lisboa: Edições 70, 1985
(9) “Se alguém se sublevar contra o povo para estabelecer a tirania, ou se participar numa conspiração para esse fim, ou se derrubar o povo ateniense ou a democracia, aquele que der a morte a um tal criminoso será purificado de qualquer mácula. ….” Cf.Hesperia, XXI, 1952, p.. 335, n. 5, POUILLOUX, N. 32. Apud Claude Mossé – As Instituições Gregas, Lisboa: Edições 70, 1985 .
(10) Nouvelle Histoire Grecque. Hachette, 1935, p.6465.
(11) Historia de la Cultura Griega. t. 1. Obras Maestras.Barcelona:Editorial Iberia, 1947, pp. 2289.
(12) L.. Gernet, ed. cit., p. 226.
(13) “O termo grego para expressar a benignidade é prao/thj e o adjectivo é pra=oj, Cf. Paideia, A educação do príncipe, pg. 1048 nota 14.
(14) Na opinião de E. Barker, a República e as Leis favorecem a interpretação de que o ciclo recomeça. Ele lembra duas passagens: República 499 b e Leis 709 e p. 315, n. 1
(15) Esse legislador deve ser o filósofo, pois aparece no texto com o epíteto: participante da verdade ( ….to\n nomoqe\thn a)lhqei/aj…).
(16) “Daime uma cidade, nos diria, governada por um tirano, mas que seja jovem e naturalmente dotado de boa memória, facilidade de aprender, coragem e magnanimidade, e que aquilo a que nos referimos há pouco como devendo acompanhar as partes da virtude se encontre também presente em sua alma, para que tudo o mais possa ser de utilidade.” (No texto, o Ateniense, falando pelo Legislador)
(17) “Para alcançar a purificação desejada, este é o caminho a seguir: dentre os muitos processos conhecidos, uns são fáceis e outros difíceis. Os difíceis, ou sejam, os melhores, poderão ser aplicados pelo legislador que reunir em sua pessoa as funções de tirano. Porém, se não dispuser da autoridade de tirano, o legislador que estabelecer uma constituição e leis novas, e recorer à purificação mais branda, poderá considerarse feliz se colher algum resultado.”
(18) Carta VII 323d324 a.
(19) Desse golpe Platão insiste, na Carta VII, não ter participado.
(20) Todas as citações da Carta VII são da tradução de Carlos Alberto Nunes, in Platão “Diálogos”, vol. V. Col. Amazônica, Universidade do Pará, 1975.
(21) Cf. também República V 473 d; VI
(22) República 506de; Fedro 275 d; 278a; Timeu 28 c
(23) Obs. Utilizamos também as edições Garnier e B. Lettres das Cartas de Platão.
Textos antigos
Platão. Górgias.
A República (livro V). Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983, 4a. ed.
Marginalia Platonica. Introdução. A Carta Sétima. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: Universidade do Pará, 1973
Cartas. Vol V. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: Universidade do Pará, 1980 (23).
Leis. vol.XIIXIII. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: Universidade do Pará, 1980. Trad. Carlos Alberto Nunes.
Obras de Referência
Louis Gernet. Droit et institutions en Grèce Antique. Paris:Flammarion, 1982.
Sir Ernest Barker. Teoria Política Grega. Platão e seus Predecessores. Trad. de Sergio Fernando Guarischi Bath. Brasília:Editora Universidade de Brasília, 1978
W. Jaeger. Paideia. A formação do homem grego.
Victor Ehrenberg. L’état grec. Trad. de ClairePicavetroos. Paris:François Maspero, 1976. Paul Friedlaender. Platone (EidosPaideiaDialogos). Firenze: La Nuova Italia, 1979.
Em especial Parte Seconda, cap. XIII Sulle lettere platoniche, pp. 313327.
Gilda Naécia Maciel de Barros. Platão: o filósofo e o poder. In Platão, Rousseau e o Estado Total. São Paulo:T.A.Queiroz, Editor, 1996.


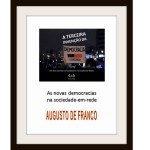
Deixe seu comentário