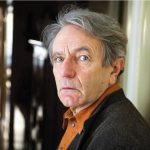AS RAZÕES DE UM ÓDIO
Jacques Rancière (2005), ultimo capítulo do livro O Ódio à Democracia.
Tradução de Mariana Echalar para Editorial Boitempo: São Paulo, 2014.
Preparação da versão digital do texto: Severino Lucena, 2019.
Agora podemos voltar aos termos do nosso problema inicial: vivemos em sociedades e Estados que se denominam “democracias” e, por esse termo, distinguem-se das sociedades governadas por Estados sem lei ou pela lei religiosa. Como compreender que, no interior dessas “democracias”, uma intelligentsia dominante, cuja situação não é desesperada e que pouco aspira a viver sob outras leis, acuse dia após dia, entre todas as desgraças humanas, um único mal, chamado democracia?
Consideremos as coisas em ordem. O que queremos dizer exatamente quando dizemos que vivemos em democracias? Estritamente entendida, a democracia não é uma forma de Estado. Ela está sempre aquém e além dessas formas. Aquém, como fundamento igualitário necessário e necessariamente esquecido do Estado oligárquico. Além, como atividade pública que contraria a tendência de todo Estado de monopolizar e despolitizar a esfera comum. Todo Estado é oligárquico. O teórico da oposição entre democracia e totalitarismo concorda sem nenhuma dificuldade: “Não se pode conceber regime que, em algum sentido, não seja oligárquico” (1). Mas a oligarquia dá à democracia mais ou menos espaço, é mais ou menos invadida por sua atividade. Nesse sentido, as formas constitucionais e as práticas dos governos oligárquicos podem ser denominadas mais ou menos democráticas. Toma-se usualmente a existência de um sistema representativo como critério pertinente de democracia. Mas esse sistema é ele próprio um compromisso instável, uma resultante de forças contrárias. Ele tende para a democracia na medida em que se aproxima do poder de qualquer um. Desse ponto de vista, podemos enumerar as regras que definem o mínimo necessário para um sistema representativo se declarar democrático: mandatos eleitorais curtos, não acumuláveis, não renováveis; monopólio dos representantes do povo sobre a elaboração das leis: proibição de que funcionários do Estado representem o povo; redução ao mínimo de campanhas e gastos com campanha e controle da ingerência das potências econômicas nos processos eleitorais. Essas regras não têm nada de extravagante e, no passado, muitos pensadores ou legisladores, pouco inclinados ao amor irrefletido pelo povo, examinaram-nas atentamente como meios para garantir o equilíbrio dos poderes, dissociar a representação da vontade geral da representação dos interesses particulares e evitar o que consideraram o pior dos governos: o governo dos que amam o poder e são hábeis em se assenhorar dele. Contudo, basta enumerá-los hoje para provocar riso. E com toda razão, pois o que chamamos de democracia é um funcionamento estatal e governamental que é o exato contrário: eleitos eternos, que acumulam ou alternam funções municipais, estaduais, legislativas ou ministeriais, e veem a população como o elo fundamental da representação dos interesses locais; governos que fazem eles mesmos as leis: representantes do povo maciçamente formados em certa escola de administração; ministros ou assessores de ministros realocados em empresas públicas ou semipúblicas; partidos financiados por fraudes nos contratos públicos; empresários investindo uma quantidade colossal de dinheiro em busca de um mandato; donos de impérios midiáticos privados apoderando-se do império das mídias públicas por meio de suas funções públicas. Em resumo: apropriação da coisa pública por uma sólida aliança entre a oligarquia estatal e a econômica. É compreensível que os depreciadores do “individualismo democrático” não tenham o que censurar a esse sistema de predação da coisa e do bem públicos. De fato, essas formas de hiperconsumo dos empregos públicos não dizem respeito à democracia. Os males de que sofrem nossas “democracias” estão ligados em primeiro lugar ao apetite insaciável dos oligarcas.
Não vivemos em democracias. Tampouco vivemos em campos, como garantem certos autores que nos veem submetidos à lei de exceção do governo biopolítico. Vivemos em Estados de direito oligárquicos, isto é, em Estados em que o poder da oligarquia é limitado pelo duplo reconhecimento da soberania popular e das liberdades individuais. Conhecemos bem as vantagens desse tipo de Estado, assim como seus limites. As eleições são livres. Em essência, asseguram a reprodução, com legendas intercambiáveis, do mesmo pessoal dominante, mas as urnas não são fraudadas e qualquer um pode se certificar disso sem arriscar a vida. A administração não é corrompida, exceto na questão dos contratos públicos, em que ela se confunde com os interesses dos partidos dominantes. As liberdades dos indivíduos são respeitadas, à custa de notáveis exceções em tudo que diga respeito à proteção das fronteiras e à segurança do território. A imprensa é livre: quem quiser fundar um jornal ou uma emissora de televisão com capacidade para atingir o conjunto da população, sem a ajuda das potências financeiras, terá sérias dificuldades, mas não será preso. Os direitos de associação, reunião e manifestação permitem a organização de uma vida democrática, isto é, uma vida política independente da esfera estatal. Permitir é evidentemente uma palavra ambígua. Essas liberdades não são dádivas dos oligarcas. Foram conquistadas pela ação democrática e sua efetividade somente é mantida por meio dessa ação. Os “direitos do homem e do cidadão” são os direitos daqueles que os tornam reais.
Os espíritos otimistas deduzem disso que o Estado oligárquico de direito realiza esse equilíbrio bem-sucedido dos contrários por onde, segundo Aristóteles, os maus governos se aproximam do impossível bom governo. Uma “democracia” seria, em resumo, uma oligarquia que dá à democracia espaço suficiente para alimentar sua paixão. Os espíritos melancólicos invertem o argumento. O governo pacífico da oligarquia desvia as paixões democráticas para os prazeres privados e as torna insensíveis ao bem comum. Basta ver o que vem acontecendo na França, dizem. Temos uma constituição admiravelmente feita para que nosso país seja bem governado e fique feliz em sê-lo: o chamado sistema majoritário elimina os partidos extremos e dá aos “partidos de governo” o meio de governar em alternância: desse modo, permite à maioria — isto é, à minoria mais forte — governar sem oposição durante cinco anos e tomar, para a garantia da estabilidade, todas as medidas que, para o bem comum, o imprevisto das circunstâncias e a previsão de longo prazo exigem. De um lado, essa alternância satisfaz o gosto democrático pela mudança. De outro, como os membros desses partidos de governo estudaram a mesma coisa nas mesmas escolas de onde saem também os especialistas em gestão da coisa comum, tendem a adotar as mesmas soluções que fazem a ciência dos especialistas primar sobre as paixões da multidão. Cria-se assim uma cultura do consenso que repudia os conflitos antigos, habitua a objetivar sem paixão os problemas de curto e longo prazo que as sociedades encontram, a pedir soluções aos especialistas e discuti-las com os representantes qualificados dos grandes interesses sociais. Infelizmente, todas as boas coisas têm seu anverso: a multidão desobrigada da preocupação de governar fica entregue a suas paixões privadas e egoístas. Ou os indivíduos que a compõem se desinteressam do bem público e se abstém de votar nas eleições, ou as abordam unicamente do ponto de vista de seus interesses e caprichos de consumidores. Em nome de seus interesses corporativistas imediatos, opõem greves e manifestações às medidas que visam garantir o futuro dos sistemas de aposentadoria; em nome de seus caprichos individuais, escolhem nas eleições o candidato que mais lhes agrada, da mesma maneira que escolhem entre os inúmeros tipos de pão que as padarias descoladas oferecem. O resultado é que os “candidatos de protesto” ganham mais votos do que os ‘‘candidatos de governo”.
Poderíamos objetar muitas coisas a esse raciocínio. O inevitável argumento do “individualismo democrático” é contestado aqui, como em qualquer parte, pelos fatos. Não é verdade que assistimos a um avanço inelutável da abstenção. Ao contrário, deveríamos ver o sinal de uma constância cívica admirável no número elevado de eleitores que continuam a se mobilizar para escolher entre representantes equivalentes de uma oligarquia de Estado que deu tantas provas de mediocridade, quando não de corrupção. E a paixão democrática que incomoda tanto os “candidatos de governo” não é um capricho dos consumidores, é simplesmente o desejo de que a política signifique mais do que uma escolha entre oligarcas substituíveis. Mas é melhor considerar o argumento a partir de seu ponto forte. O que ele nos diz é, na realidade, muito simples e exato: o admirável sistema que dá à minoria mais forte o poder de governar sem distúrbios e criar uma maioria e uma oposição que estão de acordo com as políticas a ser praticadas tende à paralisia da própria máquina oligárquica. O que causa essa paralisia é a contradição entre dois princípios de legitimidade. De um lado, nossos Estados oligárquicos de direito referem-se a um princípio de soberania popular. Essa noção, é claro, é ambígua tanto em seu princípio quanto em sua aplicação. A soberania popular é uma maneira de incluir o excesso democrático, transformar em arkhé o princípio anárquico da singularidade política — o governo dos que não têm título para governar. E ela encontra sua aplicação no sistema contraditório da representação. Mas a contradição nunca matou aquilo que tem a tensão dos contrários como o próprio princípio de sua existência. Bem ou mal, a ficção do “povo soberano” serviu como traço de união entre a lógica governamental e as práticas políticas que são sempre práticas de divisão do povo, de constituição de um povo suplementar em relação ao que está inscrito na constituição, representado por parlamentares ou encarnado no Estado. A própria vitalidade de nossos parlamentos foi alimentada e sustentada no passado pelos partidos operários que denunciavam a mentira da representação. Foi alimentada e sustentada pela ação política extraparlamentar ou antiparlamentar que fazia da política um domínio de opções contraditórias, remetendo não só a opiniões, mas a mundos opostos. É esse equilíbrio conflituoso que está em questão hoje. A longa degenerescência e o brutal desmoronamento do sistema soviético, assim como o enfraquecimento das lutas sociais e dos movimentos de emancipação, permitiram que se instalasse a visão consensual contida na lógica do sistema oligárquico. Segundo essa visão, há apenas uma única realidade, que não nos dá a escolha de interpretar e nos pede somente respostas adaptadas, que são sempre as mesmas, quaisquer que sejam nossas opiniões e aspirações. Essa realidade se chama economia; em outras palavras, a ilimitação do poder da riqueza. Vimos a dificuldade com que essa ilimitação fornece o princípio do governo. Contudo, por menos que se consiga dividir o problema em dois, ele pode ser resolvido e essa solução pode dar ao governo oligárquico a ciência real com que ele sonhou em vão até então. Se, de fato, a ilimitação do movimento da riqueza é posta como a realidade incontornável de nosso mundo e de seu futuro, cabe aos governos preocupados com uma gestão realista do presente e uma previsão arrojada do futuro eliminar o freio que a inércia existente no interior dos Estados nacionais contrapõe a seu livre desenvolvimento. Inversamente, porém, como esse desenvolvimento é sem limites, não se preocupa com o destino particular desta ou daquela população ou fração de população no território deste ou daquele Estado. Cabe aos governos desses Estados limitá-lo, submeter a força incontrolável e ubíqua da riqueza aos interesses dessas populações.
Suprimir os limites nacionais pela expansão ilimitada do capital, submeter a expansão ilimitada do capital aos limites das nações: na conjunção dessas duas tarefas define-se a figura finalmente descoberta da ciência real. Ainda será impossível encontrar a medida certa da igualdade e da desigualdade e, por essa base, evitar a suplementação democrática, ou seja, a divisão do povo. Em compensação, governantes e especialistas acham possível calcular o bom equilíbrio entre o limite e o ilimitado. É o que se denomina modernização. Esta não é uma simples tarefa de adaptação dos governos às duras realidades do mundo. Ela é também o casamento do princípio da riqueza com o princípio da ciência que fundamenta a nova legitimidade oligárquica. Nossos governantes estabelecem para si mesmos como tarefa fundamental — ao menos no curto lapso de tempo que a batalha para conquistar e conservar o poder lhes dá — gerir os efeitos locais da necessidade mundial sobre a população. Isso significa que a população a que diz respeito essa gestão deve constituir uma totalidade una e objetivável, ao contrário do povo das divisões e das metamorfoses. O princípio da escolha popular torna-se então problemático. Sem dúvida, importa muito pouco, na lógica consensual, que a escolha popular designe um oligarca de direita ou de esquerda. Mas existe o risco de que as soluções que dependem exclusivamente da ciência dos especialistas sejam submetidas a essa escolha. A autoridade de nossos governantes é pega então entre dois sistemas de razões opostas: ela é legitimada, de um lado, pela virtude da escolha popular e, de outro, pela capacidade dos governantes de escolher as soluções certas para os problemas das sociedades. Ora, as soluções certas são reconhecidas pelo fato de que não precisam ser escolhidas, pois decorrem do conhecimento do estado objetivo das coisas, que é assunto para o saber especialista, e não para a escolha popular.
Já passou o tempo, portanto, em que a divisão do povo era suficientemente ativa e a ciência era suficientemente modesta para que os princípios opostos preservassem sua coexistência. Hoje, a aliança oligárquica da riqueza e da ciência exige todo o poder e não admite que o povo ainda possa se dividir e se multiplicar. Mas a divisão que é expulsa dos princípios retorna por todos os lados. Ela retorna no crescimento dos partidos de extrema direita, dos movimentos identitários e dos fundamentalismos religiosos, que apelam, contra o consenso oligárquico, ao velho princípio do nascimento e da filiação, a uma comunidade enraizada na terra, no sangue e na religião dos antepassados. Ela retorna também na multiplicidade dos combates que rejeitam a necessidade econômica mundial da qual se vale a ordem consensual para questionar mais uma vez os sistemas de saúde e de aposentadoria ou o direito do trabalho. Ela retorna enfim no próprio funcionamento do sistema eleitoral, quando as soluções únicas que se impõem tanto aos governantes quanto aos governados são submetidas à escolha imprevisível destes últimos. O recente referendo europeu forneceu a prova. Para os que submeteram a questão ao referendo, o voto deveria ser entendido segundo o sentido primitivo de “eleição” no Ocidente: uma aprovação dada pelo povo reunido aos que são qualificados para guiá-lo. E ele deveria fazer isso, sobretudo, porque a elite dos especialistas de Estado afirmavam unanimemente que a questão não tinha cabimento, bastava seguir a lógica dos acordos já existentes e em conformidade com os interesses de todos. A principal surpresa do referendo foi a seguinte: uma maioria de votantes considerou, ao contrário, que a questão era pertinente, dizia respeito, não à adesão da população, mas à soberania do povo e este, portanto, podia responder tanto “sim” quanto “não”. Sabemos o que aconteceu depois. Sabemos também que os oligarcas, seus especialistas e seus ideólogos encontraram a explicação para esse infortúnio, assim como para todos os problemas do consenso:
Se a ciência não consegue impor sua legitimidade, é por causa da ignorância. Se o progresso não progride, é por causa dos retardatários. Uma palavra infinitamente repetida por todos os intelectuais, resume essa explicação: “populismo”. Com esse termo, tenta-se classificar todas as formas de secessão em relação ao consenso dominante, quer se refiram à afirmação democrática, quer aos fanatismos raciais ou religiosos. E tenta-se dar ao conjunto assim constituído um único princípio: a ignorância dos atrasados, o apego ao passado, seja ele o das vantagens sociais, dos ideais revolucionários ou da religião dos antepassados. Populismo é o nome cômodo com que se dissimula a contradição entre legitimidade popular e científica, a dificuldade do governo da ciência para aceitar as manifestações da democracia e mesmo a forma mista do sistema representativo. Esse nome mascara e ao mesmo tempo revela a grande aspiração da oligarquia: governar sem povo, isto é, sem divisão do povo; governar sem política. E permite ao governo científico exorcizar a velha aporia: como a ciência pode governar aqueles que não a entendem? Essa pergunta de sempre encontra outra mais contemporânea: como se determina exatamente essa medida, da qual o governo especialista declara conhecer o segredo, entre o bem proporcionado pela ilimitação da riqueza e o bem proporcionado por sua limitação? Em outras palavras, como exatamente se opera na ciência real a combinação entre duas vontades de liquidação da política, a que se deve às exigências da ilimitação capitalista da riqueza e a que se deve à gestão oligárquica dos Estados-nação?
Pois, na diversidade de suas motivações e na incerteza de suas formulações, a crítica da “globalização”, a resistência à adaptação de nossos sistemas de proteção e previdência sociais a suas imposições ou a rejeição das instituições supraestatais tocam o mesmo ponto sensível: qual é exatamente a necessidade em nome da qual se realizam essas transformações? Que o crescimento do capital e os interesses dos investidores tenham leis que dependem de uma matemática acadêmica é perfeitamente admissível. Que essas leis entrem em contradição com os limites impostos pelos sistemas nacionais de legislação social é igualmente claro. Mas que sejam leis históricas inelutáveis, às quais seja inútil se opor, e que prometam para as gerações futuras uma prosperidade que vale o sacrifício desses sistemas de proteção, isso não é mais uma questão de ciência, mas de fé. Os partidários mais intransigentes do laissez-faire integral penam algumas vezes para demonstrar que a preservação dos recursos naturais se organizará harmoniosamente pelo jogo da livre concorrência. E, embora seja possível estabelecer por comparações estatísticas que certas formas de flexibilização do direito do trabalho criam no médio prazo mais empregos do que eliminam, é mais difícil demonstrar que a livre circulação de capitais que exigem rentabilidade cada vez mais rápida seja a lei providencial que conduzirá a humanidade a um futuro melhor. Isso exige fé. A “ignorância” que se critica no povo é simplesmente sua falta de fé. De fato, a fé histórica mudou de campo. Hoje, parece apanágio dos governantes e de seus especialistas. Isso porque apoia sua compulsão mais profunda, a compulsão natural ao governo oligárquico: a compulsão a se livrar do povo e da política. Declarando-se simples gestores dos impactos locais da necessidade histórica mundial, nossos governos se empenham em rechaçar o suplemento democrático. Inventando instituições supraestatais que não são Estados, que não prestam contas a nenhum povo, eles realizam o fim imanente a sua própria prática: despolitizar os assuntos públicos, situá-los em lugares que sejam não lugares, e não deixam espaço para a invenção democrática de lugares polêmicos. Assim, os Estados e seus especialistas podem se entender tranquilamente entre si. A “constituição europeia” submetida aos infortúnios que já conhecemos ilustra muito bem essa lógica. Um dos partidos favoráveis a sua adoção acreditou que tinha encontrado o slogan perfeito: “O liberalismo não precisa de constituição”. Infelizmente para ele, era verdade: o “liberalismo”, ou melhor, para chamar as coisas pelo nome, o capitalismo não exige tanto (2). Para funcionar, não precisa que a ordem constitucional se declare fundamentada na “concorrência desregulamentada”, isto é, na circulação livre e ilimitada dos capitais. Basta que ela tenha liberdade para operar. O casamento místico do capital com o bem comum é inútil para o capital. Ele serve, em primeiro lugar, ao fim perseguido pelas oligarquias estatais: a constituição de espaços interestatais livres da servidão da legitimidade nacional e popular.
A necessidade histórica inelutável nada mais é, na verdade, que a conjunção de duas necessidades: uma própria ao crescimento ilimitado da riqueza e outra própria ao crescimento do poder oligárquico. Pois o suposto enfraquecimento dos Estados-nação no espaço europeu ou mundial é uma perspectiva enganosa. A nova partilha dos poderes entre capitalismo internacional e Estados nacionais tende bem mais para o fortalecimento dos Estados do que para seu enfraquecimento (3). Os mesmos Estados que abdicam de seus privilégios diante da exigência da livre circulação dos capitais imediatamente os recuperam para fechar suas fronteiras à livre circulação dos pobres do planeta em busca de trabalho. E a guerra declarada ao “Estado-providência” revela a mesma ambivalência. Ela é apresentada comodamente como o fim de uma situação de assistência e a volta da responsabilidade dos indivíduos e das iniciativas da sociedade civil. Finge-se considerar benefícios abusivos de um Estado paternalista e tentacular instituições de previdência e solidariedade nascidas dos combates operários e democráticos e geridas ou cogeridas por representantes dos contribuintes. E, lutando contra esse Estado mítico, atacam-se precisamente instituições de solidariedade não estatais que eram também os lugares de formação e exercício de outras competências, outras capacidades para cuidar do comum e do futuro comum que não as das elites governamentais. O resultado é o fortalecimento de um Estado que se faz diretamente responsável pela saúde e pela vida dos indivíduos. O mesmo Estado que combate as instituições do Welfare State mobiliza-se para que o tubo de alimentação de uma mulher em estado vegetativo prolongado seja religado. A liquidação do pretenso Estado providencia não é o recuo do Estado. É a redistribuição entre a lógica capitalista do seguro e a gestão estatal direta, de instituições e funcionamentos que se interpunham entre as duas. A oposição simplista entre assistência estatal e iniciativa individual serve para mascarar as duas implicações políticas do processo e os conflitos que ele suscita: a existência de formas de organização da vida material da sociedade que escapam da lógica do lucro; e a existência de lugares de discussão dos interesses coletivos que escapam do monopólio do governo científico. Sabemos quão presentes estiveram essas implicações nas greves do outono de 1995 na França. Para além dos interesses particulares das corporações em greve e dos cálculos orçamentários do governo, o movimento “social” mostrou ser um movimento democrático, porque colocava em seu centro a questão política fundamental: a competência dos “incompetentes”, da capacidade de qualquer um de julgar relações entre indivíduos e coletividade, presente e futuro.
Foi por isso que a campanha que opunha o interesse comum ao egoísmo retrógrado de corporações privilegiadas falhou, assim como a ladainha “republicana” sobre a distinção do político e do social. Um movimento político é sempre um movimento que confunde a distribuição dada do individual e do coletivo e a fronteira admitida do político e do social. A oligarquia e seus especialistas cansam de vê-lo em sua iniciativa para fixar a distribuição dos lugares e das competências. Mas o que estorva a oligarquia também dificulta o combate democrático. Dizer que um movimento político é sempre um movimento que desloca as fronteiras, que extrai o componente propriamente político, universalista, de um conflito particular de interesses em tal ou tal ponto da sociedade, é dizer que sempre corre o risco de permanecer confinado no conflito, a levar unicamente à defesa dos interesses de grupos particulares em combates cada vez mais singulares. Esse dado permanente ganha peso quando é a oligarquia que tem a iniciativa dos confrontos, quando faz isso com sua dupla face de Estado soberano e Estado “sem poder” e quando traz para seu lado a necessidade da história que no passado dava um horizonte de esperança comum aos combates dispersos. Pode-se argumentar a legitimidade deste ou daquele combate, mas há sempre a dificuldade de ligar essa legitimidade à de outros combates, de construir o espaço democrático de convergência de seu sentido e ação. Os que lutam para defender um serviço público, um sistema de legislação do trabalho, um regime de indenização por desemprego ou um sistema de aposentadoria sempre serão acusados, mesmo que sua luta esteja além de seus interesses particulares, de travar um combate que se restringe ao espaço nacional e fortalece esse Estado que eles exigem que se mantenha fechado. Inversamente, os que afirmam que o movimento democrático excede esse quadro e opõem a esses combates defensivos a afirmação transnacional das multidões nômades acabam militando pela constituição dessas instituições interestatais, desses lugares extraterritoriais em que a aliança entre as oligarquias estatais e as oligarquias financeiras é assegurada.
Os estorvos da oligarquia e as dificuldades da democracia permitem compreender as manifestações intelectuais do furor antidemocrático. Esse furor é particularmente intenso na França, onde existe um partido intelectual declarado como tal, cujo lugar na mídia lhe dá um poder desconhecido em outros países na interpretação cotidiana dos fenômenos contemporâneos e na formação da opinião dominante. Sabemos como esse poder se afirmou após 1968, quando os meios dirigentes da opinião, abalados por um movimento cuja compreensão desafiava os instrumentos intelectuais de que dispunham, iniciaram uma busca febril por intérpretes do que estava acontecendo, na novidade desconcertante dos tempos e nas profundezas obscuras da sociedade (4). A chegada dos socialistas ao poder em 1981 aumentou mais ainda o peso desses intérpretes na formação da opinião, sem que o número de lugares disponíveis fosse suficiente para satisfazer as ambições de uns, sem que outros vissem se traduzir em medidas concretas o interesse que os governantes manifestavam por suas teses. Desde então, esse partido se instalou nessa posição, integrado à gestão da opinião dominante e onipresente nas mídias, mas sem influência sobre as decisões dos governantes, celebrado por suas contribuições, humilhado em suas ambições, sejam elas nobres ou baixas.
Alguns se acomodam a essa função supletiva. Regularmente chamados a explicar à opinião pública o que está acontecendo e o que se deve pensar a respeito, eles oferecem o apoio de sua ciência à formação do consenso intelectual dominante. E o fazem sem nenhuma dificuldade, porque não têm nada que renegar de sua ciência ou de suas convicções progressistas. De fato, a ideia-força do consenso é que o movimento econômico mundial atesta uma necessidade histórica a que devemos nos adaptar e que somente os representantes de interesses arcaicos e ideologias obsoletas podem negar. Ora, essa é também a ideia que fundamenta sua convicção e sua ciência. Acreditam no progresso. Tinham fé no movimento da história quando este levava à revolução socialista mundial. Continuam a ter fé nele agora que leva ao triunfo mundial do mercado. Não é culpa deles se a história se enganou. Assim, podem reaplicar tranquilamente às condições atuais as lições que aprenderam no passado. Provar que o movimento das coisas é racional, o progresso é progressista e só os atrasados se opõem a ele e mostrar em outra perspectiva que a marcha para frente do progresso repele continuamente para o passado os retardatários que atrasam a marcha para frente, esses princípios básicos da explicação histórica marxista aplicam-se às mil maravilhas às dificuldades da “modernização”. Eles legitimaram o apoio de uma ampla fração da opinião intelectual ao governo Juppé durante as greves do outono de 1995 e, desde então, nunca deixaram de ajudar na denúncia dos privilégios arcaicos que atrasam a inevitável modernização que não para de produzir novos arcaísmos. O próprio conceito-rei que anima essa denúncia, o populismo, foi emprestado do arsenal leninista. Ele permite interpretar qualquer movimento de luta contra a despolitização realizada em nome da necessidade histórica como manifestação de uma fração atrasada da população ou de uma ideologia ultrapassada. Mas enquanto houver atrasados, haverá a necessidade de avanços para explicar seu atraso. Os progressistas sentem essa solidariedade, e seu antidemocratismo é moderado por ela.
Outros se acomodam bem menos a essa posição. Para eles, a fé progressista é demasiado ingênua e o consenso, demasiado sorridente. Também beberam na fonte do marxismo. Mas seu marxismo não era o da fé na história e no desenvolvimento das forças produtivas. Em teoria, era o da crítica que mostra o outro lado das coisas — a verdade da estrutura sob a superfície da ideologia ou a da exploração sob a aparência do direito e da democracia. Na prática, era o das classes ou dos mundos que se opõem e da ruptura que divide em dois a história. Portanto, toleram bem menos que o marxismo tenha frustrado suas expectativas, que a história, a má, a que não se interrompe, imponha seu reino. Em relação a ela, em relação aos anos antes e depois de 1968, que foram a última grande erupção do marxismo no Ocidente, seu entusiasmo se transformou em ressentimento. Mas nem por isso renunciaram à tripla inspiração da leitura dos signos, da denúncia e da ruptura. Apenas deslocaram o alvo da denúncia e mudaram de ruptura temporal. Em certo sentido, continuam a criticar a mesma coisa: o que é o reino do consumo, senão o reino da mercadoria? O princípio da ilimitação não é o do capitalismo? Contudo, o ressentimento faz a máquina girar ao contrário, inverte a lógica das causas e dos efeitos. Antigamente, era um sistema global de dominação que explicava os comportamentos individuais. As boas almas lastimavam o proletário que se deixava levar pelas seduções do PMU e dos eletrodomésticos como vítima iludida do sistema que o explorava, ao mesmo tempo que alimentava seus sonhos. Mas uma vez que a ruptura marxista não conseguiu cumprir o que a denúncia exigia, esta se inverteu: os indivíduos não são vítimas de um sistema global de dominação, mas os responsáveis por esse sistema: são eles que fazem reinar a “tirania democrática” do consumo. As leis de crescimento do capital, o tipo de produção e circulação de mercadorias que elas comandam, tornaram-se simples consequência dos vícios daqueles que as consomem e, em particular, daqueles que tem menos meios de consumir. A lei do lucro capitalista reina sobre o mundo porque o homem democrático é um ser de desmedida, devorador insaciável de mercadorias, direitos humanos e espetáculos televisivos. A verdade é que os novos profetas não se queixam desse reino. Eles não se queixam nem das oligarquias financeiras nem das estatais. Eles se queixam, em primeiro lugar, dos que as denunciam. A coisa é fácil de compreender: denunciar um sistema econômico ou estatal é exigir que eles sejam transformados. Mas quem pode exigir que eles sejam transformados, senão esses homens democráticos que reclamam que esses mesmos sistemas não satisfazem seu apetite? É preciso levar a lógica ao extremo. Não só os vícios do sistema são os vícios dos indivíduos cuja vida é regida por ele, como os maiores culpados, os representantes exemplares do vício, são os que querem mudar esse sistema, os que propagam a ilusão de sua possível transformação, para ir ainda mais longe nesse vício. O consumidor democrático insaciável por excelência é o que se opõe ao reino das oligarquias financeiras e estatais. Reconhecemos aí o grande argumento da reinterpretação de Maio de 68, infinitamente repetido por historiadores e sociólogos e ilustrado pelos romancistas de sucesso: o movimento de 1968 foi apenas um movimento da juventude sedenta de liberação sexual e novas maneiras de viver. Como, por definição, a juventude e o desejo de liberdade não sabem nem o que querem nem o que fazem, eles produziram o contrário do que declaravam, mas a verdade do que perseguiam: a renovação do capitalismo e a destruição de todas as estruturas, familiares, escolares ou outras, que se opunham ao reino ilimitado do mercado, penetrando cada vez mais fundo na espinha e no coração dos indivíduos.
Esquecida toda política, a palavra democracia torna-se então o eufemismo que designa um sistema de dominação que não se quer mais chamar pelo nome e ao mesmo tempo o nome do sujeito diabólico que toma o lugar desse nome obliterado: um sujeito compósito, em que o indivíduo que sofre esse sistema de dominação e aquele que o denuncia se misturam. É com os traços combinados de um e de outro que a polêmica desenha o retrato falado do homem democrático: jovem consumidor imbecil de pipoca, reality show, safe sex [sexo seguro], previdência social, direito à diferença e ilusões anticapitalistas ou altermundialistas. Com eles, os denunciantes têm aquilo de que precisam: o culpado absoluto de um mal irremediável. Não um pequeno culpado, mas um grande culpado, que causa não só o império do mercado ao qual os denunciantes se acomodam, mas a ruína da Civilização e da humanidade.
Instala-se então o reino dos praguejadores que misturam as novas formas da publicidade da mercadoria e as manifestações dos que se opõem a suas leis, a tibieza do “respeito da diferença” e as novas formas do ódio racial, o fanatismo religioso e a perda do Sagrado. Qualquer coisa e seu contrário tornam-se a manifestação fatal desse indivíduo democrático que conduz a humanidade a uma perda que os praguejadores lamentam, mas lamentariam mais ainda não ter de lamentar. Desse indivíduo maléfico demonstra-se ao mesmo tempo que ele enterra a civilização das Luzes e termina sua obra de morte, é comunitário e sem comunidade, perdeu o sentido dos valores familiares e o de sua transgressão, o sentido do sagrado e o do sacrilégio. Os velhos temas edificantes são repintados com as cores sulfurosas do inferno e da blasfêmia — o homem não pode prescindir de Deus, liberdade não é permissão, a paz amolece o caráter, o desejo de justiça conduz ao terror. Uns reclamam o retorno dos valores cristãos em nome de Sade; outros unem Nietzsche, Léon Bloy e Guy Debord para defender de modo punk as posições dos evangelistas norte-americanos; os adoradores de Céline postam-se na primeira fila da caça aos antissemitas, que eles entendem simplesmente como os que não pensam como eles.
Certos praguejadores contentam-se com a reputação de lucidez amarga e solidão incorrigível que se ganha quando se repete em coro o refrão do “crime cotidianamente cometido contra o pensamento” (5) pelo homenzinho ou pela mulherzinha ávidos de pequenos prazeres. Para outros, isso são pecadilhos que se devem à democracia. Eles precisam atribuir-lhe verdadeiros crimes ou, melhor, um único crime, o crime absoluto.
Precisam também de uma verdadeira ruptura do curso da história, isto é, mais um sentido da história, um destino da modernidade que se realize na ruptura. Foi assim que, no momento do desmoronamento do sistema soviético, o extermínio dos judeus da Europa tomou o lugar da revolução social como o evento que dividiu em dois a história. Mas para que ele ocupas¬se esse lugar, era necessário eximir os verdadeiros autores de sua responsabilidade. Aqui, na verdade, está o paradoxo: para quem quer transformar o extermínio dos judeus da Europa no evento central da história moderna, a ideologia nazista não é uma causa adequada, porque é uma ideologia reativa, que se opôs ao que parecia caracterizar então o movimento moderno da história— racionalismo das Luzes, direitos humanos, democracia ou socialismo. A tese de Erich Nolte, que transforma o genocídio nazista em uma reação de defesa contra o genocídio do gulag, ele próprio herdeiro da catástrofe democrática, não resolve o problema. Os praguejadores querem, na verdade, ligar diretamente os quatro termos: nazismo, democracia, modernidade e genocídio. Mas transformar o nazismo em realização direta da democracia é uma demonstração delicada, mesmo pelo viés do velho argumento contrarrevolucionário que vê o “individualismo protestante” como a causa da democracia, logo do terrorismo totalitário. E transformar as câmaras de gás na encarnação dessa essência da técnica designada por Heidegger como o destino fatal da modernidade é suficiente para colocar Heidegger do lado “certo”, mas não para resolver o problema: podemos empregar meios modernos e racionais que sirvam a fanatismos arcaicos. Para que o raciocínio funcione, é preciso chegar a uma solução radical: suprimir o termo que impede o encaixe das peças, ou seja, simplesmente, o nazismo. Este se torna, no fim do processo, a mão invisível que trabalha pelo triunfo da humanidade democrática, livrando-a de seu inimigo íntimo, o povo fiel à lei da filiação, para permitir que ela realize seu sonho: a procriação artificial a serviço de uma humanidade dessexualizada. Da pesquisa atual sobre o embrião, deduz-se retrospectivamente a razão do extermínio dos judeus. Desse extermínio, deduz-se que tudo que está ligado ao nome de democracia é apenas a continuação infinita de um único e mesmo crime.
É verdade que essa denúncia da democracia como crime infindável contra a humanidade não tem grandes consequências. Os que sonham com um governo restaurado das elites sob a proteção de uma transcendência recuperada acomodam-se ao todo do estado de coisas existente nas “democracias”. E como elegem como alvo principal os “homenzinhos” que contestam esse estado de coisas, suas imprecações contra a decadência acabam se juntando às admoestações dos progressistas para apoiar os oligarcas gestores que têm de se haver com os humores recalcitrantes desses homenzinhos que obstruem o caminho do progresso, como os burros e os cavalos obstruíam as ruas na cidade democrática de Platão. Por mais radical que queira ser seu dissenso, por mais apocalíptico que seja seu discurso, os praguejadores obedecem à lógica da ordem consensual: a que faz do significante democracia uma noção indistinta, que une em um único todo um tipo de ordem estatal e uma forma de vida social, um conjunto de maneiras de ser e um sistema de valores, arriscando-se a levar ao ponto extremo a ambivalência que nutre o discurso oficial, apoiar, em nome da civilização democrática, as campanhas militares da plutocracia evangelista e, ao mesmo tempo, denunciar com ela a corrupção democrática da civilização. O discurso antidemocrático dos intelectuais de hoje arremata o esquecimento consensual da democracia pelo qual trabalham a oligarquia estatal e a econômica.
Em certo sentido, portanto, o novo ódio à democracia é apenas uma das formas da confusão que afeta o termo. Ele duplica a confusão consensual, fazendo da palavra “democracia” um operador ideológico que despolitiza as questões da vida pública para transformá-las em “fenômenos de sociedade”, ao mesmo tempo que nega as formas de dominação que estruturam a sociedade. Ele mascara a dominação das oligarquias estatais identificando a democracia com uma forma de sociedade e a das oligarquias econômicas assimilando seu império aos apetites dos “indivíduos democráticos”. Assim, pode atribuir circunspectamente os fenômenos de agravamento da desigualdade ao triunfo funesto e irreversível da “igualdade de condições” e oferecer à empreitada oligárquica seu ponto de honra ideológico: é necessário lutar contra a democracia, porque a democracia é o totalitarismo.
Mas a confusão não é apenas um uso ilegítimo de palavras que basta corrigir. Se as palavras servem para confundir as coisas, é porque a batalha a respeito das palavras é indissociável da batalha a respeito das coisas. A palavra democracia não foi inventada por um acadêmico preocupado em distinguir por meio de critérios objetivos as formas de governos e os tipos de sociedades. Ao contrário, foi inventada como termo de indistinção, para afirmar que o poder de uma assembleia de homens iguais só podia ser a confusão de uma turba informe e barulhenta, que equivalia dentro da ordem social ao que é o caos dentro da ordem da natureza. Entender o que democracia significa é entender a batalha que se trava nessa palavra: não simplesmente o tom de raiva ou desprezo que pode afetá-la, mas, mais profundamente, os deslocamentos e as inversões de sentido que ela autoriza ou que podemos nos autorizar a seu respeito. Quando nossos intelectuais, diante das manifestações da crescente desigualdade, indignam-se contra os estragos da igualdade, recorrem a um truque que não é novo. Já no século XIX, sob a monarquia censitária ou o império autoritário, as elites de uma França legal, reduzida a 200 mil homens ou submetida a leis e decretos que restringiam todas as liberdades individuais e públicas, assustavam-se seriamente com a “torrente democrática” que arrastava a sociedade. Proibida a democracia na vida pública, elas a viam triunfar nos tecidos baratos, nas carruagens, na canoagem, na pintura ao ar livre, nos novos modos das moças ou nos novos torneados dos escritores (6). Nisso, eles não foram mais inovadores. O par da democracia como forma de governo rígido e como forma de sociedade taxista é o modo original sobre o qual o ódio à democracia se racionalizou com Platão.
Essa racionalização, como se viu, não é a simples expressão de um humor aristocrático. Serve para conjurar uma anarquia ou uma indistinção mais temível que a das ruas invadidas por crianças insolentes ou burros recalcitrantes: a indistinção primeira do governante e do governado, que se revela quando a evidência do poder natural dos melhores ou dos mais bem-nascidos é despida de seu prestígio; a ausência de título particular para o governo político dos homens reunidos, se não precisamente a ausência de título. A democracia é, em primeiro lugar, essa condição paradoxal da política, esse ponto em que toda legitimidade se confronta com sua ausência de legitimidade última, com a contingência igualitária que sustenta a própria contingência não igualitária.
É por isso que a democracia não pode deixar de suscitar o ódio. É por isso também que esse ódio se apresenta sempre com um disfarce: o humor trocista contra os burros e os cavalos nos tempos de Platão, os ataques furiosos contra as campanhas da Benetton ou a emissão de Loft Story (Versão francesa do Big Brother, reality show criado na Holanda em 1999) nos tempos da Quinta República combalida. Por trás dessas máscaras ríspidas ou engraçadas, o ódio tem um objeto mais sério. Ele visa a intolerável condição igualitária da própria desigualdade. Portanto, podemos tranquilizar os sociólogos de profissão ou de humor que dissertam sobre a inquietante situação de uma democracia agora privada de inimigos (7). A democracia não está perto de enfrentar a angústia de tal conforto. O “governo de qualquer um” está fadado ao ódio infindável de todos aqueles que têm de apresentar títulos para o governo dos homens: nascimento, riqueza ou ciência. Hoje, está mais radicalmente fadado a isso do que nunca, porque o poder social da riqueza não tolera mais entraves a seu crescimento ilimitado e porque seus móbeis estão cada dia mais estreitamente articulados aos da ação estatal. A pseudoconstituição europeia o comprova a contrário: não estamos mais nos tempos das sábias construções jurídicas destinadas a inscrever o irredutível “poder do povo” nas constituições oligárquicas. Essa figura do político e da ciência política ficou para trás. Poder estatal e poder da riqueza conjugam-se tendencialmente em uma única e mesma gestão especializada dos fluxos de dinheiro e populações. Eles se empenham juntos para reduzir os espaços da política. Mas reduzir esses espaços, apagar o intolerável e indispensável fundamento do político no “governo de qualquer um”, é abrir outro campo de batalha, ver ressurgir sob uma figura nova e radicalizada os poderes do nascimento e da filiação. Não mais o poder das monarquias e das aristocracias antigas, mas o dos povos de Deus. Esse poder pode se afirmar nu, no terror praticado pelo islamismo radical contra uma democracia identificada com os Estados oligárquicos de direito. Pode apoiar o Estado oligárquico em guerra contra esse terror, em nome de uma democracia assimilada pelos evangelistas norte-americanos à liberdade dos pais de família que obedecem aos mandamentos da Bíblia e se armam para defender sua propriedade. Pode-se afirmar entre nós como salvaguarda, contra a perversão democrática, de um princípio de filiação, que alguns deixam em sua generalidade indeterminada, mas que outros identificam sem nenhuma cerimônia com a lei do povo instruído por Moisés na palavra de Deus.
Destruição da democracia em nome do Corão, expansão belicosa da democracia identificada com a prática do Decálogo, ódio à democracia assimilada ao assassinato do pastor divino. Todas essas figuras contemporâneas têm ao menos um mérito. Através do ódio que manifestam contra a democracia, ou em seu nome, e através das amálgamas às quais submetem sua noção, obrigam-nos a recuperar a força singular que lhe é própria. A democracia não é nem a forma de governo que permite à oligarquia reinar em nome do povo nem a forma de sociedade regulada pelo poder da mercadoria. Ela é a ação que arranca continuamente dos governos oligárquicos o monopólio da vida pública e da riqueza a onipotência sobre a vida. Ela é a potência que, hoje mais do que nunca, deve lutar contra a confusão desses poderes em uma única e mesma lei da dominação. Recuperar a singularidade da democracia é também tomar consciência de sua solidão. A exigência democrática foi sustentada ou dissimulada durante muito tempo pela ideia de uma sociedade nova, cujos elementos seriam formados no próprio seio da sociedade atual. Foi o que “socialismo” significou: uma visão da história segundo a qual as formas capitalistas da produção e da troca já formavam as condições materiais de uma sociedade igualitária e de sua expansão mundial. É essa visão que sustenta ainda hoje a esperança de um comunismo ou de uma democracia das multidões: as formas cada vez mais imateriais da produção capitalista, sua concentração no universo da comunicação formariam desde já uma população nômade de “produtores” de um tipo novo; elas formariam uma inteligência coletiva, uma potência coletiva de pensamentos, afetos e movimentos dos corpos, capaz de explodir as barreiras do império (8). Compreender o que democracia significa é renunciar a essa fé. A inteligência coletiva produzida por um sistema de dominação nunca é mais do que a inteligência desse sistema. A sociedade desigual não tem em seu banco nenhuma sociedade igual. A sociedade igual é somente o conjunto das relações igualitárias que se traçam aqui e agora por meio de atos singulares e precários. A democracia está nua em sua relação com o poder da riqueza, assim como com o poder da filiação que hoje vem auxiliá-lo ou desafiá-lo. Ela não se fundamenta em nenhuma natureza das coisas e não é garantida por nenhuma forma institucional. Não é trazida por nenhuma necessidade histórica e não traz nenhuma. Está entregue apenas à constância de seus próprios atos. A coisa tem por que suscitar medo e, portanto, ódio, entre os que estão acostumados a exercer o magistério do pensamento. Mas, entre os que sabem partilhar com qualquer um o poder igual da inteligência, pode suscitar, ao contrário, coragem e, portanto, felicidade.
Notas e referências
(1) Raymond Aron. Démocratie et totalitarisme (Paris. Gallimard, 1965, Coleção Idées). p. 134.
(2) A palavra “liberalismo” presta-se hoje a todo tipo de confusão. A esquerda europeia a utiliza para evitar a palavra tabu “capitalismo”. A direita europeia a transforma em uma visão de mundo em que o livre mercado e a democracia caminham de mãos dadas. A direita evangelista norte-americana, para a qual o liberal é um esquerdista destruidor da religião, da família e da sociedade, lembra oportunamente que essas duas coisas são muito diferentes. O peso que ganhou no mercado da livre concorrência e no financiamento da dívida norte-americana uma China “comunista” que combina com vantagem as vantagens da liberdade e da ausência de liberdade: mostra isso de outra maneira.
(3) Ver Linda Weiss, The Myth of the Powerless State: Governing the Economy in a Global Era (Ithaca, Polity Press, 1998).
(4) Sobre o surgimento dessa figura e sua novidade em relação à figura tradicional do intelectual porta-voz do universal e dos oprimidos, ver Danielle e Jacques Rancière, “La legende des intellectuels”, em Jacques Rancière, Les scènes du people (Bourg-en-Bresse, Horlieu, 2003).
(5) Maurice Dantec, Le théâtre des opérations: journal métaphysique et politique 2000-2001. Laboratoire de catastrophe générale (Paris, Folio Gallimard, 2003), p.195.
(6) Para um bom florilégio desses temas, ver Hippolyte Taine. Vie et apinions de Frédéric Thomas Graindorge (2. ed., Paris, Hachette et Cie, 1867). Sobre a “democracia na literatura”, ver a crítica a Madame Bovary por Armand de Pomtmartin, em Nouvelles causeties du samedi (Paris, Michel Levy Frères, 1860).
(7) Ver Ulrich Beck. Democracy without Enemies (Cambridge, Polity Press, 1998) e Pascal Bruckner. La mélancolie democratique: comment vivre sans ennemis? (Paris, Seuil, 1992).
(8) Ver Michael Hardt e Antonio Negri, Império (9. ed., Rio de Janeiro, Record, 2010) e Multidão: guerra e democracia na era do império (Rio de Janeiro, Record, 2005).