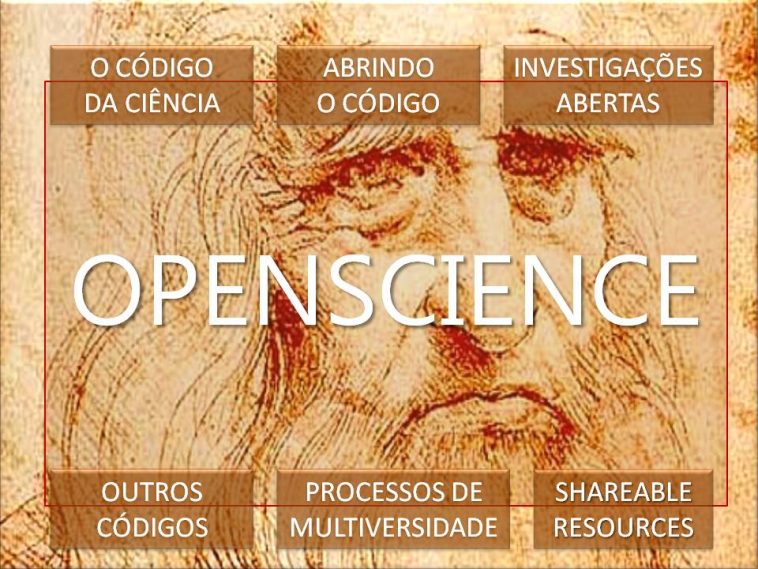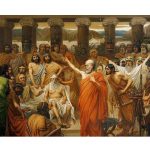Publico abaixo excertos de um texto de 2014, reeditado em 2018, chamado OpenScience. Na verdade, a versão original deste escrito era uma proposta de investigação – que poderia interessar mais aos pesquisadores do assunto. Por isso, limei (ou adaptei) as partes metodológicas da proposta para ficar apenas com o núcleo da minha visão sobre a ciência. Introduzi também alguns trechos inéditos.
Fiz isso porque agora estamos tendo de enfrentar correntes de pensamento anticientíficas, que por alguma razão revivesceram, como que saindo de suas tumbas. Por que? Não se sabe bem. Em outro artigo, de julho de 2019 – Por que somos sempre assolados por ideias que julgávamos mortas – tentei dar uma explicação, ainda que com pouco sucesso.
De qualquer modo, é necessário defender a ciência contra o obscurantismo ideológico e, inclusive – atenção aqui – contra o iluminismo filosófico. As maluquices terraplanistas e criacionistas, é claro, devem ser desmascaradas, mas elas constituem apenas um aspecto folclórico do debate. A questão é mais profunda. Quem define o que é ciência não é a ciência e sim a filosofia da ciência, que não é uma ciência da ciência, como muitos acreditaram.
Vale a pena ler, antes de começar, uma nota sobre as diferenças entre filosofia e ciência do ponto de vista da democracia. Ciência e filosofia – como disse Humberto Maturana (1993) – são “duas formas diferentes de pensar e lidar com o mundo da experiência”. Não é por acaso que os primeiros assim chamados filósofos – ou que chamaram a si mesmo de filósofos, na tradição pitagórico-platônica (que menosprezava vários pensadores pré-socráticos e excluía os sofistas: os antecessores dos que depois passamos a chamar de cientistas) – não eram democratas. A forma filosófica de pensar era, pelo menos inicialmente, ideológica e doutrinária, dispensava a corroboração de uma comunidade (como acontece com a forma científica de observar, investigar e explicar). Claro que com o desenvolvimento da lógica e o surgimento da filosofia analítica, as coisas mudaram um pouco. Mas a filosofia continuou, na maior parte do segundo milênio (que é quando surge a ciência propriamente dita, ou melhor do que comumente chamamos de ciência), tentando usar a ciência de maneira normativa ou subordiná-la à filosofia. Com isso, impediu o florescimento da ciência (que virou um fruto tardio) e criou as condições para o surgimento de uma closed science, quer dizer, uma ciência não-open.
Esse debate é especialmente relevante agora, quando – como foi dito – ressurgem visões anticientíficas. Mas a caracterização do que é anticientífico corre o risco de ser feita a partir de um ponto de vista cientificista, que toma a ciência como uma espécie de pansofia, quando não de uma religião. E que imagina que só pode existir uma ciência: a closed science.
O QUE É CIÊNCIA
Acompanhemos alguns tópicos da publicação original OpenScience, com alguns poucos acréscimos.
Por que as ciências do segundo milênio não foram open sciences
O que foi chamado de ciência ao longo do segundo milênio, não foi sempre a mesma coisa: temos as ciências medievais dos séculos 13 e 14 (Adelard de Bath, Robert Grosseteste, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Roger Bacon, Duns Scotus, Guilherme de Ockam, Jean Buridan, Nicolas de Oresme); temos as ciências renascentistas dos séculos 15 e 16 (Regiomontanus, Giovanni Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Luca Pacioli, Leonardo da Vinci, Agrippa von Nettesheim, Paracelso, Nicolau Copérnico, Nicolau Tartaglia, Girolamo Cardano, Giordano Bruno, Tycho Brahe, John Dee, Giovanni Battista della Porta); e temos a ciência moderna dos séculos 17 e 18 (William Gilbert, Simon Stevin, Francis Bacon, Johannes Kepler, Galileu Galilei, Evangelista Torricelli, René Descartes, William Harvey, Blaise Pascal, Robert Boyle, Christiaan Huygens, Robert Hooke, Isaac Newton) – que está no singular (ciência em vez de ciências) porque passou a ser considerada a única ciência possível na passagem do século 19 para o século 20 (1).
Existiram, portanto, no segundo milênio, várias ciências ou vários esforços intelectuais que foram (ou poderiam ser) chamados de ciência no sentido de terem sido resultados da aplicação de modos específicos de observação, investigação e explicação do mundo (incluídos a natureza, a sociedade e o ser humano) e não apenas uma ciência, que só passou a haver por obra de “engenharia epistemológica” (quer dizer, de ideologia) quando entraram em cena os filósofos racionalistas da ciência.
O que foi chamado de ciência nos últimos dois séculos do segundo milênio foi, na verdade, uma maneira particular de explicar (compreendendo ver e investigar) o mundo, chamada de mecanicismo. Estabeleceu-se então a hegemonia de uma ideologia científica que identificou, sem o declarar (e às vezes até declarando o oposto), que a ciência moderna era a única ciência correta ou a única ciência capaz de descobrir a verdade. Como se não tivesse havido ciência nos séculos anteriores ao século 17 (incluindo os milênios anteriores ao primeiro milênio da Era Comum). Como se não poderá haver ciência (diferente do que foi chamado de ciência nos séculos 19-20) nos séculos e milênios que virão.
O aristotelismo de Aristóteles (tal como “traduzido” e adaptado inicialmente por Alberto Magno) e o aristotelismo de Avicena juntamente com o platonismo de Santo Agostinho (tal como combinados em uma fórmula original por Robert Grosseteste) forneceram as bases – nos séculos 13 e 14 – para o que no segundo milênio apareceu como primeira ciência escolástica, da qual se diz que era uma corrente vitalista.
Diz-se também que o hermetismo, o neoplatonismo e o gnosticismo (que começaram a chegar à Europa como vertentes subterrâneas no século 12, mas que refloresceram com a crise da escolástica) forneceram as bases – nos séculos 14 e 15 – para uma corrente mágica (no sentido da magia naturalis renascentista).
E finalmente diz-se que houve uma fusão entre a nova matemática, renascida nos séculos 15 e 16 (por esforços como os de Regiomontanus, Targaglia e Cardano), com o experimentalismo pós-copernicano e o observacionismo (o método da observação sistemática; e. g. o de Tycho Brahe) e com as codificações tardias de Francis Bacon e que isso teria dado origem à grande revolução epistemológica do século 17 que pariu a ciência moderna (a ciência de Galileu, Kepler e Descartes), a qual seria uma corrente mecanicista. A essa corrente mecanicista o século 20 chamou de ciência.
Mas algumas das observações-investigações-explicações não-mecanicistas – vitalistas – da Idade Média também poderiam ser ciência. E alguns dos esforços sistemáticos não-mecanicistas para conhecer a realidade do Renascimento – inseridos no que se chamou de magia naturalis – poderiam também ser considerados como ciência. Além disso, as novas ciências não-mecanicistas que estão florescendo – sob o chamado paradigma da complexidade, ou do pensamento sistêmico ou ecológico – também são (ou serão) ciência. E velhas ciências não-mecanicistas que estão reflorescendo ou que de algum modo conseguiram remanescer (das quais a acupuntura e a homeopatia são exemplos bem conhecidos) também parecem ser ciência.
Embora as diferentes correntes mencionadas acima tenham, em alguns casos, interagido fortemente entre si, não se pode dizer que uma levou à outra ou foi precursora de outra. O experimentalismo de Roger Bacon não foi o precursor do experimentalismo de Robert Boyle (para o primeiro a ciência da experiência era um fim enquanto que para o segundo o método experimental era um meio). A matematização de Robert Grosseteste não foi precursora da matematização de Isaac Newton (o De Lineis, Angulis et Figuris do primeiro não tem muita coisa a ver com o Principia Mathematica do segundo). Não há evolução aqui. Cada uma delas é um mundo autônomo, com interfaces. São mundos diferentes (em termos sociais) e não apenas visões diferentes de (um) mundo (único). São culturas diferentes, quer dizer, redes diferentes de conversações (com circularidades inerentes próprias que se conservam): como escreveu Humberto Maturana (1990), “são as conversações nas quais estamos imersos ao fazermos ciência que determinam o curso da ciência” (2).
Alguns padrões de observação, investigação e explicação vigentes em um mundo podem, todavia, se replicar em outras regiões do tempo e do espaço (entrando em outros mundos). Assim, Alberto Magno e seu discípulo Tomas de Aquino foram alquimistas (pelo menos escreveram tratados alquímicos); Roger Bacon, seguidor de Robert Grosseteste (mas também, ao que parece, discípulo do alquimista Pedro de Maricourt) foi alquimista; e, muito tempo depois, essa influência continuou viva até a primeira metade do século 18: Francis Bacon e Isaac Newton foram alquimistas (e talvez Newton tenha dedicado tanto ou mais tempo ou empenho à alquimia do que ao que foi reconhecido como ciência válida pelos seus contemporâneos e pósteros) (3).
Os filósofos racionalistas da ciência do século 20 tendem a chamar de filosofia mística ou espiritualista, religião, crendice, ignorância, ou até mesmo de charlatanismo, tudo que não é ciência mecanicista. Os casos de Newton e, antes, de Kepler (que estava realmente interessado nas implicações astrológicas de sua ciência e na descoberta da harmonia do universo – ou a música das esferas – ao investigar as leis do movimento celeste) constituem sérias dificuldades para os esquemas interpretativos dos filósofos racionalistas da ciência. Para não chamarem Newton de charlatão, por exemplo, resolvem ignorar tal passagem da sua vida (a despeito da evidência de que seus extensos manuscritos sobre a alquimia foram conservados e continuam disponíveis para consulta); ou, no máximo, tentam adivinhar que sua intenção ao se dedicar à investigação alquímica era radicalmente diferente daquelas de Roger Bacon e dos alquimistas, já que ele queria realmente descobrir as causas dos fenômenos ligados à transmutação da matéria enquanto que os primeiros queriam, sobretudo, vivenciar uma experiência transformadora em seus próprios corpos e mentes (4). De qualquer modo não explicam como um gênio como ele pôde, apesar de seus intensos esforços, ter sido tão bem sucedido na ótica, na mecânica e na gravitação e tão mal sucedido nessa empreitada heterodoxa…
Toda ciência tem um código (e a palavra código é empregada aqui como uma metáfora para os modos de observação, investigação e explicação adotados, que costumam ser exclusivos das comunidades que os adotam e ocultos ou, pelo menos, obscuros, para quem não faz parte dessas comunidades). Diferentes ciências têm códigos diferentes. O código é o conjunto de termos – palavras ou símbolos – e modos de ordenação válidos que podem ser escritos em uma ou várias linguagens de sorte a emitir instruções para a observação, a investigação e a explicação de eventos (realidades ou classes de fenômenos) de um mundo (conjunto de eventos). Mas um mundo é culturalmente construído, constituído pelas redes de conversações que dão sentido aos seus eventos e assim, em termos culturais, se confunde com a visão de mundo da rede social que o conformou em uma determinada época e lugar.
O código programa o que pode ser feito e reconhecido como ciência válida para aquele mundo. Isso significa que ele determina quais são as operações válidas que podem ser feitas, compreendendo também o conjunto das características operacionais nas quais se baseiam os processos de observação, investigação e explicação daquela ciência.
Nas ciências mágicas renascentistas, por exemplo, eram consideradas operações válidas aquelas baseadas na analogia, já que a visão de mundo (quer dizer, o mundo culturalmente construído) subjacente era a de que havia uma correspondência universal entre as partes (que eram sempre partes de um mesmo todo) cujas formas ou dinâmicas de funcionamento fossem semelhantes e quase que um espelhamento entre o macro e microcosmo, posto que “o que está em cima” e “o que está em baixo” faziam parte dessa mesma totalidade, cuja harmonia podia ser captada através da observação de regularidades e homomorfismos e revelada por símbolos de unidade, de totalidade e de unidade na totalidade e vice-versa.
Para a ciência mecanicista dos modernos tal operação (analógica) não era válida para descobrir o funcionamento do mundo porquanto o mundo que foi culturalmente construído por suas conversações recorrentes não era um universo com sentido, não possuía uma imanência nem a predisposição para se revelar por meio de símbolos de unidade na totalidade e vice-versa. O mundo era uma máquina e para descobrir as leis de seu funcionamento haver-se-ia que partir da observação sistemática do funcionamento de suas partes e de experimentos particulares e, por meio de operações indutivas e de descobertas de regularidades específicas à cada classe de fenômenos, formular hipóteses explicativas consistentes, logicamente coerentes entre si e das quais se poderiam inferir consequências não observáveis (e muitas vezes não reveláveis por experimentos) por meio de operações lógico-matemáticas dedutivas corretas.
Em geral os códigos das ciências que surgiram no segundo milênio foram fechados. Assim foram os códigos das ciências vitalistas medievais, bem como os códigos das ciências mágicas renascentistas e, inclusive, o da ciência mecanicista que surgiu a partir do século 17. Os que se dedicaram a operar essas ciências – inicialmente os filósofos, os filósofos da natureza e depois os que foram chamados e chamaram a si mesmos de cientistas – não fizeram qualquer esforço significativo para abrir esses códigos (em alguns casos, pelo contrário, se empenharam em fechá-los e ocultá-los: e esta, como já foi mencionado, é a razão de estarmos usando aqui a metáfora do código). Essa é também uma das razões pela qual se diz que o que o segundo milênio fez em ciência foi closed science, não open science. Humberto Maturana (1978), excepcionalmente, tentou abrir o código da ciência mecanicista ao descrever suas características operacionais: um esforço quase solitário até agora, conquanto não tenha conseguido torná-lo mais acessível, pelo contrário (5). Abrir os demais códigos é uma tarefa típica de open science, assim como contribuir para abrir (e manter aberto) o código da nova ciência da complexidade que está emergindo.
A primeira ciência escolástica medieval foi fechada, como só podia ser mesmo a escolástica, que talvez tenha começado quando Alberto Magno (entre outros, inclusive seu discípulo Tomás de Aquino) tornou palatável a leitura de Aristóteles e Platão na nascente corporação medieval meritocrática chamada de universidade (gerada dentro ou a partir das escolas monacais e das escolas que floresceram à sombra das catedrais). A despeito de que se diga que foi a introdução de Aristóteles que forneceu, em grande parte, os elementos para a fundação da escolástica, o platonismo foi na verdade o fator decisivo para o que se chamou de ciência no início do segundo milênio como uma espécie de propriedade da escola (σχολαστικός e scholasticus). A universidade era uma escola, era uma versão da academia (platônica: sim, toda academia é platônica) porquanto baseada na mesma separação entre sábios e ignorantes definida pelo acesso diferencial à espisteme (o conhecimento filosófico ao qual não poderia ter acesso o vulgo) e ciência passou a ser então o que se fazia nessa escola e que a ela pertencia.
O primeiro código da ciência
O fato é que o primeiro código do que se chamou de ciência no segundo milênio foi escrito nos séculos 13 e 14, entre outros, por gente como Magno, Grosseteste, Bacon e Ockham. Escolásticos e alquimistas programaram esse código como código fechado num duplo sentido: era fechado porque propriedade da escola (o sistema fechado da escolástica) e era fechado porque inacessível ao vulgo, ao homem comum, por uma exigência de manter um segredo (o código fechado stricto sensu em sua escritura, de sorte a não ser entendido por qualquer um). Bacon chega a afirmar que a necessidade do sigilo tem uma razão transcendente, já que “Deus sempre oculta das multidões os máximos achados da ciência”, além de uma razão prática: “nas mãos do vulgo, obras digníssimas são pervertidas, uma vez que o objetivo real só pode ser atingido pelos sapientíssimos e instruidíssimos”. Com efeito, na sua Epistola de secretis operebus artis et naturae (escrita entre 1268 e 1292), Bacon nos dirá que “homens sábios e conhecedores tinham propositalmente obscurecido seus escritos – algumas vezes usando palavras enigmáticas e figurativas, em outras misturando diferentes tipos de letras, omitindo vogais ou ainda utilizando figuras geométricas ao invés de letras – escondendo assim seus segredos do vulgo, pois este faria pouco caso da ciência e não saberia como se servir das coisas divinas” (6).
O segundo código da ciência
O segundo código, da ciência renascentista, também foi fechado. Hermetistas e neoplatônicos, alquimistas e espagiristas (como os paracelsistas) e outros investigadores dedicados à magia naturalis, construíram um código ainda mais fechado do que os dos antigos escolásticos. Só para dar um exemplo, quatro séculos depois das advertências de Roger Bacon sobre a necessidade de ocultar o conhecimento, um texto do The Hermetic Museum (1678) ainda ecoava essa tradição revelando mais nua e cruamente seu propósito:
“Porque este Magistério deve manter-se sempre como uma ciência secreta, sendo evidente a razão que nos impele a ser precavidos. Se algum infame aprendesse a praticar esta Arte, haveria grande perigo para a Cristandade. Pois esse homem ultrapassaria todos os limites da moderação e removeria de seus tronos hereditários os legítimos príncipes que regem os povos cristãos” (7).
Tanto na Idade Média quanto no Renascimento, os códigos das ciências foram escritos para o poder (eclesiástico ou temporal, oficial ou oculto, tanto faz aqui: a questão é a hierarquia e a autocracia), foram projetados para ter um uso ex parte principis e não ex parte populis (open source). Foram escritos para servir ao poder e para que o poder se servisse das ciências codificadas.
Pode-se argumentar que na Idade Média só poderia ter sido assim (já que a democracia dos modernos não havia sido reinventada e, quando o foi, quatro séculos mais tarde, restringiu-se à uma forma de administração política do nascente Estado-nação europeu), mas na verdade foi assim porque era funcional que assim fosse para manter o modo autocrático de regulação (da política realmente existente dos Estados principescos de então e da Igreja – que eram quase a mesma coisa).
O fundamental aqui é perceber que a meritocracia corporativa dos sábios é mantida pela obstrução – deliberada ou não – do acesso ao conhecimento. O segredo – um conhecimento trancado por guardiães (via de regra e não por acaso, professores que fundam a universidade como corpo docente) e que não deveria ser revelado aos que não tinham valor (virtude) – estava relacionado com a manutenção dessa ordem hierárquica (religiosa ou secular dinástica, hereditária). Há aqui uma associação tão explícita entre virtude e poder como a que depois, no capitalismo, passou a ser feita entre virtude e sucesso. Quanto a isso, pouca coisa mudou com o Renascimento.
Por qualquer razão que se queira aventar, os primeiros códigos das ciências do segundo milênio foram os de uma ciência conforme ao poder (quando não ao poder temporal profano ou eclesiástico oficial, a um verdadeiro poder sagrado e oculto que – eis o ponto! – organizava-se da mesma forma hierárquica e era regulado por uma dinâmica igualmente autocrática, senão ainda mais). Este ponto é importante porquanto os sábios medievais e renascentistas – os programadores, por assim dizer – que escreveram os códigos das suas respectivas ciências, foram vítimas – com grande frequência – do poder temporal e eclesiástico. Aliás, bem pior do que isso: quase todos esses sábios tiveram dificuldades com os hierarcas religiosos oficiais ou com os poderosos temporais, fossem os superiores de suas ordens religiosas ou os bispos de suas dioceses ou o próprio papa ou outros seculares “legítimos príncipes que regem os povos cristãos”. Foram censurados, presos, banidos, renegados – dando a impressão de que eram espíritos livres tentando acender uma luz nas trevas da opressão eclesiástica ou temporal quando, na verdade, cumpriam objetivamente o papel de agentes do sistema de aprisionamento do conhecimento, não importando para nada a consciência individual que tivessem ou não desse papel e nem o nome do poder ao qual serviam (e sim a estrutura e a dinâmica desse poder, sempre hierárquico e autocrático).
É possível que eles – ou alguns deles – almejassem mesmo a liberdade de pensamento e estivessem sinceramente imbuídos de um propósito revolucionário à sua maneira, mas as configurações das redes a que estavam conectados os levaram a cavar sulcos cada vez mais profundos que condicionaram as trajetórias dos que viriam. A principal instituição que gerou essas armadilhas de fluxos foi, sem qualquer dúvida, a universidade. Quase todas essas pessoas, das quais se diz que tiveram alguma importância ou influência significativa nas ciências medievais e renascentistas, foram professores, membros do corpo docente de uma corporação de sábios (constituída com base na separação de corpos entre sábios e ignorantes). Foram eles os reinventores da academia e daquilo que viria a se tornar a ciência… da academia!
O terceiro código da ciência
O código que começou a ser escrito a partir do século 17 trilhou, nesse aspecto, caminho semelhante (talvez porque tal caminho já estivesse aberto, como uma vala sulcada por séculos de repetição). O mundo era outro, a ciência era outra, mas os ambientes onde a ciência era feita se configuraram de modo semelhante. Permaneceu a universidade como corporação meritocrática. Permaneceram as estruturas hierárquicas e os modos de regulação autocráticos e isso – atenção! – mesmo após a reinvenção da democracia pelos modernos. Em certo sentido a escolástica permaneceu: a ciência (e os cientistas) como propriedades da escola. A escola fechada, murada, sede do tribunal epistemológico capaz de invalidar qualquer conhecimento que não fosse construído segundo sua ortodoxia (conquanto esta ortodoxia mudasse, o que indica que não era bem o conteúdo o fundamental), remanesceu e atravessou impávida os séculos 17, 18, 19, 20… o que – convenha-se – é espantoso!
A partir dos séculos 19 e 20 forjou-se uma ideologia sobre a ciência que tenta transformá-la numa espécie de pansofia. A ciência passa a cumprir o papel social de novo oráculo. Passa a ser interpretada como a luz que espanca a escuridão de um mundo supostamente assombrado pelos demônios, como escreveu Carl Sagan (1997) (8). Passa a ser o repositório das provas da inexistência de Deus, como escreveu Richard Dawkins (2006) em Deus, um delírio (9). Mas mesmo a ideologia que tenta fazer isso – e que se confunde, eis o ponto!, com a própria ciência – continua sendo, de algum modo, uma escolástica. Um detalhe importante: sempre houve ciências (no plural) até surgir o mecanicismo, quando então passou a haver uma ciência (no singular): a única ciência, a verdadeira ciência (não passando todo o resto de pseudo-ciências, pré-ciências, crendices, religiões, ideologias etc.). Curioso porque é assim que se comportam as grandes ideologias (como as religiões): são totalizantes e asseveram que todas as outras são falsas. Isso faz lembrar uma frase lapidar de Paul Feyerabend (1975): “a declaração mais provocante que pode ser feita sobre a relação entre ciência e religião é que a ciência é uma religião” (10).
É claro que os cientistas – os que fazem realmente ciência – não estão, em sua maioria, preocupados se existe apenas uma ciência ou várias ou se as boas ideias que podem gerar teorias capazes de explicar os fenômenos que investigam estão de acordo com tal ou qual método correto: a orto-doxa virada orto-methodo (como se sabe a palavra método vem do grego, methodos, composta de meta: através de, por meio, e de hodos: via, caminho. Servir-se de um método é, antes de tudo, tentar ordenar o trajeto através do qual se possa alcançar os objetivos projetados). Mas quem se preocupa com isso são os que querem legislar sobre o método (como os filósofos racionalistas da ciência), discursar sobre qual – e predeterminar como – deveria ser o caminho correto para se chegar a um fim almejado. A tal ponto que Albert Einstein (1951), já no fim da vida, reclamou que “as condições externas que são colocadas [para o cientista] pelos fatos da experiência não lhe permitem deixar-se restringir em demasia, na construção de seu mundo conceitual, pelo apego a um sistema epistemológico. Portanto, ele deve afigurar-se ao epistemólogo sistemático como um tipo de oportunista inescrupuloso…” (11).
De qualquer modo, conformou-se institucionalmente uma cultura (como é óbvio, própria de comunidades de pessoas que se identificavam com ela e a replicavam) segundo a qual os investigadores do mundo eram uma espécie de doutores sobre o mundo, não importando qual fosse o mundo. Essa cultura atravessou os mundos que se sucederam desde o início do segundo milênio: ela foi corporativa, foi uma cultura gerada na universidade e foi a cultura que definiu a universidade.
O que o segundo milênio (tanto no seu início, quanto no seu meio e no seu fim) chamou de ciência (e por inércia também o terceiro que, neste particular aspecto, ainda não começou) foi escola, metabolismo da escola, muitas vezes catabolismo e transudação da escola. Alguém que possui um saber vai acender a vela para que os que não possuem possam se orientar no escuro. Para adquirir tal saber ou autorização para acender a vela um indivíduo tem que ser um escolástico (no sentido de ser propriedade da escola).
Ora, a escola é separada do mundo por fronteiras de identidade: a identidade dos que foram pacientes do processo de ensino (vítimas da transmissão de ensinamento) e que receberam o reconhecimento (na forma de um atestado ou título) de que são capazes de reproduzir a ordem do conhecimento-ensinado para, só então, obterem a autorização para produzir conhecimento (ou fazer ciência, quer dizer, aquele tipo de ciência avalizada pelos que ministraram o ensino e concederam os atestados, os títulos e as autorizações). Se isso não configura um sistema fechado, então as palavras sistema e fechado não fazem mais qualquer sentido.
Pode-se afirmar, portanto, que tudo o que o segundo milênio chamou de ciência foi closed science, não open science. A ciência não foi feita para as pessoas comuns.
O código da ciência
Resolvi usar a noção de código (a rigor, como foi dito, uma metáfora) em vez do conceito de paradigma construído por Thomas Kuhn (1962) (12). Claro que não é um conceito substituto, não está definido com o mesmo rigor analítico, mas em compensação tem algumas vantagens (além das implicações óbvias do uso da metáfora): é uma noção mais ampla, por um lado (já que, em certo sentido, pode-se dizer que tudo é código, tudo é programa e tudo é programável – o que inclui, no limite, até o conceito de método) e também mais precisa, por outro (o que é programável num código de ciência? Ora, basicamente, os modos de observação, investigação e explicação).
Em termos muito gerais diz-se que um paradigma reúne de forma coerente um conjunto de pressupostos conceituais que utilizamos para explicar como as coisas funcionam ou devem funcionar. Seríamos assim influenciados por grandes paradigmas explicativos que afetam nossa forma de pensar e agir na relação com a realidade. Fritjof Capra (1990) – em conversa com David Steindl-Rast e Thomas Matus – propõe um conceito ampliado de paradigma. Segundo ele,
“Um paradigma científico, de acordo com Kuhn, é uma constelação de realizações – entendendo por esse nome conceitos, valores, técnicas, e assim por diante – partilhados por uma comunidade científica e usados por essa comunidade para definir problemas e soluções legítimos. Isso significa, portanto, que por trás de uma teoria científica há um certo arcabouço em cujo âmbito a ciência se desenvolve. E é importante notar que esse arcabouço não inclui apenas conceitos mas também valores e técnicas. Portanto, a atividade de fazer ciência é parte do paradigma. A atitude de dominação e de controle, por exemplo, é parte de um paradigma científico… Tomando a definição kuhniana, ampliei-a até torná-la um paradigma social. Para mim, um paradigma social é uma constelação de conceitos, de valores, de percepções e de práticas compartilhadas numa comunidade, formando uma visão particular da realidade que constitui a base da maneira segundo a qual a comunidade organiza a si mesma. É necessário que um paradigma seja compartilhado por uma comunidade. Uma pessoa isolada pode ter uma vida de negócios, mas o paradigma é compartilhado por uma comunidade… Ora, Kuhn naturalmente usa o termo num sentido mais restrito e, no âmbito da ciência, fala a respeito de diferentes paradigmas. Eu o utilizo num sentido muito amplo, um tipo de paradigma de grande envergadura subjacente à organização de uma certa sociedade ou à organização da ciência numa certa comunidade científica”.
Para Capra, portanto, o paradigma científico está encaixado no paradigma social (13), o que faz mais sentido do que a noção de Kuhn já que a ciência não vem de Marte, mas é construída aqui mesmo no planeta Terra, pelas pessoas que se dispõem a fazê-lo e que se relacionam segundo padrões societários mais gerais antes mesmo de decidirem estabelecer clusters (ou comunidades de cientistas) regidos por regras específicas.
A hipótese de paradigma científico de Thomas Kuhn
Kuhn – dado o grau de difusão de suas hipóteses – merece ser analisado com mais profundidade. Ralf Dahrendorf, na Sexta Conferência Anual do Conselho de Pesquisas Econômicas e Sociais, proferida em 19 de outubro de 1995 na Royal Society of Arts, em Londres, vai ao ponto central ao qualificar Thomas Kuhn como o grande teórico-sindicalista da ciência. Ele tem uma visão corporativa da ciência e, como tal, privatizante; ou seja, a hipótese de Kuhn aponta para uma closed science, não para uma open science. Vale a pena reproduzir um trecho da crítica mordaz de Dahrendorf (1995):
“Quando, em 1962, o grande teórico-sindicalista da ciência, Thomas Kuhn, apresentou o resultado de 15 anos de duro trabalho intelectual (A estrutura das revoluções científicas), ele não fez mais do que legitimar um processo que já estava completo nas ciências naturais e sociais, bem como nas Humanidades: há “comunidades científicas”, e elas têm seus “paradigmas”. “Um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade científica têm em comum e, inversamente, uma comunidade científica consiste de homens que têm um paradigma em comum”. Não é de admirar que Kuhn tenha se tornado um dos autores de epistemologia mais citados e elogiados de nossa época. Sua ideologia é maravilhosa para justificar o estabelecimento de qualquer tipo de “ciência”, da astronomia à hotelaria, da economia à parapsicologia.
É fácil ridicularizar os efeitos de uma teoria que se presta tanto à vulgarização e ao abuso quanto a ideologia de Kuhn. Todo aluno de doutorado, hoje em dia, afirma ter encontrado um novo “paradigma”, e a proliferação de departamentos é justificada, invariavelmente, pelo surgimento de uma nova “comunidade científica”. Chamei essa teoria de sindicalista não para insultar os sindicatos, mas para indicar que ela tem mais a ver com a organização de interesses do que com os objetivos da investigação científica. As comunidades científicas, reunidas ao redor do mastro do seu paradigma, têm maiores possibilidades de se envolver em disputadas de demarcação de território do que no progresso do conhecimento. A institucionalização da ciência em linhas kuhnianas pode ter consequências indesejáveis. O falecido Karl Popper expôs algumas delas, ao afirma que, nas ciências naturais, esse processo poderia vir a se tornar um impedimento ativo à pesquisa, quando e tratava de pessoas ou projetos que não pertenciam ao meio. Sua mal-humorada correspondência com a Royal Society sobre os projetos de pesquisa não-reconhecidos sem dúvida acabará, a seu tempo, por vir a público. Nas ciências sociais, duas consequências da vulgarização de Kuhn são particularmente graves.
A primeira delas é que as ciências sociais perderam seu caráter intrinsecamente público. Todas as ciências são públicas em intenção, mas o fato de que suas descobertas devam ser amplamente compreendidas e abertamente debatidas é particularmente verdadeiro com relação à ciências sociais. As comunidades científicas, por outro lado, têm uma tendência aparentemente intrínseca à autarquia, o que é controlado de forma quase medieval, por meio de uma rigidez de guilda e de protecionismo escancarado. As organizações profissionais controlam o acesso, inclusive o acesso aos cargos acadêmicos. As publicações profissionais são as guardiãs do(s) paradigma(s). Quem não pertence à guilda é excluído. E o que é pior, os membros adquirem a infeliz tendência a escrever uns para os outros, e não para um público mais amplo. O paradigma revela ser um jargão, adotado principalmente para demonstrar quem pertence e quem não pertence ao grupo. Talvez essa seja, dada a imensa expansão da comunidade científica em seu sentido mais amplo, a única proteção possível contra a anomia, mas essa tendência, na verdade, destrói um dos valores mais básicos da ciência (social): a abertura e a acessibilidade, o propósito público.
A outra consequência da vulgarização de Kuhn é ainda mais nociva. Para Kuhn, as comunidades científicas são um pré-requisito necessário para as descobertas e para o progresso do conhecimento. As comunidades científicas são as “produtoras e avalizadoras” do conhecimento. Mas seria possível afirmar que o caráter corporativo dessas comunidades pode, de fato, vir a bloquear as novas percepções. Os economistas veem apenas o que seus paradigmas permitem ver; os sociólogos descartam explicações por elas não serem sociológicas. Isso não causa dano aos praticantes das disciplinas, eles estão simplesmente se comportamento como bons membros de suas comunidades, mas, por outro lado, impede o avanço da ciência. Os paradigmas transformam-se em lentes de visão estreita, que não conseguem alcançar um espectro de fenômenos mais vasto” (14).
A extensa citação do trecho acima se justifica neste ensaio pela seguinte razão: é a melhor definição contemporânea de escolástica (no sentido original do termo, de propriedade da escola) que, ademais, contém a revelação de que a ciência acadêmica do segundo milênio foi o resultado de um esforço de privatização do conhecimento. O fato de a ciência ser fechada (e não aberta) é consonante com o fato de ela ser privada (e não pública).
Culturas científicas
As considerações sobre o assunto que fiz anteriormente são ainda insatisfatórias. Em geral o conceito de paradigma é tomado como padrão. Mas num sentido ampliado paradigma é mais fluxo do que padrão. Para os gregos o conceito designava a fluência (fluxo) de um pensamento. Para a (história e a filosofia da) ciência pode ser a mesma coisa. É uma determinada corrente de explicações do mesmo tipo (ou seja, com as mesmas características operacionais). É como se fosse um fluxo mesmo, uma linha particular de interpretações que constitui uma espécie de história “fenotípica” própria e identificável (ou seja, as explicações de uma determinada linha histórica ou trajetória são identificadas como pertencentes a ela porquanto reúnem as mesmas características). Parece mais uma cultura, no sentido maturaniano do termo.
Por outro lado, também parece que não existe uma mesma ciência que vai trocando de paradigma. O que chamamos (atualmente) de ciência foi uma invenção do século 17, quando tomamos alguns ramos das bifurcações que apareceram nas trajetórias investigativas, e não outros. Por exemplo, as formulações em prol do experimentalismo (tomadas da alquimia por Bacon no século 13) não desembocaram naquilo que ele talvez pretendesse: a ciência experimental (ou melhor, a ciência da experiência) como um fim e não como um meio de fazer a natureza revelar seus segredos (Galileu). Se o que se chamou de ciência tomasse o caminho da bifurcação por ele pretendido (como supomos) teríamos outro tipo de (código da) ciência, mais acorde ao código alquímico original, na qual o sujeito e o objeto da investigação se fundem e se transformam (cabendo à teoria um papel ou um sentido, talvez, mais órfico, de contemplação e comunhão com o cosmos e não predominantemente especulativo e explicativo; não se sabe; e, neste caso, nem se sabe se isso poderia ainda ser chamado de ciência).
Vale a pena conhecer o tratamento dado ao tema – há 20 anos – por Fritjof Capra, para depois continuar. Destaco o seguinte trecho da conversação já mencionada entre ele, David Steindl-Rast e Thomas Matus (1990):
“DAVID: Você pode explicar por que paradigmas diferentes podem coexistir num contexto social e não na ciência?
FRITJOF: Poderia haver diferentes paradigmas coexistindo também na ciência, e isso de fato aconteceu no passado, mas deixou de ocorrer desde a época da ascensão da ciência europeia no século XVII. Onde quer que as pessoas façam ciência atualmente, no sentido moderno do termo, elas o fazem de acordo com o paradigma europeu, estejam elas no Japão, na China ou na África. Muitos cientistas dizem que passaram por uma lavagem cerebral para chegar a isso. Eles poderiam fazer ciência dentro de um outro paradigma, mas não o fazem. Há certa colonização de cientistas pela ciência europeia e norte-americana. Agora é a América do Norte, mas as raízes, naturalmente, estão na ciência europeia, enquanto que em assuntos sociais não é tão grande a predominância de um único paradigma. Diferentes culturas coexistem. Na ciência, não encontramos culturas diferentes coexistindo; há, basicamente, uma única cultura científica” (15).
Como já foi exposto, a ciência moderna, quando surgiu no século 17, virou a (única) ciência. Todas as outras ciências foram invalidadas. Foram invalidadas a partir de um código baseado em determinados critérios de validação de explicações, necessários para que tais explicações fossem reconhecidas como autenticamente científicas.
Mas há uma questão não resolvida aqui: os códigos da ciência não são científicos. Os critérios epistemológicos adotados para validar a ciência não são científicos, são filosóficos. Mas a filosofia da ciência, a despeito do nome, não é ciência (no sentido do que se chama de ciência atualmente) e não pode ser validada pela ciência (idem).
Então, quando surge a ciência do século 17 (em razão da suposta revolução epistemológica que gerou o mecanicismo) e ela vira A Ciência, estamos aqui diante de um fenômeno semelhante a aqueles que geraram A Educação ou A Sociedade como instituições imaginárias. Trata-se um fenômeno cultural (social) que impôs a prevalência de uma interpretação, de uma abstração totalizante, que não pode corresponder aos fatos, pois todo mundo sabe que não existe uma (única) educação e sim uma multiplicidade de processos de aprendizagem e que não existe uma (única) sociedade e sim miríades de sociosferas. Foi a orientação de impor um (mesmo) processo de ensino à diferentes sociosferas que gerou A Educação para A Sociedade. Mas esta foi uma imposição do Estado-nação europeu moderno, que não podia reconhecer a variedade de sociosferas (quer dizer, de aglomeramentos humanos estáveis conformados pela interação social) e sim apenas a população (a coleção de seres humanos) arrebanhada dentro de suas fronteiras e que não podia deixar a aprendizagem solta, livre, mas precisava dispensar uma mesma instrução geral, uniformizada, a todas as pessoas (reduzidas a indivíduos, quer dizer, a unidades indiferenciadas) que viviam em seus domínios (até como meio de manter tais domínios, pelo adestramento para a obediência e pela inculcação do fervor patriótico).
Não é por acaso que A Ciência aparece, congruentemente, nas mesmas circunstâncias. Assim como também não é por acaso que A Ciência seja uma propriedade (escolástica, lato sensu) da corporação (universitária) associada intimamente ao Estado-nação moderno, que passa logo a ser o guardião dos conteúdos e procedimentos e o financiador (parcial ou totalmente) dos custos do ensino e da pesquisa e, inevitavelmente, o controlador dessas atividades. Aliás, a universidade já nasceu associada ao Estado: não se deve esquecer que a primeira universidade europeia, Bolonha, surgida em 1088, adquiriu logo a condição de cidade-Estado pelo estatuto Constitutio Habita promulgado por Frederico I em 1158. Quando surgem as grandes empresas monárquicas, intimamente associadas ao Estado-nação hobbesiano – ou seja, quando surge o capitalismo – elas passam a dividir com o Estado o investimento em pesquisa e, inevitavelmente, assumem parte do controle sobre a atividade científica, influenciando (em alguns casos decisivamente) a pauta do que deveria ou não ser pesquisado.
Um aspecto importante, que já havia sido percebido por Feyerabend (1975), tem a ver com a confusão entre episteme e doxa que desqualifica (e impede substantivamente) a democracia; tem a ver com o governo dos sábios de Platão (que é o fundamento da meritocracia: sim, toda meritocracia é uma autocracia); tem a ver com o fato da universidade não ter sido violada pela democracia (e de Bolonha até hoje já se vão mais de 9 séculos, praticamente 1 milênio) a despeito da ciência moderna, dita galileana, ter surgido no mesmo século em que os modernos começaram a reinventar a democracia. Apenas uma frase contém tudo isso:
“Deve haver uma separação formal entre Estado e ciência tal como atualmente existe uma separação formal entre Estado e Igreja. A ciência pode influenciar a sociedade, mas apenas na mesma medida em que a qualquer grupo político ou de pressão é permitido influenciar. Os cientistas podem ser consultados sobre projetos importantes, mas a decisão final deve ser deixada para os órgãos… formados principalmente de leigos” (16).
Ciência e democracia: especulações
O conceito pitagórico – e depois platônico – de filósofo, acabou prevalecendo na sua versão mais laicizada, de adorador e, então, amigo da Verdade. Havia uma Verdade (com V maiúsculo) e aceder a ela exigia uma espécie de aceitação e inserção numa ordem já desenhada antes da interação dos humanos, na harmonia cósmica, na “música das esferas”, a partir da comunhão com os padrões matemáticos puros que estão por trás do mundo fenomênico, manifesto e impuro. Sim, há uma ideia de pureza implicada na gênese do conceito de filósofo, que emanaria daquilo que é perfeito e, como tal, a um só tempo, bom, belo e verdadeiro.
Há também um combate entre a Verdade e o Erro e essa guerra não é contingente, mas constitutiva do universo, cosmogônica.
É claro que essa perspectiva sacerdotal – uma ideologia de professores, como uma kabbalah – tinha origens míticas e consequências hierárquicas e autocráticas incompatíveis com o fluir da livre-conversação que não tem rumo (pré-figurado).
Parece explicável que pessoas imbuídas desse tipo de visão de mundo tenham ficado escandalizadas quando apareceram, no espaço público nascente de Atenas – um ambiente comum, profano: extramuros das escolas de sabedoria, fora dos sodalícios espirituais, dos clusters fechados dos que buscavam o bom, o belo e o verdadeiro – algumas dezenas de loucos questionando a ordem pregressa e dizendo que suas opiniões (e as opiniões de qualquer um) deveriam ser levadas em conta pelo que eram, sem a necessidade de sua validação pela tradição de sabedoria ancestral. Essas pessoas irreverentes foram as que ficaram conhecidas como sofistas, odiadas por oligarcas políticos e espirituais, vítimas de intolerância, maledicência e perseguição (a ponto de terem de esconder sua real condição para sobreviver, disfarçando-se como poetas: que, se também não eram bem vistos, pelo menos eram tolerados).
Se essa brecha não tivesse sido aberta naquela carapaça epistemológica, se os malucos que se comportavam erraticamente, sem uma doutrina verdadeira como guia, como se verdade fosse tudo o que o nos faz mais livres, nunca teríamos ouvido a palavra democracia. A sabedoria, a filosofia e, depois, a ciência, sempre foram fechadas e… privadas (reservadas aos fiéis, aos pertencentes a um condomínio de sábios, amantes da sabedoria ou especialistas) e, em coerência com isso, nunca foram pervadidas pela democracia.
Mas a questão é: pode haver uma ciência democrática?
A ciência (assim definida pelos epistemólogos racionalistas da ciência) é cognitivista. A ciência é, basicamente, platônica e com isso não se quer dizer que a ciência não passa de uma ideologia (a ideologia do platonismo) e sim que ela é explicada e justificada de um ponto de vista cognitivista herdeiro do platonismo.
Uma visão não-cognitivista sobre a investigação – como a visão interativista, por exemplo – mudaria radicalmente as bases do que o segundo milênio chamou de ciência, sobretudo do que os filósofos da ciência, a partir do final do século 19, chamaram de ciência.
Mas o que seria uma ciência não-cognitivista, ou seja, não baseada em uma teoria do conhecimento e sim numa teoria da alostase social (como seria uma teoria interativista)? A ciência, como vimos, é escolástica (no sentido literal do termo, de que é uma propriedade da escola, da academia). Seu ambiente original é hierárquico e autocrático. Imagine-se agora o que seria uma “ciência” protagoriana, quer dizer, sofista. Uma “ciência” que não tivesse nascido como efluxo de um organismo social autocrático e sim democrático. Uma “ciência” que não desvalorizasse a opinião (doxa) em relação ao saber (episteme). Seria possível uma ciência (sem as aspas) assim? Ou o que chamamos de ciência tem que ser necessariamente closed science, conforme à academia (um tipo de organismo social fechado, um cluster de sábios, separado do vulgo, do não-sabio)?
Diga-se o que se quiser dizer, cognitivismos – mesmo construtivistas – são conteudismos. Por isso todo affaire educativo (ou preparativo para a ciência, ou avalizável pela ciência) é baseado em conteúdo, na assimilação e verificação de algum conteúdo que foi desenvolvido e guardado por outrem para ser transmitido do mestre ao discípulo (ainda que esses nomes tenham mudado, há sempre um sacerdócio – uma intermediação institucionalizada – cuja presença é necessária).
A questão é relevante pelo seguinte. O meio onde se gera ciência cognitivista (a academia, do ponto de vista da sua morfologia e da sua dinâmica) tem a ver com o modo de observação-investigação-explicação validado pelos epistemólogos da ciência como ciência? O “produto” (por assim dizer) tem a ver com a configuração da “fábrica”? É possível validar modos de observação-investigação-explicação não-acadêmicos? Ou, em termos um tanto poéticos, a praça pode gerar algum tipo de ciência? Ou, ainda, o Zeus Agoraios e a deusa Peitho podem ser numes tutelares de alguma ciência ou só é ciência o que estiver sob a proteção de Atena (a deusa do que hoje seria algo mais parecido com a ciência, que também o era da guerra, ou seja, da autocracia)?
Uma ciência que foge (se tranca, fecha as portas às pessoas comuns) da praça não seria autocrática? Não, não há aqui qualquer deslizamento epistemológico. Há uma indagação sobre os efeitos do condicionamento recíproco entre o ambiente em que uma coisa é produzida e o produto. Nesse sentido, pode haver uma ciência democrática? Perguntando de outra maneira. Sabe-se que a ciência é sacerdotal, mas pode haver uma ciência poética? Autopoética? Ou melhor, alterpoética?
Voltemos à época em que o segundo milênio começou a cogitar de alguma coisa que depois foi chamada de ciência. E se em vez de fazer experimentos para conhecer o mundo houvesse uma ciência para experimentá-lo? Uma ciência rogerbaconiana, considerando que o experimentalismo de Roger Bacon não foi o precursor do experimentalismo de Robert Boyle (para o primeiro a ciência da experiência era um fim enquanto que para o segundo o método experimental era um meio).
E se as formulações em prol do experimentalismo de Bacon desembocassem naquilo que ele talvez pretendesse: a ciência experimental (ou melhor, a ciência da experiência) como um fim e não como um meio de fazer a natureza revelar seus segredos (Galileu)?
E se o que se chamou de ciência não fosse a mesma coisa que uma “ciência” onde o sujeito e o objeto da investigação se fundem e se transformam (cabendo à teoria um papel ou um sentido, talvez, mais órfico, de contemplação e comunhão com o cosmos e não predominantemente especulativo e explicativo)?
Os sofistas foram novos pensadores que, para desespero de Platão, tentaram, com a sua prática, dar respostas inovadoras para essas questões. Há um problema epistemológico de fundo aqui: quando alguém se entrega ao fluxo do pensamento presente não consegue separar a doxa (opinião) da episteme (conhecimento), nem subordinar a primeira à segunda.
A possibilidade de criar tem a ver com kairos, não com kronos. Quando um emaranhado de opiniões (atenção: não uma sistematização de conhecimentos) se conforma segundo determinadas configurações favoráveis à inovação, os novos pensadores aproveitam a oportunidade que se oferece naquele momento, pois sabem que as janelas se fecham rapidamente. Pois tudo é fluxo.
No que tange aos diferentes tipos de logos, os sofistas, como se sabe (ou melhor, em geral, não se sabe), estavam preocupados com o kairos ou a escolha do tempo adequado. E o kairos não é algo a ser alcançado pelo conhecimento (episteme) — é mais próprio da opinião (doxa).
O fato é que A Ciência tornou-se uma instituição imaginária, tal como A Educação e A Sociedade. E as pessoas passaram a acreditar que só existe uma ciência – universal e eterna – e que, de repente, descobrimos a fórmula final entre os séculos 17 e 20 (inclusive). As pessoas, como é óbvio, acreditam que com a ciência vamos descobrir continuamente novas coisas sobre o mundo, a natureza, a sociedade e o ser humano, mas comportam-se como se acreditassem também que a fórmula final para fazer isso já nos tivesse sido revelada por uma conjunção especialíssima de fatores que se constelou no século 17 e foi refinada e normatizada finalmente no século 20, estabelecendo critérios de validação de certos modos de observação, investigação e explicação (e invalidando outros).
Nos múltiplos mundos altamente conectados que estão emergindo na transição para rede (sim, em termos sociais não pode haver mais um mundo, no sentido de O Mundo, senão múltiplos mundos) não pode haver uma educação (A Educação), mas diversos processos de aprendizagem; e não pode haver uma sociedade (A Sociedade), mas miríades de sociosferas; e, da mesma forma, não pode haver uma ciência (A Ciência), mas vários processos de observação, investigação e explicação realizados em diferentes mundos e, portanto, validados por diferentes comunidades que experimentaram vários processos de aprendizagem em sociosferas diversas.
A investigação aqui proposta, embora não se esgote nisso, começa pela tarefa de descobrir quais foram os códigos das ciências surgidas antes e durante o mundo medieval, no mundo renascentista e no mundo moderno. E continua com a tarefa de descrever como será o código das ciências que estão surgindo na contemporaneidade com as ciências da complexidade ou sob o chamado novo paradigma do pensamento sistêmico ou ecológico.
Abrindo o código
Em que sentido a palavra código (mais uma metáfora, como foi assinalado) está sendo empregada aqui? Por certo não é no sentido literal de lei, norma de conduta. Nem no sentido criptográfico, de código para impedir o acesso a uma informação (embora em alguns casos, se pareça bastante com isso). Nem apenas no sentido contemporâneo, introduzido pela informática, de código fonte, como conjunto de palavras ou símbolos escritos de forma ordenada, contendo instruções em uma linguagem de programação.
Código de uma ciência é uma programação de seus modos de observação, investigação e explicação (compreendendo também as características operacionais do modo de explicação).
Para entender a noção de código da ciência é preciso examinar, portanto, o que significam observação, investigação e explicação. Tudo começa sempre com a observação. Investigação compreende observação. Explicação compreende investigação e observação.
Observar nem sempre é parte de uma investigação. A contemplação, por exemplo, é uma espécie de observação intensa que não está empenhada em investigar nenhum como (ou mesmo algum por que).
Investigar nem sempre é parte de uma explicação. Pode-se investigar para ter uma experiência (vivência) de alguma realidade ou fenômeno (como na ciência experimental de Roger Bacon, por exemplo, que era um fim em si e não apenas um mero meio de “torturar a natureza para que ela confessasse suas leis”, como nos experimentos – alguns imaginados, outros falsamente atribuídos e outros efetivamente realizados – de Galileu). A investigação pode também ser uma explicação para si mesmo, para o sujeito que investiga, não em razão de algum tipo abominável de egoísmo, mas pelo desejo de conhecer melhor a realidade investigada (às vezes para se sintonizar com ela).
Explicar é tentar atribuir uma razão (lato sensu) para uma realidade, mas nem sempre é uma busca – como no código mecanicista – do modo de funcionamento da máquina, para tentar levantar o véu que oculta o verdadeiro mecanismo que produz os efeitos observados e investigados.
Toda investigação científica – diga-se o que se quiser dizer – procura perceber conexões e reconhecer padrões. Toda explicação procura revelar as relações entre as conexões e os padrões (regularidades ou invariâncias) observados e os fenômenos que se quer explicar (para dizer como acontecem e, no limite, por que acontecem).
Essa abordagem ainda precisa ser desenvolvida de sorte a possibilitar a distinção entre o que é ciência (não uma única ciência pretendida, mas qualquer ciência) e o que não é ciência. Poder-se-ia afirmar que, em princípio, ciência é explicação de como as coisas acontecem (ou se comportam) e do por que elas acontecem como acontecem (ou se comportam como se comportam), mas nem toda explicação desse tipo pode ser considerada ciência. O problema é que se não há apenas um modo válido (quer dizer, um modo que possa ser validado como o único científico, invalidando todos os outros modos) de explicação, então as coisas se complicam sobremaneira. Por exemplo, explicações xamânicas ou espíritas não podem ser consideradas científicas, enquanto que as explicações da acupuntura e da homeopatia provavelmente possam – mas todas são igualmente invalidadas se considerarmos como unicamente válida a explicação científica mecanicista. A despeito das inumeráveis evidências de suas aplicações, nem a acupuntura nem a homeopatia podem ser validadas como ciência pela (filosofia da ciência da) ciência (atual), antes de qualquer coisa, em razão das características operacionais das explicações que fornecem (que não são, em absoluto, mecanicistas). Mas também não passaria por tal crivo – exclame-se! – a psicologia analítica de Carl Gustav Jung…
Um código pressupõe (mesmo quando não o explicite): a) visões de mundo (da natureza, da sociedade, do ser humano); e b) ideias sobre o conhecimento (ou sobre como se pode ou, muitas vezes, se deve conhecer o mundo) que fundam critérios epistemológicos. Vejamos um exemplo (17):
O código mecanicista da ciência surgida nos séculos 17 (refinado e normatizado no século 20) pressupõe visões de que em qualquer sistema complexo a dinâmica do todo pode ser compreendida a partir das propriedades das partes e de que há estruturas fundamentais, forças e mecanismos por cujo intermédio essas estruturas interagem para gerar processos. E pressupõe uma epistemologia segundo a qual: a) as descrições podem ser objetivas, independentes do observador humano e do processo de conhecimento; b) o conhecimento é uma espécie de construção: trata-se de descobrir leis e princípios fundamentais (que vão se empilhando como se fossem blocos de construção); e c) que o conhecimento assim obtido poderá alcançar a certeza sobre o mundo (ou sobre os eventos que o constituem).
Já para um código das ciências da complexidade (sistêmicas ou ecológicas lato sensu) que estão emergindo, as visões pressupostas são outras: as propriedades das partes só podem ser entendidas a partir da dinâmica do todo (a rigor, não há partes: aquilo que chamamos de parte é meramente um padrão numa teia inseparável de relação) e cada estrutura é vista como a manifestação de um processo subjacente (toda a teia de relações é intrinsecamente dinâmica). Assim como é outra a epistemologia: a) a compreensão do processo de conhecimento deve ser incluída explicitamente na descrição dos fenômenos (sendo parte integrante de cada teoria); b) a metáfora do conhecimento como construção é substituída pela metáfora da rede (percebendo-se a realidade como uma rede de relações, as descrições também conformam uma rede interconexa representando os fenômenos observados: sem hierarquias e alicerces); e c) entende-se que todos os conceitos, teorias e descobertas são limitados e aproximados, nunca podendo fornecer uma compreensão completa e definitiva da realidade e não havendo, portanto, uma correspondência exata entre as descrições e os fenômenos descritos (algo assim como uma verdade) e sim descrições limitadas e aproximadas da realidade.
Além disso, porém, um código de ciência pressupõe um conjunto de características operacionais da explicação adotada compreendendo o que se chama de método. Por exemplo, no código mecanicista essas características devem definir: quem observa-investiga-explica (e como esse sujeito deve se comportar ao fazê-lo); como se focaliza o que é observado (separando-o do meio); o que pode ser considerado propriedade do que é observado; como se organiza e se estrutura o que é observado (que são coisas distintas); e qual é o domínio das interações possíveis que são capazes de alterar o estado ou a natureza do que é observado. O método compreendido aqui envolve operações como: a) a observação do fenômeno (tomado como o problema a ser explicado); b) a proposição de uma hipótese explicativa (sob a forma de um sistema determinístico capaz de gerar um fenômeno isomórfico àquele observado); c) a proposição de um estado ou processo computado no sistema (especificado pela hipótese como um fenômeno predito a ser observado); e, d) a observação do fenômeno predito (18).
Abrir um código é descrever claramente quais são as visões de mundo (da natureza, da sociedade e do ser humano) e qual é a epistemologia pressupostas, bem como desvelar as características do seu operar (quer dizer, do operar de quem observa-investiga-explica), revelando inclusive o que é chamado de método.
Tal já foi feito – em parte – com o código mecanicista da ciência moderna, mas ainda não foi feito com os códigos de outras possíveis (ou impossíveis) ciências; para citar alguns exemplos: a ciência da acupuntura (e da medicina tradicional chinesa), a ciência (da experiência) de Roger Bacon, a ciência (natural) de Giordano Bruno, a ciência (nova) de Gianbattista Vico, a ciência (astrológica) de Johannes Kepler, a ciência (alquímica) de Isaac Newton, a ciência (intuitiva) de Spinoza, a ciência (da metamorfose) de Goethe, a ciência (homeopática) de Hahnemann, a ciência (floral) de Edward Bach, a ciência (da psicologia analítica) de Carl Jung, a ciência (dos campos mórficos e da ressonância mórfica) de Rupert Sheldrake. Todas essas possíveis (ou impossíveis) ciências (dentre várias outras) têm códigos diferentes do código da ciência oficial (sim, oficial: creio que podemos chamar assim a ciência que se acha única pela jurisprudência da corporação acadêmica e é avalizada pelo Estado como tal).
Mesmo em relação à ciência moderna, tal tarefa não foi completada: o seu código permanece, em grande parte, oculto (via de regra oculto porque ocultado) ou inacessível ao leigo, quer dizer, àquele que não se sujeitou ao tribunal epistemológico acadêmico. Não é, portanto, open source.
Uma iniciativa de open science deve propor abrir completamente o código da ciência atual, os códigos de outras ciências que foram invalidadas pela filosofia da ciência (aceita como se fosse ciência ou uma espécie de meta-ciência pela ciência atual) e manter abertos os códigos das novas ciências que estão surgindo.
Mais do que isso, porém. Open science deve propor tornar suficientemente acessível a compreensão do código da ciência atual, de sorte que qualquer pessoa que quiser possa se tornar um cientista (da ciência atual).
Vamos levar a sério a observação de Humberto Maturana (1990) segundo a qual “já que a ciência, como domínio cognitivo, acontece na práxis de viver do observador-padrão como um ser humano, todo ser humano pode, em princípio, operar como observador-padrão [ou cientista] se ele ou ela assim o desejar”. Ainda que o observador-padrão inventado por Maturana pareça mais um observador-padronizado porquanto, segundo ele, “são cientistas (observadores-padrão) e membros da comunidade de cientistas apenas os observadores que podem participar, com outros observadores, e para sua completa satisfação, na realização do critério de validação das explicações científicas e que, além disso, aceitam-no como seu único critério de validação para suas explicações” (explicações essas – ele frisa – que “são constitutivamente mecanicistas”) (19).
Ou seja, não é necessário – nem mesmo para Maturana (que acha que ciência só existe com o código mecanicista) – que alguém seja autorizado por uma corporação de sábios para ser um cientista. Basta que tenha o desejo de gerar explicações científicas e, ao fazê-lo, aplique corretamente o “método científico”.
O problema é que o tal “método científico” (supondo-se que exista um único método correspondente ao código mecanicista) permanece meio inacessível para quem não se sujeita à liturgia acadêmica e ao julgamento do tribunal epistemológico, de sorte que mesmo que encontremos alguém que domine completamente e aplique impecavelmente tal método em suas observações, investigações e explicações (o que é mais um mito, pois nenhum cientista real procede assim), ele não será levado a sério pela comunidade de cientistas, que logo perguntará qual a sua formação, em que instituição estudou, com quem trabalhou, que papers publicou e onde os publicou. Como nas sociedades secretas, alguém tem que ser admitido, testado, aceito, provado, ordenado e reconhecido para ser um membro válido da instituição. Isto, como parece óbvio, nada mais é do que closed science.
Mas mesmo partindo da suposição de que alguém queira aprender o “método científico” por esforços não-heterodidatas (autodidatas ou alterdidatas), mesmo assim isso é dificultado ao máximo pelo… código! E aqui a palavra código vai quase no sentido de código criptográfico mesmo, pelas regras abstrusas da escritura científica, pelas linguagens cifradas, pelo formalismo esotérico, pelos jargões próprios à cada disciplina ou área, pelas referências identificadoras (o conhecimento das outras teorias, das críticas a essas teorias e das principais controvérsias entre seus autores) que passam a segurança de que o sujeito sabe do que está falando: é “um dos nossos”. Para ser ouvido e se fazer ouvir, quer dizer, para interagir, tem que ser “um dos nossos”.
Para adquirir todo esse repertório – em grande parte inútil para o propósito propriamente científico – uma pessoa tem que frequentar, durante vários anos, as redes de conversações de seus professores e de seus colegas e essas redes centralizadas (ou mais centralizadas do que distribuídas) se configuram dentro (e não fora) da instituição universitária. De modo que, conquanto isso não seja dito (mesmo porque não é necessário explicitá-lo), fora da instituição não há ciência (algo mais ou menos semelhante ao vaticínio religioso católico de que “fora da Igreja não há salvação”). Quem discordar desse ponto de vista deve apresentar exemplos de pessoas que conseguiram fazer ciência (e ser reconhecidas como cientistas) fora do âmbito da academia. Alguns justificarão tudo dizendo que está certo, que só pode ser assim mesmo, mas este texto, como deveria ser óbvio, não foi escrito para dialogar com os legitimadores da closed science.
Proposta de roteiro de investigação
(Ver Anexo)
Notas e referências
(1) Uma lista de alguns dos principais investigadores (e professores) que se dedicaram às diferentes ciências do segundo milênio do século 13 ao século 18:
SÉCULOS 13-14
Adelard de Bath (1080-1152)
Robert Grosseteste (1175-1253)
Tomás de Aquino (1225-1274)
Alberto Magno (1193-1280)
Roger Bacon (1214-1294)
Duns Scotus (1265-1308)
Guilherme de Ockham (1288-1347)
Jean Buridan (1295-1358)
Nicolas de Oresme (1320-1382)
SÉCULOS 15-16
Nicolau de Cusa (1401-1464)
Johannes Müller von Königsberg ou Regiomontanus (1432-1476)
Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494)
Marsilio Ficino (1433-1499)
Luca Pacioli (1445-1517)
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Agrippa von Nettesheim (1486-1535)
Paracelso (1493-1541)
Nicolau Copérnico (1473-1543)
Niccolò Tartaglia (1499-1557)
Girolamo Cardano (1501-1576)
Giordano Bruno (1548-1600)
Tycho Brahe (1546-1601)
John Dee (1527-1609)
Giovanni Battista della Porta (1535-1615)
SÉCULOS 17-18
William Gilbert (1544-1603)
Simon Stevin (1548-1620)
Francis Bacon (1561-1626)
Johannes Kepler (1571-1630)
Galileu Galilei (1564-1642)
Evangelista Torricelli (1608-1647)
René Descartes (1596-1650)
William Harvey (1578-1657)
Blaise Pascal (1632-1662)
Robert Boyle (1627-1691)
Christiaan Huygens (1629-1695)
Robert Hooke (1635-1703)
Isaac Newton (1643-1727)
(2) MATURANA, Humberto (1990). “Ciência e Vida Cotidiana; a Ontologia das Explicações Científicas” foi publicado como “Science and Daily Life: the Ontology of Scientific Explanations”, em 1990, pela Vieweg und Sohn (Braunschweig/Wiesbaden), na coletânea organizada por Wolfgang Krohn e Gunther Kuppers Selbstorganisation,- Aspecte einer wissenschaftlicben Revolution, p,107-138. Publicado em português na coletânea MATURANA, Humberto (2000). Cognição, ciência e vida cotidiana. Organização e tradução de Cristina Magro e Victor Paredes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.
(3) Cf. ZANON, Irene (2013). The Alchemical Apocalypse of Isaac Newton. Tesi di Dottorato di Zanon Irene. Venezia: Università Ca’Foscari.
(4) Cf. DOBBS, B. J. (1975). The Foundations of Newton’s Alchemy or “The Hunting of the Greene Lyon”. Cambridge / London / New York: Cambridge University Press, 1975.
(5) MATURANA, Humberto (1978). Biology of language: espistemology of reality. In MILLER, G. A., LENNEGERG, R. (Ed.) Psychology and biology of language and thought. New York: Academic Press; pp. 27-64. Tradução de Cristina Magro in MATURANA, Humberto & MAGRO, Cristina, GRACIANO, Miriam, VAZ, Nelson (orgs.) (1997). A ontologia da realidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1997.
(6) CF. BREWER, J. S. ed. Fr. Rogeri Bacon, Opera quaedam hactenus inedita com trechos da Opus tertium e da Opus Minus e da Epistola de secretis operabus artis et naturae et de nulitate magiae. London: G. Bell & Sons, 1859. Cf. tb. GOLDFARB, Ana Maria Alfonso (1987). Da alquimia à química. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo e Nova Stella Editorial, 1987.
(7) Infelizmente a citação, recolhida pelo junguiano Edward Edinger (1985) em Anatomia da Psique (São Paulo: Cultrix, 1990), tem uma referência indireta: a famosa coletânea The Hermetic Museum (1678) traduzida por Arthur Edmund Waite (1893) na qual, porém, não consegui achar a passagem. É claro que Edinger dá uma explicação psicológica individual e estraga tudo (como diria, suponho, James Hillman), mas isso não vem ao caso.
(8) SAGAN, Carl (1995). O mundo assombrado pelos demônios: a ciência vista como uma vela no escuro. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
(9) DAWKINS, Richard (2006). Deus, um delírio. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
(10) FEYERABEND, Paul (1975). Como defender a sociedade diante da ciência. Disponível em
http://escoladeredes.net/group/openscience/page/como-defender-a-sociedade-diante-da-ciencia
(11) Citado por Paul Feyerabend (1975) em Contra o Método. São Paulo: Unesp, 2011.
(12) KUHN, Thomas (1962). A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2011.
(13) Cf. CAPRA, Fritjof, STEINDL-RAST & MATUS, Thomas (1991). Pertencendo ao Universo: explorações nas fronteiras da ciência e da espiritualidade. São Paulo: Cultrix, 1993.
(14) DAHRENDORF, Ralf (1995). Cf. Dahrendorf, R. (1997). After 1989: morals, revolution, and civil society. New York: St. Martin’s Press, 1997.
(15) Cf. CAPRA, Fritjof, STEINDL-RAST & MATUS, Thomas (1991). Op. cit.
(16) Cf. FEYERABEND, Paul (1975). “Como defender a sociedade diante da ciência”. Disponível em:
http://escoladeredes.net/group/openscience/page/como-defender-a-sociedade-diante-da-ciencia
(17) CAPRA, F. Op. cit.
(18) MATURANA, H. (1978). Op. cit.
(19) Idem.
(20) HUME, David (1739-1740). Tratado da natureza humana. Disponível em http://ebooks.adelaide.edu.au/h/hume/david/h92t/
(21) O texto está disponível para leitura e download free: Multiversidade.
(22) Carl Gustav Jung dedicou pelo menos trinta anos de estudo e elaborações sobre o assunto. Psicologia e Alquimia: Introdução aos problemas religiosos e psicológicos da alquimia (1944), Simbolismo do sonho individual em relação à alquimia (1936), Ideias religiosas na alquimia (1937); Estudos Alquímicos: Comentário ao “O Segredo da Flor de Ouro” (1929), As visões de Zósimo (1938-1954), Paracelso como um fenômeno espiritual (1942), O Espírito Mercúrio (1943-1948), A Árvore Filosófica (1945-1954); e Mysterium Coniunctionis: pesquisas sobre a separação e a composições dos opostos na alquimia (1955-1956).
ANEXO
Proposta de Roteiro de Investigação
A proposta de investigação aqui apresentada e justificada pode ser exposta na forma de seis grandes tarefas. Segue abaixo uma espécie de ementa de cada uma.
1 – O código da ciência
É preciso ver o que há de comum em todos os sistemas de observação-investigação-explicação que podem ser chamados – no sentido ampliado desta proposta – de científicos. Evidentemente essa afirmação contém uma circularidade, já que sem estabelecer um conjunto de características comuns não se pode dizer quais sistemas de observação-investigação-explicação são científicos. Todavia, se partimos da hipótese de que não há apenas uma ciência, então tal conjunto de características não deve ser operativo (de vez que um conjunto de características operativas se aplicam a uma ciência e não a várias). Assim, havendo mais de uma ciência, cada uma delas terá um conjunto de características operativas inscritas no seu código, programando seu modo próprio de observação-investigação-explicação. Logo, as características que precisamos encontrar serão de outra ordem, não tendo o mesmo status epistemológico do que se chamou de método (científico, sempre para se referir ou tendo como referência um método específico: o método da ciência moderna).
Isso significa que: i. não há um código da ciência, senão vários; ii. toda ciência tem um código; iii. deve haver, portanto, algo que distingue uma ciência de uma não-ciência; e iv. o que distingue uma ciência (seja ela qual for) de uma não-ciência não está nas categorias operativas ou no método específico de cada ciência.
Ora, o modo de observação-investigação-explicação de cada ciência é programado pelo seu código, mas não se confunde com esse código. De qualquer maneira existe um modo de observação-investigação-explicação na atividade que chamamos de científica e esse modo, programado pelo código (ou codificado) de diversas maneiras (e não de uma única maneira), é o modo científico. A questão é: em que o modo científico de observação-investigação-explicação seria diferente de outros modos de observação-investigação-explicação?
Qualquer modo de observação-investigação-explicação é um modo de interação. Quais seriam então as características (não-operativas) do modo de interação do sujeito (observador-investigador-explicador) com o mundo (com outros sujeitos e objetos) que qualificariam esse modo como científico?
A ciência (qualquer ciência) não existe se não a fazemos. Ela não é um dado da natureza e sim um esforço humano. Seres humanos podem observar, investigar e explicar eventos (tomamos aqui a noção do mundo como conjunto de eventos) de uma maneira não científica, mesmo quando adotem modos que, por sua sistematização, pareçam científicos (como fazem, por exemplo, os criacionistas ou como tentaram fazer os espiritistas). A observação, a investigação e a explicação sistemáticas não bastam para qualificar um modo de observação-investigação-explicação como científico (do contrário a teologia seria ciência). Por outro lado, se adotarmos os critérios epistemológicos da filosofia da ciência da ciência moderna – completude, coerência (lógica) interna, verificabilidade ou testabilidade ou falsificabilidade etc. – várias ciências serão invalidadas: por exemplo, não apenas a homeopatia de Hahnemann, mas, a rigor, até mesmo a psicologia analítica de Jung.
Cremos que assim está posta a questão.
Para enfrentar essa questão, rigorosamente, seria necessário:
1) Reler os epistemólogos da ciência sob o ponto de vista apresentado no presente texto. Aí devem entrar, entre outros, Francis Bacon, René Descartes, Werner Heisenberg, Karl Popper, Imre Lakatos, Carl Hempel, Mario Bunge, Paul Feyerabend e Humberto Maturana.
2) Fazer uma análise de fundamentos (Foundations) das ciências escolásticas. Para tanto, reexaminar as contribuições de Alberto Magno (e Tomás de Aquino), Robert Grosseteste e Roger Bacon, Duns Scotus, Guilherme de Ockham (Jean Buridan e Nicolas Oresme).
3 – Fazer uma análise de fundamentos das ciências renascentistas, incluindo as ciências dos matemáticos (Regiomontanus, Luca Pacioli, Nicolau Tartaglia e Girolamo Cardano), dos hermetistas e dos investigadores da magia naturalis (Giovanni Pico della Mirandola, Marsilio Ficino e John Dee) e dos alquimistas e espagiristas (como Agrippa, Paracelso e della Porta), dos experimentalistas (como Leonardo da Vinci), dos astrônomos (como Nicolau Copernico e Tycho Brahe), dos mecânicos e cosmólogos (como Giordano Bruno).
4 – Finalmente, conquanto a ciência moderna tenha sido promovida à condição de única ciência, cabe verificar se há apenas um código capaz de atender a tudo que foi assim chamado a partir das contribuições (consideradas atualmente científicas) feitas nos séculos 17 e 18 por gente como William Gilbert, Simon Stevin, Francis Bacon, Johannes Kepler, Galileu Galilei, Evangelista Torricelli, René Descartes, William Harvey, Blaise Pascal, Robert Boyle, Christiaan Huygens, Robert Hooke e Isaac Newton e pelos cientistas que apareceram nos séculos 19 e 20. No século 20, aliás, apareceram várias singularidades epistemológicas (que não cabem bem no paradigma mecanicista) surgidas, por um lado, a partir da relatividade e da mecânica quântica e, por outro lado, com o advento do chamado pensamento sistêmico e das teorias da complexidade. É preciso investigar tudo isso também do ponto de vista da análise de fundamentos.
2 – Abrindo o código
Abrir o código se refere, num primeiro momento (e por isso a palavra código está no singular), a um código específico: o código da ciência moderna (do que é atualmente chamado de ciência). Como vimos, abrir um código é descrever (o mais claramente que for possível):
1 – Quais são as visões de mundo (da natureza, da sociedade e do ser humano) pressupostas.
2 – Qual é a epistemologia pressuposta (ou seja quais são os critérios de validação das explicações aceitas como científicas).
3 – Quais as características do seu operar (quer dizer, do operar de quem observa-investiga-explica), revelando inclusive o que é chamado de método (de modo acessível aos que não são programadores ou codificadores).
4 – Quais os termos e símbolos que foram usados na programação do modo de observar-investigar-explicar e seus significados.
5 – Qual a lógica do formalismo adotado, compreendendo suas regras de combinação e interpretação.
6 – Qual a configuração do ambiente em que o modo de observação-investigação-explicação foi codificado, ou seja, qual a estrutura e a dinâmica – os padrões de organização e os modos de regulação predominantes – das redes (institucionais ou informais) a que estavam conectados os observadores-investigadores-explicadores que programaram e usaram o código. Este último ponto – sempre desprezado – é o único capaz de mostrar as proteções (em geral ocultações) que foram introduzidas no código para impedir o acesso das pessoas comuns.
De um modo geral tudo deve ser acessível (e não apenas o método propriamente dito) e isso nada tem a ver com popularização ou vulgarização da ciência.
É claro que formalismos matemáticos sofisticados não serão acessíveis a qualquer um imediatamente, mas nada impede que tudo seja exposto com mais clareza (expondo-se inclusive os caminhos de acesso) e não como quem escreve para uma seita pitagórica (que é como parece se comportar a comunidade dos matemáticos).
As tarefas enunciadas pelos cinco itens elencados acima jamais foram feitas de modo cabal em relação à ciência moderna e não foram feitas absolutamente de modo algum em relação às outras ciências surgidas no segundo milênio (antes, durante ou depois do século 17), muito menos nos milênios anteriores.
3 – Investigações abertas
As investigações científicas são fechadas, não só porque delas não se pode participar (são autorais, individuais ou grupais, porém sempre institucionais), mas inclusive porque não se pode saber do seu andamento (e acompanhá-lo) e, em alguns casos, não se pode nem mesmo saber que estão em andamento. É tarefa de uma iniciativa de open science abrir as investigações enquanto estão sendo realizadas. Todo o desenvolvimento deve ser público (naquele sentido primitivo – aristotélico – da palavra: de visível indistintamente para todos) e vulnerável à interação com o outro, não apenas com o outro escolhido pela sua relevância, por ser um par especialmente estimado, por ser um membro da hierarquia meritocrática ou por ser um adepto da seita e sim o outro-imprevisível mesmo.
É claro que dentro da academia ou das empresas que se dedicam à pesquisa, isso não se fará sem desobediência. Mas novos ambientes podem ser criados para que tal aconteça e tecnologias apropriadas já existem – e, quando não, podem ser facilmente inventadas – para facilitar ou acelerar o processo de publicização das pesquisas.
Os que se dedicam à open science podem sugerir processos e disponibilizar tecnologias e, podem, além disso, criticar sistematicamente o fechamento da corporação acadêmica e de outras organizações, conclamando abertamente seus integrantes à desobediência. Se trevas existem elas não estão nas pseudociências como acreditam os adeptos da religião científica da modernidade e sim nesses ambientes medievais que permanecem sendo os lugares autorizados da pesquisa oficial de closed science.
4 – Shareable resources
Este é um ponto mais difícil, de vez que uma parte dos recursos para a investigação científica são caros (equipamentos, instalações e, inclusive, publicações) e não podem ser suportados por investigadores livres que não têm acesso aos vultosos recursos aportados pelo Estado, pelas empresas ou obtidos no mercado do ensino superior. No entanto, nada impede que se promova o compartilhamento de recursos: quer, novamente, pela desobediência: tanto ao copyright de publicações científicas (pirateando e disponibilizando seus conteúdos para download ou para consulta free, como tenta fazer o site Sci-Hub), quanto à privatização de equipamentos e outros insumos (que muitas vezes são públicos, posto que adquiridos com recursos, incentivos ou renúncias fiscais públicos). O interesse corporativo também privatiza e as universidades, como se sabe, são corporações.
Softwares muito simples para compartilhamento de recursos já existem (a rigor até tabelas do Google podem ser usadas para tal fim). A questão é que os pesquisadores, em número não desprezível, foram deformados a tal ponto pela competição acadêmica e pela noção perversa de carreira baseada em acumulação individual de créditos, que não valorizam o compartilhamento a não ser quando anteveem vantagens egotistas (na base da reciprocidade de Hume (1740) tal como interpretada por economistas) (20). Assim, numerosos investigadores costumam não compartilhar nem mesmo seus pensamentos (por temor de que seus colegas roubem suas ideias) e não estão particularmente inclinados a deixar que outros pesquisadores se aproveitem dos recursos que duramente conquistaram.
É tarefa típica de open science induzir o compartilhamento de recursos de pesquisa e prover meios (sociais e tecnológicos) para viabilizar e acelerar esse processo.
5 – Processos de Multiversidade
Processos de multiversidade visam criar novos ambientes compartilhados de investigação-aprendizagem, organizados em rede distribuída e regidos democraticamente. Tais ambientes podem ser configurados em qualquer lugar, inclusive nas escolas e universidades.
Tudo o mais sobre processos de multiversidade que, por ora, poderia ser dito aqui sobre o assunto, já foi tratado no meu texto, escrito em colaboração com Nilton Lessa (2012), intitulado Multiversidade: da Universidade dos anos 1000 à Multiversidade nos anos 2000 (21). A leitura desse texto é indispensável para o entendimento do presente roteiro.
6 – Outros códigos
Open science é abertura para o exame de outros códigos de possíveis ciências (diferentes da ciência atual). Para citar alguns exemplos (já mencionados): a ciência da acupuntura (e da medicina tradicional chinesa), a ciência (da experiência) de Roger Bacon, a ciência (natural) de Giordano Bruno, a ciência (nova) de Gianbattista Vico, a ciência (astrológica) de Johannes Kepler, a ciência (alquímica) de Isaac Newton, a ciência (intuitiva) de Spinoza, a ciência (da metamorfose) de Goethe, a ciência (homeopática) de Hahnemann, a ciência (floral) de Edward Bach, a ciência (da psicologia analítica) de Carl Jung, a ciência (dos campos mórficos e da ressonância mórfica) de Rupert Sheldrake.
Um caso particular de notável importância é a chamada ciência alquímica, que atravessou vários séculos desde que chegou à Europa, permanecendo com o código praticamente inalterado. Nos séculos 13 e 14 tivemos, entre outros, Alberto Magno (1193-1280), Tomás de Aquino (1225-1274), Pedro de Maricourt (c. 1200-1299), Roger Bacon (1214-1294), Arnaldo de Vilanova (c. 1235-1311), Raimundo Lulio (1232-1316) e Nicolas Flamel (1330-1418). Nos séculos 15 e 16 tivemos, entre outros, Basilio Valentim (1394-1450), Cornélio Agrippa (Agrippa von Nettesheim) (1486-1535), Paracelso (1493-1541), Heinrich Khunrath (1560-1605), Giovanni Battista della Porta (1535-1615), Michael Maier (1568-1622), Michal Sedziwój (1566-1636) e Robert Fludd (1574-1637). Mas parece não ter havido ruptura entre o que fizeram (e como fizeram) os alquimistas medievais e os renascentistas. Não houve nenhuma “revolução epistemológica” e a alquimia não mudou de paradigma (seja lá o que isso possa ser neste caso). O código alquímico permaneceu basicamente o mesmo (com toda aquela história de ocultamente e segredo), inclusive quando penetrou no século 17, com Johann Valentin Andreae (1586-1654), Francis Bacon (1561-1626), Jan Comenius (1592-1670), Samuel Hartlib (1600-1662), Marin Mersenne (1588-1648), Robert Boyle (1627-1691), Isaac Barrow (1630-1677), Henry More (1614-1687) e chegando então por via dos dois últimos à Isaac Newton (1643-1727), que dedicou sete anos seguidos de investigações (de 1668 a 1675) para começar a entender do que se tratava. Muito tempo depois, Carl Gustav Jung (1875-1961) – já em pleno século 20 – levou a sério os esforços dos alquimistas e parece ter entendido, pelo menos em parte, o código alquímico (22).
Curioso notar que os filósofos da natureza (como Boyle e Newton) considerados depois como os primeiros cientistas, não viam qualquer problema em se dedicar simultaneamente à ciência que virou a ciência oficial e a alquimia. Os preconceitos só apareceram depois, quando entraram em cena os filósofos racionalistas da ciência. Mas não se sabe ainda se a alquimia pode ser considerada – mesmo na concepção ampliada (projetada neste texto) – uma ciência. Os alquimistas preferiam considerá-la uma arte. Tratar disso é parte da investigação proposta.
Mas talvez um dos principais objetivos de open science seja manter abertos os códigos das novas ciências que já estão emergindo ou que ainda vão surgir no terceiro milênio.