Os meios que a democracia se esforça por articular são aqueles próprios da atividade voluntária em total ausência de coerção; trata-se de obter assentimento e consenso sem impor violência alguma. John Dewey (1937)
Deveria ser óbvio que não se pode democratizar a sociedade sem democratizar a política. Do contrário, caberia a alguém democratizar a sociedade para e pela sociedade, o que nega o objetivo de democratização da sociedade. Democracia, ainda quando queiramos enfatizar seu conteúdo social, é política. Democratização pressupõe exercício democrático e, por conseguinte, constituição de sujeitos democráticos, o que só é possível no interior mesmo de um processo democrático.
Também deveria ser óbvio que só se pode alcançar a democracia praticando democracia. Não é possível tomar um atalho autocrático para uma sociedade democrática. A democracia é, simultaneamente, meio e fim, constituindo-se, portanto, como alternativa de presente e não apenas como modelo utópico de futura sociedade ideal. Assim, não se pode chegar a uma sociedade democrática a não ser por meio do exercício da democracia.
Tais constatações são um reconhecimento tardio a John Dewey. Como ele escreveu, no artigo “A democracia é radical” (1937):
A democracia não somente encarna fins que até os ditadores reivindicam hoje como próprios, fins como a segurança dos indivíduos e a oportunidade para que desenvolvam suas respectivas personalidades. A democracia significa, antes de qualquer coisa, defender os meios necessários para que tais fins possam ser levados a termo. Os meios que a democracia se esforça por articular são aqueles próprios da atividade voluntária em total ausência de coerção; trata-se de obter assentimento e consenso sem impor violência alguma. É a força da organização inteligente versus a força da organização imposta de fora para dentro e de cima para baixo. O princípio fundamental da democracia consiste em que os fins da liberdade e da autonomia para todo indivíduo somente podem ser alcançados empregando-se meios condizentes com esses fins (1).
Dewey deveria ser lido e relido todos os dias pelos democratas hoje confrontados com renovadas tentativas de usar a democracia (como fim) contra a democracia (como meio). O que espanta é a clareza desse senhor de quase 80 anos – e há mais de 70 anos – diante de uma questão que se arrasta sem solução teórica e prática até os dias de hoje. Por que John Dewey pôde ter tamanha clareza? Por duas razões, pelo menos: em primeiro lugar porque ele estava realmente convertido ao que chamava de democracia como ideia (ou seja, a democracia no sentido “forte” do conceito) e, em segundo lugar, porque ele vivia um momento histórico em que a democracia estava sendo usada instrumentalmente para legitimar a autocracia (tanto à direita, com o nacional-socialismo alemão, quanto à esquerda, com o bolchevismo da III Internacional ainda em expansão). Isso reforça o conceito “forte” de democracia, que estabelece que só se pode conceituar – e, portanto, conceber a – democracia diante da autocracia.
Tudo indica que vivemos hoje um momento semelhante. Não estamos na iminência de uma guerra generalizada (como estava Dewey em 1937, na antessala da segunda grande guerra mundial) e não existem ameaças totalitárias globais semelhantes ao nazismo e ao comunismo. No entanto, a perversão da política promovida pelos diversos populismos (remanescentes ou reflorescentes) constitui uma ameaça seriíssima à democracia que só pode ser plenamente percebida por quem está convencido – como Dewey estava – da necessidade da radicalização da democracia. Infelizmente tanto os liberais quanto os socialdemocratas de hoje não estão convencidos disso. Creem que basta se posicionar (e ainda por cima timidamente) na defesa das regras formais do sistema representativo, com suas instituições e procedimentos limitados ao voto secreto, às eleições periódicas, à alternância de poder, aos direitos civis e à liberdade de organização política, enfim, ao chamado Estado de direito ou ao império da lei.
Parodiando Tayllerand, parecem não ter esquecido nada e também não ter aprendido nada com o século passado. Mas enquanto eles cochilam, vai avançando o uso da democracia contra a democracia com o fito de manter no poder, por longo prazo, grupos privados que proclamam o ideal democrático como cobertura para enfrear o processo de democratização das sociedades que parasitam, como veremos a seguir.
A partir, sobretudo, da década de 1990, começaram a surgir também visões autoritárias sobre a democracia a partir do pensamento econômico, tanto por parte de economistas, quanto de empresários. Visões segundo as quais a democracia surgiria quando as pessoas tivessem resolvido seus problemas sobrevivenciais e tivesse se formado uma classe média capaz de desejá-la e operá-la.
Uma fala exemplar do magnata dos meios de comunicação, Rupert Murdoch, resume bem essas concepções autoritárias:
Cingapura não é liberal, mas é limpa e livre de toxicômanos. Não faz muito tempo, ela era uma colônia empobrecida e explorada, sofrendo de fome, doenças e outros problemas. Agora as pessoas veem-se morando em apartamentos de três quartos, com empregos e ruas limpas. Países como Cingapura estão no caminho certo: incentivos materiais criam negócios, e também uma economia de mercado, e talvez até uma classe média e, com ela, a democracia. Se os políticos tentarem o caminho inverso, colocando a democracia como tendo que vir de imediato, o resultado é o modelo russo. Noventa por cento dos chineses estão mais interessados em uma vida material melhor do que no direito ao voto (2).
A afirmação subsumida na fala de Murdoch é óbvia. Para chegar à democracia – que seria uma espécie de emanação de condições materiais adequadas – precisamos de um Estado forte, não importando para nada que seja autocrático, quer dizer, que restrinja as liberdades (como acontece em Cingapura e na China). É uma via autocrática para chegar à democracia – o que é uma contradição em termos na medida em que democracia é meio e fim, ou seja, de que só se pode chegar à democracia através da democracia.
Foi o que Ralf Dahrendorf (1994) chamou de “autoritarismo asiático”, acrescentando as seguintes considerações:
O mundo dos valores econômicos apresenta-se como um mundo que talvez seja eficiente, mas que certamente não é livre nem democrático… Não há – e isso para usar termos bem suaves – qualquer garantia de que uma economia calcada em interesses econômicos possa sustentar instituições democráticas e sociedades livres. A cada estágio do desenvolvimento econômico, o risco de autoritarismo é tão grande – senão maior – quanto as perspectivas de democracia. E o que terá isso a nos dizer sobre as relações entre a economia e a política? Será a primazia da política um objetivo desejável, tanto quanto um fato histórico? A política para os políticos, por assim dizer? Ou será que existem relações mais sutis entre os direitos e os suprimentos, a liberdade e a eficiência, a política e a economia? Essa última alternativa é a correta, sem dúvida alguma… Quando os valores econômicos começam a dominar a política, a liberdade muitas vezes passa a correr risco. O novo economicismo dos capitalistas não é menos iliberal que o antigo, dos marxistas. Talvez isso não seja suficiente para invocar o espectro do totalitarismo, mas seu potencial autoritário é o bastante para dar margem a preocupação (3).
Esse pensamento autoritário continuou influenciando o cenário político no início deste século. Um exemplo eloquente é a ideologia que está por trás da proposta dos chamados BRICS. Uma entrevista de Jim O’Neill (2007), criador do termo Bric (Brasil, Rússia, Índia e China como futuras potências econômicas mundiais) deixa claro o caráter antidemocrático desse tipo de pensamento. Segundo ele, para esses países se desenvolverem bastaria aguardar o resultado acumulado do crescimento, manter a estabilidade e continuar crescendo populacionalmente. A democracia não seria algo tão fundamental assim; aliás, poderia ser até um pouco prejudicial. Eis um trecho da (espantosa) entrevista:
Pergunta (do jornalista Ronaldo França): “Mas o fato de não ser uma democracia, e todas as consequências que isso traz ao desenvolvimento do próprio país, não coloca a China em desvantagem?”
Resposta (de Jim O’Neill): “Isso pode ser uma vantagem”.
França: “Uma vantagem?”
O’Neill: “O fato de a Índia ser uma democracia é provavelmente uma desvantagem. Para um país que se desenvolve tão rapidamente, com grande número de pessoas, conseguir estabelecer a concordância entre 1,1 bilhão de pessoas é algo muito difícil. Isso é mais fácil na China, onde o governo pode simplesmente dizer a 1,3 bilhão de pessoas o que vai fazer e pronto. Então eu tenho uma visão, que é evidentemente controvertida, de que, no atual estágio de desenvolvimento dos dois países, a democracia é provavelmente uma desvantagem”.
França: “Com isso, o senhor está dizendo que, para os mercados emergentes, ser uma democracia é um problema?”
O’Neill: “Não de forma geral. O que estou dizendo é que para países com população extremamente grande, como China e Índia, que são os únicos do mundo com mais de 1 bilhão de habitantes, ser aberto como uma democracia não é obviamente uma vantagem em termos de crescimento econômico” (4).
Não apenas os projetos (como os dos novos modelos asiáticos autoritários e o do capitalismo de Estado chinês e, mais recentemente, dos Brics), mas inclusive as utopias baseadas em abundância econômica, são – via de regra – autocráticos. A democracia, ao contrário do que muitos pensam, não é uma utopia, não é um modelo de sociedade ideal, não é um paraíso a ser alcançado, nem pela economia, nem mesmo pela política.
A democracia não é o porto, o ponto de chegada e sim o modo de caminhar
Quem precisa de utopia é a autocracia, não a democracia. As utopias igualitárias e totalitárias querem – todas elas – reformar o homem porque acham que o ser humano veio com uma espécie de “defeito de fábrica” que deve ser consertado pelo Estado para que seja possível habitarmos a cidade ideal. A democracia, que não precisa de utopia, não quer fazer nada disso: quer, apenas, que o ser humano possa – aqui e agora – viver em liberdade, como um ser político, como um interagente na comunidade política.
Mais vale, porém, um erro cometido na democracia do que muitos acertos de uma autocracia. A democracia pressupõe liberdade para errar e para aprender com os próprios erros. Mas, além disso, a democracia implica sempre um aprendizado coletivo em um processo de experimentação sem o qual ela não pode ser valorizada – e, na verdade, nem mesmo realizada – pelos sujeitos políticos que dela participam. A comunidade política se desenvolvendo é sinônimo de sua rede social aprendendo.
Mas é a rede social que aprende com sua própria experiência e não os indivíduos isolados como doutrinandos de um “Estado-reformatório”. Na democracia (e isso vale tanto para o sentido “forte”, quanto para o sentido “fraco” do conceito) não cabe ao Estado reformar o ser humano. Não há nada o que reformar. Somente psicopatas e sociopatas autocráticos imaginam que possuem a fórmula para produzir um “homem novo”, baseados na crença de que o ser humano veio com aquela mencionada espécie de “defeito de fábrica” que deve ser corrigido pelos possuidores da doutrina verdadeira, da ideologia correta, os quais teriam o direito de se apossar do poder de Estado para, por meio desse poder, exercido autocraticamente, regenerar os imperfeitos seres humanos, começando por tentar colonizar, top down, suas consciências.
O trágico século 20 já forneceu exemplos suficientes do que acontece quando reformadores de seres humanos (como Mao ou Pol Pot) se apossam do poder de Estado para ensinar ao povo como caminhar em direção às suas utopias generosas e igualitárias: o melhor indicador para avaliar os resultados desses movimentos autocratizantes talvez seja o número de cadáveres por hora que produzem como efeito colateral de seu empenho reformador.
Ocorre que a democracia não é mesmo um ensinar, mas um deixar aprender. É uma aposta de que os seres humanos comuns podem, sim, aprender a se autoconduzir – mesmo que não possuam nenhuma ciência ou técnica específica – quando imersos em ambientes que favoreçam ao exercício coletivo dessa aprendizagem democrática (5).
Sim, não se trata de levar “as massas” a um lugar que não-existe (u-topus). Essa é uma preocupação de candidatos a condutores de rebanhos, não de democratas. Toda condução de rebanhos é um movimento autocrático. Todo arrebanhamento, toda diluição da pessoalidade pela sua inserção em uma massa disforme e indiferenciada concorre para a autocratização, não para a democratização. Na democracia (no sentido “forte” do conceito), trata-se, sim, de levar as pessoas para a política: mas uma-a-uma.
A democratização é um movimento em direção à política no sentido que os gregos atribuíram ao conceito. Nesse sentido, o objetivo da democracia é a política, a criação daquilo que os gregos denominaram de polis, coisa que, incorretamente, foi tomada como sinônimo de Cidade-Estado. Mas o que é próprio da polis, o que a caracteriza e distingue dos outros Estados antigos, é o fato de ela ser uma comunidade (koinonia) política.
Toda política que não é feita ex parte principis já é o fim, é o resultado da democracia-em-realização, e não um instrumento para se obter qualquer coisa. Para a democracia (no sentido “forte” do conceito), esse fim significa também um meio: uma política cada vez mais democratizada; é nesse sentido que se pode falar que a radicalização da democracia passa pela democratização do que hoje se chama de política.
Não se quer obter nada com a política, a não ser – vale a pena repetir – os seres humanos viverem como seres políticos, isto é, conviverem entre iguais (isonomia) em uma rede pactuada de conversações em que a livre opinião proferida (isegoria) é equitativamente valorizada em princípio (isologia). Ora, essa é a definição de democracia compatível com o sentido da política como liberdade. Se a democracia puder ser definida assim, então ela não passa de sinônimo de política.
A finalidade da democracia é a liberdade, ou seja, a política; não a igualdade. A igualdade é a condição sem a qual não se pode exercer a política, quer dizer, a liberdade. Se os escravos, os estrangeiros e as mulheres de Atenas participassem da Ágora, não poderia haver democracia na Grécia – a menos que eles deixassem de ser o que eram, ou seja, passassem a ser (iguais aos) cidadãos. Mas só então eles seriam livres no sentido político. Isso significa que, se existe qualquer coisa como uma libertação dos excluídos da cidadania, essa libertação deve levar a uma inclusão na cidadania política para que se transforme em liberdade política. Ora, a liberdade política nada mais é do que o exercício da vida política.
Assim, quem faz política instrumentalmente para obter qualquer coisa extrapolítica, não faz, na verdade, política. A política não é um instrumento, é um modo de efetivar a liberdade, atualizá-la no cotidiano da rede de conversações que tece o espaço público, sendo-se, simplesmente, um ser político.
Para que, afinal, serve a democracia se não for para melhorar a vida dos seres humanos, incluir os excluídos, enfim, possibilitar maior desenvolvimento humano, social e sustentável? É o que geralmente as pessoas perguntam (e se perguntam). Todavia, conquanto guarde profundas relações com tais objetivos, a democracia não pode ser usada como instrumento para atingi-los na medida em que ela já faz parte desses objetivos, está coimplicada em sua realização.
A democracia tem uma “utopia” que é uma não-utopia porquanto não é finalística, não é Shangrilah, Eldorado ou a Cidade do Sol, mas a estrela polar dos navegantes que pode ser vista por qualquer um, independentemente do poder que arregimentou ou do conhecimento que acumulou, de qualquer lugar no meio do caminho. E que não é para ser alcançada no futuro. E, ainda, que não admite que alguém – em virtude de sua força ou de sua sabedoria – faça-nos seguir um mapa (o seu mapa) para aportá-la.
Por quê? Porque a democracia não é o porto, o ponto de chegada (no futuro), mas o modo de caminhar (no presente). Assim, a “utopia” da democracia é uma topia: a política. É viver em liberdade como um ser político: cada qual como um interagente – único, diferenciado, totalmente personalizado – da comunidade política.
NOTAS
(1) Cf. Dewey, John (1937). “Democracy is Radical” in The Essential Dewey: Vol. 1 – Pragmatism, Education, Democracy. Indianapolis: Indiana University Press, 1998. Há uma tradução desse texto no livro de Franco, Augusto e Pogrebinschi, Thamy (orgs.) (2008). Democracia cooperativa: escritos políticos escolhidos de John Dewey. Porto Alegre: ediPUCRS, 2008.
(2) Apud, Ralf Dahrendorf (1994) in “Quem faz a história? Sobre o entrelaçamento da economia e da política”. Fala inaugural do Congresso Internacional de História Econômica, proferida no Teatro Scala de Milão, em 12 de setembro de 1994. Dahrendorf, Ralf (1997). Após 1989: moral, revolução e sociedade civil. São Paulo: Paz e Terra, 1997.
(3) Idem.
(4) Cf. Entrevista com Jim O’Neill na revista Veja (edição de 15/03/2007).
(5) Mais uma vez John Dewey deve ser evocado. No discurso, “Democracia criativa: a tarefa diante de nós” (1939) – em que lança sua derradeira contribuição às bases de uma nova teoria normativa da democracia que poderíamos chamar de democracia cooperativa – Dewey afirma que:
“A democracia é um modo de vida orientado por uma fé prática nas possibilidades da natureza humana. A crença no homem comum é um dos pontos familiares do credo democrático. Esta crença carece de fundamento e de sentido salvo quando significa uma fé nas possibilidades da natureza humana tal como essa se revela em qualquer ser humano, não importa qual seja a sua raça, cor, sexo, nascimento ou origem familiar, nem sua riqueza material ou cultural. Essa fé pode ser promulgada em estatutos, porém ficará só no papel a menos que se reforce nas atitudes que os seres humanos revelem em suas mútuas relações, em todos os acontecimentos da vida cotidiana… Abraçar a fé democrática significa crer que todo ser humano, independentemente da quantidade ou do nível de seus dotes pessoais, tem direito a gozar das mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa para desenvolver quaisquer aptidões que possua. A crença democrática no princípio da iniciativa revela generosidade. É universal. É a crença na capacidade de todas as pessoas para dirigir sua própria vida, livre de toda coerção e imposição por parte dos demais, sempre que estejam dadas as devidas condições.
A democracia é um modo de vida pessoal que não está guiado pela mera crença na natureza humana em geral, senão pela fé na capacidade dos seres humanos para julgar e atuar inteligentemente nas condições apropriadas. Em mais de uma ocasião, fui acusado, por críticas provenientes de diversas posições, de abraçar uma fé imprópria, utópica, nas possibilidades da inteligência e na educação enquanto seu correlato. Seja como for, não fui eu quem inventou essa fé. A adquiri em meu entorno, na medida em que esse entorno estava infundido de um espírito democrático. Pois o que é a fé na democracia, em seu papel de consulta, discurso, persuasão, discussão e formação de opinião pública, que no longo prazo se autocorrige, salvo a fé na capacidade da inteligência do homem comum para responder com senso comum ao livre jogo de fatos e ideias, assegurado pelas garantias efetivas da investigação, da assembleia e da comunicação livres? Estou disposto a abandonar em mãos dos defensores dos estados totalitários, de direita e de esquerda, a crença no caráter utópico de dita fé. Pois a fé em questão está tão profundamente arraigada em métodos intrinsecamente democráticos que quando alguém que confessa ser democrata nega essa fé, condena-se a trair a causa que diz defender…
A democracia como modo de vida está orientada pela fé pessoal no trabalho do dia-a-dia com as demais pessoas. A democracia é a crença de que inclusive quando as necessidades, os fins ou as consequências diferem de indivíduo para indivíduo, o hábito da cooperação amistosa – hábito que não exclui a rivalidade e a competição, como no esporte – é por si uma valiosa contribuição à vida. Na medida do possível, extrair qualquer conflito que surja – e continuarão surgindo conflitos – para fora de um contexto de força e de resolução por meios violentos, para situá-lo no da discussão e da inteligência, é tratar os que discordam de nós – por muito grave que seja a discrepância – como pessoas com as quais podemos aprender e, neste sentido, como amigos. A autêntica fé democrática na paz é aquela que confia na possibilidade de dirimir as disputas, as controvérsias e os conflitos como empreendimentos cooperativos nos quais cada uma das partes aprende dando à outra a possibilidade de expressar-se, em lugar de considerá-la como um inimigo a derrotar e suprimir pela força, supressão essa que não é menos violenta quando se obtém por meios psicológicos como a ridicularização, o abuso, a intimidação, do que quando é consequência do confinamento na prisão ou em campos de concentração. A livre expressão das diferenças não é somente um direito dos demais, senão um modo de enriquecer nossa própria experiência. Cooperar, deixando que as diferenças possam ganhar livre expressão, é algo inerente ao modo de vida democrático…
Formulada em tais termos [de uma posição filosófica], a democracia é a crença na capacidade da natureza humana para gerar objetivos e métodos que acrescentem e enriqueçam o curso da experiência. As restantes formas de fé moral e social nascem da ideia de que a experiência deve estar sujeita em um ponto ou outro a certa forma de controle externo, a alguma “autoridade” que supostamente exista fora dos processos da experiência. O democrata crê que o processo da experiência é mais importante que qualquer resultado particular, de maneira que os resultados concretos têm verdadeiro valor se se empregam para enriquecer e ordenar o processo em curso. Já que o processo da experiência pode ser um agente educativo, a fé na democracia e a fé na experiência e na educação são uma e a mesma coisa. Quando os fins e os valores se separam do processo em curso, se convertem em hipóstases, em fixações que paralisam os resultados obtidos, impedindo que revertam sobre esse curso, abrindo o caminho e assinalando a direção de novas e melhores experiências.
Nesse contexto, a experiência significa a livre interação dos seres humanos com o entorno e suas condições – em particular, com o entorno humano. Tal interação transforma as necessidades e satisfaz os desejos por meio do aumento do conhecimento das coisas. O conhecimento das condições reais é a única base sólida para a comunicação e a participação; toda comunicação que não esteja baseada nesse conhecimento implica sujeição a outras pessoas ou às opiniões pessoais de outros. A necessidade e o desejo – de onde nasce o fim e a direção da energia – vão mais além do que existe, e portanto do conhecimento, da ciência. Abrem continuamente caminho para um futuro inexplorado e inalcançado…
Todo modo de vida carente de democracia limita os contatos, os intercâmbios, as comunicações e as interações que estabilizam, ampliam e enriquecem a experiência. Essa liberação e enriquecimento são uma tarefa que deve ser colocada no dia-a-dia. Posto que essa tarefa não pode chegar ao fim até que a experiência mesma seja finalizada, o propósito da democracia é e será sempre a criação de uma experiência mais livre e mais humana, na qual todos participemos e para a qual todos contribuamos” (6).
Parece ficar evidente, nos trechos transcritos acima, que Dewey não tinha uma visão procedimental da democracia, nem a encarava apenas como “as regras do jogo” ou, ainda, como mera forma de legitimação institucional. Mais importante, porém, é sua visão “forte” da democracia – com a qual trabalhamos aqui – como um modo de vida, um meio que é simultaneamente um fim, capaz de promover a conversão de inimizade em amizade política.
Vale a pena repetir uma passagem: “tratar os que discordam de nós – por muito grave que seja a discrepância – como pessoas com as quais podemos aprender e, neste sentido, como amigos…”. Ora, isso é algo capaz de surpreender quem aprendeu a rezar pela cartilha do realismo de Carl Schmitt (em “O Conceito do Político”, escrito poucos anos antes da conferência de Dewey, da qual transcrevemos alguns trechos acima). Sim, a democracia para Dewey era, como ele mesmo afirma, uma espécie de “fé democrática na paz”, aquela fé “que confia na possibilidade de dirimir as disputas, as controvérsias e os conflitos como empreendimentos cooperativos nos quais cada uma das partes aprende dando à outra a possibilidade de expressar-se, em lugar de considerá-la como um inimigo a derrotar e suprimir pela força…” (idem).
O juízo de Dewey, de que “cooperar, deixando que as diferenças possam ganhar livre expressão, é algo inerente ao modo de vida democrático”, por isso que “a democracia é a crença de que inclusive quando as necessidades, os fins ou as consequências diferem de indivíduo para indivíduo, o hábito da cooperação amistosa – hábito que não exclui a rivalidade e a competição, como no esporte – é por si uma valiosa contribuição à vida” estabelece uma ruptura com as concepções adversariais de democracia que contaminaram as práticas totalitárias ou autoritárias, sejam provenientes da “direita” ou da “esquerda”.
Todavia, o que parece mais relevante nesse discurso de Dewey é sua visão antecipatória da rede social. Quando ele diz que “todo modo de vida carente de democracia limita os contatos, os intercâmbios, as comunicações e as interações que estabilizam, ampliam e enriquecem a experiência… [e que] o propósito da democracia é e será sempre a criação de uma experiência mais livre e mais humana, na qual todos participemos e para a qual todos contribuamos”, está antevendo as relações entre a democracia (como modo de vida comunitário) e a dinâmica de redes sociais distribuídas. Está dizendo que o poder (autocrático) age obstruindo fluxos ou colocando obstáculos à livre fluição, separando e excluindo nodos da rede social. E com isso, ao mesmo tempo, está indicando o que devemos fazer para nos livrar da dominação desse tipo de poder.
(6) Foi em 1939 que Dewey escreveu “Creative Democracy: the task before us”, para uma conferência, lida por Horace M. Kallen, em um jantar celebrado em sua homenagem, em 20 de outubro, dia em que o filósofo completava oitenta anos. Esse texto foi publicado, pela primeira vez, em “John Dewey and the Promise of America”, Progressive Education Booklet nº 14 (Columbus, Ohio: American Education Press, 1939). Embora seja a última contribuição de Dewey à teoria da democracia, continua sendo ignorado no debate atual sobre o tema da radicalização da democracia. O texto está disponível em Franco, Augusto e Pogrebinschi, Thamy (orgs.) (2008). Democracia cooperativa: escritos políticos escolhidos de John Dewey (Porto Alegre: ediPUCRS, 2008): http://goo.gl/IYjJvx

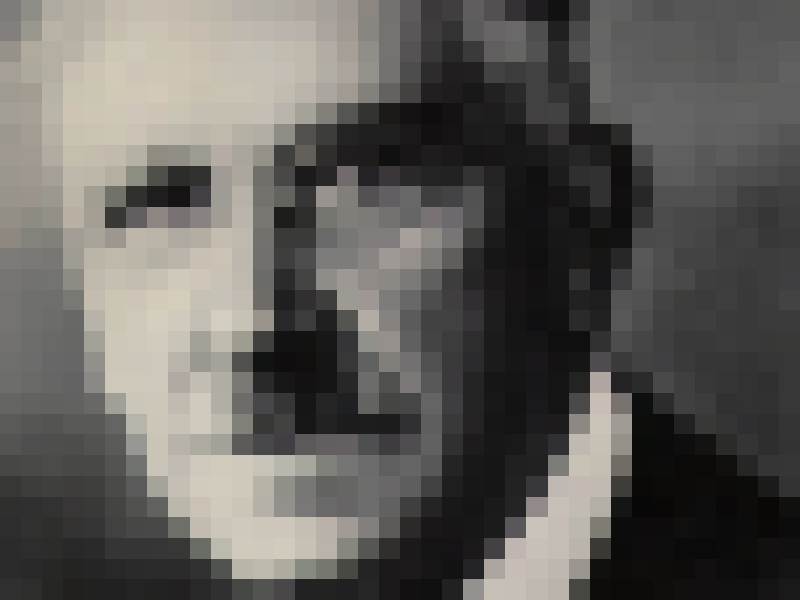
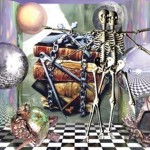

Deixe seu comentário