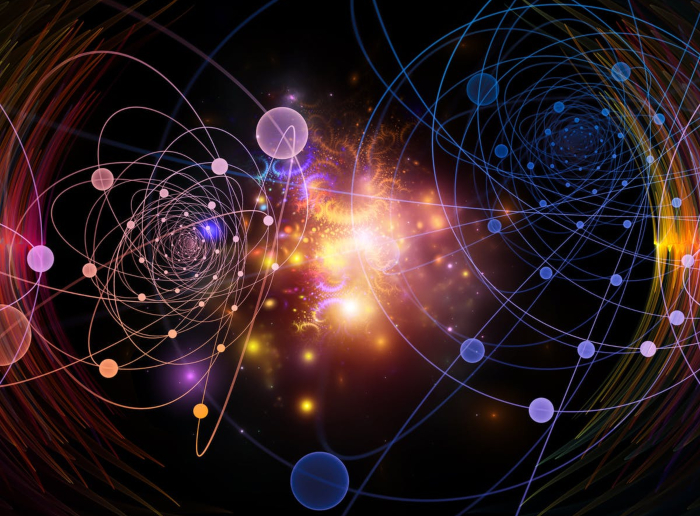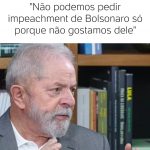Meu foco na última década é a aprendizagem da democracia. Não o ensino, mas a aprendizagem mesmo. Sim, a democracia não é um ensinar, mas um deixar aprender. Então qual deve ser a configuração do ambiente social para que tal aprendizagem aconteça? E por que tão poucas pessoas aprendem?
Para formular possíveis respostas para essas questões enumerei, em artigo anterior (que deve ser lido para o bom entendimento deste artigo), intitulado Disposições subótimas para caracterizar um democrata, nove condições insuficientes para alguém poder se dizer democrata. Mostrei que ser contra a extrema-direita, ser contra o fascismo, ser contra os extremismos, ser contra uma ou outra ditadura particular, ser contra a barbárie (e a favor da civilização), ser contra a violência, ser contra a exploração, ser contra as discriminações e a perseguição às minorias, não é suficiente para caracterizar plenamente um democrata.
Ao final do artigo mencionado acima esbocei algumas disposições suficientes (no seu conjunto) para caracterizar um ator político como plenamente democrático: ser contra todas as autocracias e todos os populismos, ser a favor de direitos políticos e liberdades civis, ser a favor da liberdade como sentido da política, ser a favor da interação amistosa e da conversação, ser a favor da autonomia e estar disposto a apostar na auto-organização, ser a favor de agir com outras pessoas para contender com problemas comuns e para realizar projetos conjuntos a partir da congruência de seus desejos.
Essas condições se interpenetram: muitas vezes a adesão a uma delas implica adesão a várias outras. Estão aqui elencadas a partir de um esforço descritivo, não analítico.
Ser democrata é um comportamento que pode ser aprendido
Ser democrata, pelo que vimos até aqui (neste artigo e no anterior), tem a ver com a disposição para desenvolver comportamentos consonantes com ideias de liberdade como sentido da política, de aceitação do outro por meio da interação amistosa e da colaboração, de autonomia e de auto-organização e, em síntese, de rede (mais distribuída do que centralizada). Tem a ver com convivencialidade. E tem a ver com um fundamento associativo do espaço público.
Considerado tudo que foi dito acima, podemos voltar agora às perguntas que constituem o tema do presente artigo.
Qual deve ser a configuração do ambiente social para que a aprendizagem da democracia aconteça? E por que tão poucas pessoas aprendem?
Ser democrata é um comportamento. E esse comportamento pode ser aprendido. Aliás, só pode ser aprendido: a rigor, não pode ser ensinado e nem pode ser evocado como uma qualidade intrínseca da natureza humana (o ser humano, ao contrário do que afirmou Aristóteles, não é um animal político: a política só ocorre na entreidade, na interação entre os seres humanos), nem invocado como uma memória, ancestral ou recente.
Falamos de conversão à democracia porque se trata de conversão mesmo. Uma conversão não religiosa, mas uma conversão. Porque ninguém nasce democrata. Assim, quem diz que sempre foi democrata, ou está mentindo, ou está enganado. Porque o mundo, tal como está organizado e funciona, não enseja nenhum aprendizado “natural” ou automático da democracia.
Aderir à democracia como valor – e como o principal valor da vida pública e, em alguns casos, da vida privada coletiva, quer dizer, também como modo-de-vida ou de convivência social – requer um esforço de remar contra a corrente, exige resistir à autocracia, o que envolve, antes da razão, outro tipo de emocionar, de aceitação do outro em nosso espaço de vida como um possível parceiro e não como um potencial inimigo.
A conversão à democracia começa, portanto, com uma emoção. Se ninguém nasce democrata, se torna – é preciso ver que alguém se torna democrata, em primeiro lugar, não por um esforço intelectual e sim por uma inconformidade (e uma insuportabilidade) com o emocionar hierárquico e autocrático. Se torna democrata – no sentido forte do conceito de democracia, como processo de desconstituição de autocracia e no sentido amplo desse conceito, da democracia como modo-de-vida e não apenas como modo político de administração do Estado – quando passa a resistir a padrões autocráticos, compreendendo emoções e pensamentos.
Como escrevi recentemente, no artigo Para fazer uma escola democrática de política, cursos de formação política democrática são sempre lembrados como medidas para enfrentar a situação (do déficit não de pessoas que dizem preferir a democracia a outros regimes e sim do défict de agentes democráticos). Mas isso não resolve o problema.
Se ser democrata é um comportamento, não basta discordar ou concordar com isso ou aquilo. É necessário se comportar de uma determinada maneira de sorte a cumprir as funções que caracterizam um agente democrático. Dentre essas funções destacam-se as de:
(a) fermentar a formação de uma opinião pública democrática,
(b) resistir aos autoritarismos (e a qualquer populismo), e
(c) ensaiar a democracia como modo-de-vida (defendendo a democracia que temos para alcançar as democracias que queremos, ou seja, dando continuidade ao processo de democratização).
Tão poucas pessoas aprendem democracia porque, embora o número de pessoas que declaram preferir a democracia a outros regimes possa ser grande, o número de agentes democráticos (ou seja, dos que se comportam de modo a cumprir as três funções mencionadas no parágrafo anterior) é sempre pequeno. Os agentes democráticos são sempre minoria. Como tantas vezes repetimos, são o fermento, não a massa.
Assim, tornar-se um agente democrático parte de uma inconformidade e exige uma conformidade. Inconformidade com o emocionar hierárquico e autocrático. E conformidade em ser minoria (coisa que as pessoas não gostam porque foram “educadas” a estar do lado que pode vencer).
Diante do déficit de agentes democraticos a primeira conclusão lógica é que é preciso multiplicar o seu número estimulando a aprendizagem da democracia. Mas a aprendizagem da democracia não significa apreensão de conteúdos. Considerando, como dizia Maturana (1982), no brilhante texto Aprendizagem ou deriva ontogênica, que aprender não é apreender o mundo e sim mudar com o mundo, essa aprendizagem implica uma mudança de comportamento do sujeito. Ora, ninguém pode experimentar tal mudança se não mudar de rede (não adianta tentar convencer as pessoas com discursos, aulas, ou apenas com recomendações de textos, vídeos e podcasts). É preciso mudar as redes nas quais as pessoas conversam recorrentemente, no dia-a-dia – interagindo entre si e agindo juntas: pois são os links locais que regulam o mundo.
Como escrevi na introdução da tradução brasileira do texto de Deborah Gordon (2018), linkado acima:
Não é possível mudar sem estabelecer novas (ou romper velhas) conexões no nível local. Não adianta falar para grandes massas. Não adianta ouvir – e tentar seguir – grandes mestres. Não adianta ser ensinado com uma nova doutrina para pensar de um modo diferente. Se não houver mudança na estrutura do emaranhado – na topologia da rede social – onde você está (e é como pessoa), você não mudará. É por isso que não adianta tentar fazer a cabeça de uma pessoa, emprenhá-la pelo ouvido, alertá-la ou catequizá-la. Se ela não mudar seus relacionamentos recorrentes, nada feito. Há uma “pegajosidade antropológica” que cria um atrito invencível contra qualquer tentativa de fazer uma pessoa deslizar para outro campo de comportamento (e, consequentemente, de pensamento). Fiéis e militantes dificilmente são reconvertidos enquanto permanecem no rebanho.
Isso significa que devemos ensejar a formação de novas redes locais, novos ambientes configurados para as pessoas se conhecerem e se reconhecerem (ao se sintonizarem) e para fazer coisas juntas (ao se sinergizarem). Ou seja, ensejar a formação de novas comunidades políticas.
Cada um desses ambientes será um novo nicho de “pegajosidade antropológica” capaz de criar condições para que as pessoas fiquem próximas o suficiente para possibilitar as mudanças implicadas na conversão à democracia.
Neste caso, trata-se de conectar as pessoas por desejos congruentes. É a única saída para não arregimentar por interesses. Se arregimentarmos por interesses, dará mais do mesmo (ou seja, não haverá mudança).
Democratas são, a rigor, “produtores” de democracia. Dizendo de outro modo, só aprende democracia quem “produz” ou inventa democracia. Toda vez que regulamos conflitos de modo não-guerreiro criamos democracia. Não são nossos grandes planos para o futuro, mas nossos atos singulares e precários de democratizar relações, em todos os campos da atividade humana, que “produzem” democracia.
Aqui entramos no tema fundamental: como as democracias nascem? Esse processo se dá molecularmente, na base da sociedade. Ele tem a ver com o fluxo ou com o estoque de capital social, ou seja, com as redes.