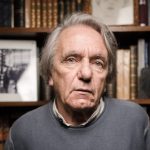DEMOCRACIA, REPÚBLICA, REPRESENTAÇÃO
Jacques Rancière (2005), terceiro capítulo do livro O Ódio à Democracia.
Tradução de Mariana Echalar para Editorial Boitempo: São Paulo, 2014.
Preparação da versão digital do texto: Severino Lucena, 2019.
O escândalo democrático consiste simplesmente em revelar o seguinte: não haverá jamais, com o nome de política, um princípio uno da comunidade que legitime a ação dos governantes a partir das leis inerentes ao agrupamento das comunidades humanas. Rousseau tem razão ao denunciar o círculo vicioso de Hobbes que pretende provar a insociabilidade natural dos homens alegando intrigas de corte e maledicência de salões. Contudo, descrevendo a natureza a partir da sociedade, Hobbes também mostra que é inútil procurar a origem da comunidade política em uma virtude inata de sociabilidade. Se a busca da origem mistura sem nenhuma dificuldade o antes e o depois, é porque ela vem sempre depois. A filosofia que procura o princípio do bom governo ou as razões pelas quais os homens fundam governos vem depois da democracia, que por sua vez vem depois, interrompendo a lógica tradicional segundo a qual as comunidades são governadas por aqueles que têm título para exercer sua autoridade sobre aqueles que são predispostos a submeter-se a ela.
Sendo assim, a palavra democracia não designa propriamente nem uma forma de sociedade nem uma forma de governo. A “sociedade democrática” é apenas uma pintura fantasiosa, destinada a sustentar tal ou tal princípio do bom governo. As sociedades, tanto no presente quanto no passado, são organizadas pelo jogo das oligarquias. E não existe governo democrático propriamente dito. Os governos se exercem sempre da minoria sobre a maioria. Portanto, o “poder do povo” é necessariamente heterotópico à sociedade não igualitária, assim como ao governo oligárquico. Ele é o que desvia o governo dele mesmo, desviando a sociedade dela mesma. Portanto, é igualmente o que separa o exercício do governo da representação da sociedade.
De modo geral, simplifica-se a questão, reduzindo-a à oposição entre democracia direta e democracia representativa. Então, pode-se recorrer simplesmente à diferença dos tempos e à oposição entre realidade e utopia. A democracia direta, diz-se, era adequada para as cidades gregas antigas ou os cantões suíços da Idade Média, onde toda a população de homens livres cabia em uma única praça. A nossas vastas nações e sociedades modernas somente a democracia representativa convém. O argumento não é tão convincente quanto gostaria. No início do século XIX, os representantes franceses não viam dificuldade em reunir na sede do cantão a totalidade dos eleitores. Bastava que o número de eleitores fosse pequeno, coisa que se obtinha com facilidade, reservando o direito de eleger os representantes aos melhores da nação, isto é, aos que podiam pagar um censo de trezentos francos. “A eleição direta”, dizia Benjamin Constant. “constitui o único verdadeiro governo representativo” (1). E, em 1963, Hannah Arendt ainda via na forma revolucionária dos conselhos o verdadeiro poder do povo, na qual se constituía a única elite política efetiva, a elite autosselecionada no território daqueles que se sentem felizes em se preocupar com a coisa pública (2).
Em outras palavras, a representação nunca foi um sistema inventado para amenizar o impacto do crescimento das populações. Não é uma forma de adaptação da democracia aos tempos modernos e aos vastos espaços. É, de pleno direito, uma forma oligárquica, uma representação das minorias que têm título para se ocupar dos negócios comuns. Na história da representação, são sempre os estados, as ordens e as possessões que são representados em primeiro lugar, seja porque se considera seu título para exercer o poder, seja porque um poder soberano lhes dá voz consultiva. E a eleição não é em si uma forma democrática pela qual o povo faz ouvir sua voz. Ela é originalmente a expressão de um consentimento que um poder superior pede e que só é de fato consentimento na medida em que é unânime (3). A evidência que assimila a democracia à forma do governo representativo, resultante da eleição, é recente na história. A representação é, em sua origem, o exato oposto da democracia. Ninguém ignorava isso nos tempos das revoluções norte-americana e francesa. Os País fundadores e muitos de seus seguidores franceses viam nela justamente o meio de a elite exercer de fato, em nome do povo, o poder que ela é obrigada a reconhecer a ele, mas ele não saberia exercer sem arruinar o próprio princípio do governo (4). Os discípulos de Rousseau, de sua parte, somente a admitem repudiando o que a palavra significa, ou seja, a representação dos interesses particulares. A vontade geral não se divide e os deputados representam apenas a nação em geral. Hoje, “democracia representativa” pode parecer um pleonasmo, mas foi primeiro um oximoro.
Isso não quer dizer que seja necessário opor as virtudes da democracia direta às mediações e aos desvios da representação, ou apelar das aparências mentirosas da democracia formal diante da efetividade de uma democracia real. É tão falso identificar democracia e representação quanto fazer de uma a refutação da outra. Democracia quer dizer precisamente o seguinte: as formas jurídico-políticas das constituições e das leis de Estado não repousam jamais sobre uma única e mesma lógica. O que chamamos de “democracia representativa” (e seria mais exato chamar de sistema parlamentar ou, como faz Raymond Aron, “regime constitucional pluralista”) é uma forma mista: uma forma de funcionamento do Estado, fundamentada inicialmente no privilégio das elites “naturais” e desviada aos poucos de sua função pelas lutas democráticas. A história sangrenta das lutas pela reforma eleitoral na Grã-Bretanha é, sem dúvida, o melhor exemplo, complacentemente eclipsado pelo idílio de uma tradição inglesa da democracia “liberal”. O sufrágio universal não é em absoluto uma consequência natural da democracia. A democracia não tem consequência natural precisamente porque é a divisão da “natureza”, o elo rompido entre propriedades naturais e formas de governo. O sufrágio universal é uma forma mista, nascida da oligarquia, desviada pelo combate democrático e perpetuamente reconquistada pela oligarquia, que submete seus candidatos e às vezes suas decisões à escolha do corpo eleitoral, sem nunca poder excluir o risco de que o corpo eleitoral se comporte como uma população de sorteio.
A democracia nunca se identifica com uma forma jurídico-política. Isso não quer dizer que lhe seja indiferente. Isso quer dizer que o poder do povo está sempre aquém e além dessas formas. Aquém, porque elas não podem funcionar sem se referir, em última instância, a esse poder dos incompetentes que fundamenta e nega o poder dos competentes, a essa igualdade que é necessária ao próprio funcionamento da máquina não igualitária. Além, porque as próprias formas que inscrevem esse poder são constantemente readequadas, pelo próprio jogo da máquina governamental, à lógica “natural” dos títulos para governar, que é uma lógica da indistinção do público e do privado. Uma vez que o vínculo com a natureza está cortado, e os governos são obrigados a se mostrar como instâncias do comum da comunidade, separadas da lógica única das relações de autoridade imanentes à reprodução do corpo social, existe uma esfera pública que é uma esfera de encontro e conflito entre as duas lógicas opostas da polícia e da política, do governo natural das competências sociais e do governo de qualquer um. A prática espontânea de todo governo tende a estreitar essa esfera pública, a transformá-la em assunto privado seu e, para isso, a repelir para a vida privada as intervenções e os lugares de intervenção dos atores não estatais. Assim, a democracia, longe de ser a forma de vida dos indivíduos empenhados em sua felicidade privada, é o processo de luta contra essa privatização, o processo de ampliação dessa esfera. Ampliar a esfera pública não significa, como afirma o chamado discurso liberal, exigir a intervenção crescente do Estado na sociedade. Significa lutar contra a divisão do público e do privado que garante a dupla dominação da oligarquia no Estado e na sociedade.
Essa ampliação significou historicamente duas coisas: conseguir que fosse reconhecida a qualidade de iguais e de sujeitos políticos àqueles que a lei do Estado repelia para a vida privada dos seres inferiores; conseguir que fosse reconhecido o caráter público de tipos de espaço e de relações que eram deixados à mercê do poder da riqueza. Isso significou, em primeiro lugar, lutas para incluir entre os eleitores e os elegíveis todos aqueles que a lógica policial excluía naturalmente: todos aqueles que não possuem título para participar da vida pública, porque não pertencem à “sociedade”, mas apenas à vida doméstica e reprodutora, porque seu trabalho pertence a um senhor ou a um esposo (trabalhadores assalariados assimilados de longa data aos domésticos, que dependem de seus senhores e são incapazes de vontade própria, mulheres submetidas à vontade de seus esposos e incumbidas da família e da vida doméstica). Significou também lutas contra a lógica natural do sistema eleitoral, que transforma a representação em representação dos interesses dominantes e a eleição em dispositivo destinado ao consentimento: candidaturas oficiais, fraudes eleitorais, monopólios de fato das candidaturas. Mas essa ampliação compreende também todas as lutas para afirmar o caráter público de relações, instituições e espaços considerados privados. Essa última luta foi descrita em geral como movimento social, em razão de seus lugares e de seus objetos: discussões sobre salários e condições de trabalho, batalhas sobre os sistemas de saúde e aposentadoria. No entanto, essa designação é ambígua. De fato, pressupõe como dada uma distribuição do político e do social, do público e do privado, que é, na realidade, uma aposta política de igualdade ou desigualdade. A discussão sobre os salários foi primeiro uma discussão para desprivatizar a relação salarial, afirmar que esta não era nem uma relação de um senhor com um servo nem um simples contrato firmado caso a caso entre dois indivíduos privados, mas uma questão pública, que diz respeito a uma coletividade e, por conseguinte, depende das formas da ação coletiva, da discussão pública e da norma legislativa. O “direito ao trabalho”, reivindicado pelos movimentos operários do século XIX, significa, em primeiro lugar, o seguinte: não a demanda de assistência de um “Estado-providência”, à qual se quis assimilá-lo, mas, sobretudo, a constituição do trabalho como estrutura da vida coletiva arrancada do reino único do direito dos interesses privados e impondo limites ao processo naturalmente ilimitado do crescimento da riqueza.
Pois, uma vez que sai da indistinção primitiva, a dominação se exerce mediante uma lógica da distribuição das esferas que é ela própria de dupla competência. De um lado, pretende separar o domínio da coisa pública dos interesses privados da sociedade. Nesse sentido, declara que, mesmo onde é reconhecida, a igualdade dos “homens” e dos “cidadãos” concerne apenas à relação destes com a esfera jurídico-política constituída e que, mesmo onde o povo é soberano, somente o é na ação de seus representantes e de seus governantes. Ela faz a distinção do público que pertence a todos e do privado em que reina a liberdade de cada um. Mas essa liberdade de cada um é a liberdade — isto é, a dominação — dos que detêm os poderes imanentes à sociedade. É o império da lei de crescimento da riqueza. Quanto à esfera pública assim pretensamente purificada dos interesses privados, ela é também uma esfera pública limitada, privatizada, reservada ao jogo das instituições e ao monopólio dos que as fazem funcionar. Essas duas esferas são separadas em princípio apenas para ser mais bem unidas sob a lei oligárquica. Os Pais Fundadores norte-americanos ou os partidários franceses do regime censitário não viram nenhuma malícia em identificar com a figura do proprietário a do homem público capaz de se erguer acima dos interesses mesquinhos da vida econômica e social. O movimento democrático é assim um duplo movimento de transgressão dos limites, um movimento para estender a igualdade do homem público a outros domínios da vida comum e, em particular, a todos que são governados pela ilimitação capitalista da riqueza, um movimento também para reafirmar o pertencimento dessa esfera pública incessantemente privatizada a todos e qualquer um.
Foi assim que a dualidade tão comentada do homem e do cidadão pôde entrar no jogo. Essa dualidade foi denunciada pelos críticos, de Burke a Agamben, passando por Marx e Hannah Arendt, em nome de uma lógica simples: se a política precisa de dois princípios, e não um só, é por causa de um vício ou embuste. Um dos dois deve ser ilusório, se não os dois. Os direitos dos homens são vazios ou tautológicos, dizem Burke e Hannah Arendt. Ou então são os direitos do homem nu. Mas o homem nu, o homem sem pertencimento a uma comunidade nacional constituída, não tem nenhum direito. Os direitos humanos são então os direitos vazios dos que não têm nenhum direito. Ou então são os direitos dos homens que pertencem a uma comunidade nacional. Eles são então simplesmente os direitos dos cidadãos dessa nação, os direitos dos que têm direitos, portanto pura tautologia. Marx, ao contrário, vê nos direitos do cidadão a constituição de uma esfera ideal cuja realidade consiste nos direitos do homem, que não é o homem nu, mas o homem proprietário que impõe a lei de seus interesses, a lei da riqueza, sob a máscara do direito igual de todos.
Essas duas posições coincidem em um ponto essencial: a vontade, herdeira de Platão, de reduzir a díade homem e cidadão ao par ilusão e realidade, a preocupação de que o político tenha um único e só princípio. O que ambas recusam é que o um da política exista apenas pelo suplemento anárquico expresso pela palavra democracia. Concorda-se de bom grado com Hannah Arendt que o homem nu não tem direito que lhe pertença, que não é um sujeito político. Mas o cidadão dos textos constitucionais não é mais sujeito político do que ele. Os sujeitos políticos não se identificam nem com “homens” ou agrupamentos de populações nem com identidades definidas por textos constitucionais. Eles se definem sempre por um intervalo entre identidades, sejam essas identidades determinadas pelas relações sociais ou pelas categorias jurídicas. O “cidadão” dos clubes revolucionários é aquele que não reconhece a oposição constitucional dos cidadãos ativos (isto é, capazes de pagar o censo) e dos cidadãos passivos. O operário ou o trabalhador como sujeito político é o que se separa da atribuição ao mundo privado, não político, que esses termos implicam. Existem sujeitos políticos no intervalo entre diferentes nomes de sujeitos. Homem e cidadão são alguns desses nomes, nomes do comum, cujas extensão e compreensão são igualmente litigiosas e, por esse motivo, prestam-se a uma suplementação política, a um exercício que verifica a quais sujeitos esses nomes se aplicam e a força que contém.
Foi assim que a dualidade do homem e do cidadão pôde servir à construção de sujeitos políticos que põem em cena e em causa a dupla lógica da dominação, a que separa o homem público do indivíduo privado para melhor assegurar, nas duas esferas. a mesma dominação. Para que deixe de se identificar com a oposição da realidade e da ilusão, essa dualidade deve ser dividida novamente. A lógica policial de separação das esferas, a ação política opõe então outro uso do mesmo texto jurídico, outra encenação da dualidade entre o homem público e o privado. Ela subverte a distribuição dos termos e dos lugares, jogando o homem contra o cidadão e o cidadão contra o homem. Como nome político, o cidadão opõe a regra da igualdade fixada pela lei e por seu princípio às desigualdades que caracterizam os “homens”, isto é, os indivíduos privados, submetidos aos poderes do nascimento e da riqueza. E, ao contrário, a referência ao “homem” opõe a igual capacidade de todos a todas as privatizações da cidadania: as que excluem da cidadania tal ou tal parte da população ou as que excluem tal ou tal domínio da vida coletiva do reino da igualdade cidadã. Cada um desses termos cumpre então, polemicamente, o papel do universal que se opõe ao particular. E a oposição da “vida nua” à existência política é ela própria politizável.
É o que mostra o famoso silogismo introduzido por Olympe de Gouges no Artigo 10 de sua “Declaração dos direitos da mulher e da cidadã”: “a mulher tem o direito de subir ao cadafalso; mas ela deve igualmente ter o direito de subir à tribuna”. Esse raciocínio é bizarramente inserido no meio do enunciado do direito de opinião das mulheres, calcado no dos homens (“Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo que sejam de princípio; […] contanto que suas manifestações não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei”). Mas essa mesma bizarrice marca a torção da relação entre vida e cidadania que fundamenta a reivindicação de um pertencimento das mulheres à esfera da opinião política. Elas foram excluídas do benefício dos direitos do cidadão em nome da divisão entre a esfera pública e a esfera privada. Pertencendo à vida doméstica, portanto ao mundo da particularidade, elas são estranhas ao universal da esfera cidadã. Olympe de Gouges inverte o argumento, apoiando-se na tese que transforma a punição no “direito” do culpado: se as mulheres têm “o direito de subir ao cadafalso”, se um poder revolucionário pode condená-las a ele, é porque a própria vida nua delas é política. A igualdade da sentença de morte anula a evidência da distinção entre vida doméstica e vida política. Portanto. as mulheres podem reivindicar seus direitos de mulheres e cidadãs, um direito idêntico que, no entanto, somente se afirma na forma de suplemento.
Fazendo isso, elas refutam a demonstração de Burke ou Hannah Arendt. Segundo eles, ou os direitos humanos são os direitos do cidadão, isto é, os direitos daqueles que têm direitos, o que é uma tautologia; ou os direitos do cidadão são os direitos humanos. Mas, uma vez que o homem nu não tem direitos, são então os direitos dos que não têm nenhum direito, o que é um absurdo. Ora, entre as supostas pinças dessa tenaz lógica, Olympe de Gouges e seus companheiros inserem uma terceira possibilidade: os “direitos da mulher e da cidadã” são os direitos daquelas que não têm os direitos que elas têm e que têm os direitos que elas não têm. Elas são arbitrariamente privadas dos direitos que a declaração atribui sem distinção aos membros da nação francesa e da espécie humana. Mas elas exercem também, por sua ação, o direito do(a)s cidadão(ã)s que a lei lhes recusa. Elas demonstram desse modo que tem, sim, esses direitos que lhes são negados, “ter” e “não ter” são termos que se desdobram. E a política é a operação desse desdobramento. A moça negra que, num dia de dezembro de 1955 em Montgomery, no Alabama, decidiu permanecer no lugar em que estava no ônibus — lugar que não era o dela —, decidiu com esse mesmo gesto que tinha como cidadã dos Estados Unidos o direito que ela não tinha como moradora de um Estado que proibia aquele lugar a qualquer indivíduo que tivesse mais do que 1/16 de sangue “não caucasiano” (5). E os negros de Montgomery que, diante desse conflito entre uma pessoa privada e uma empresa de transportes, decidiram boicotar a empresa agiram politicamente, pondo em cena a dupla relação de exclusão e inclusão inscrita na dualidade do ser humano e do cidadão.
É isso que implica o processo democrático: a ação de sujeitos que, trabalhando no intervalo das identidades, reconfiguram as distribuições do privado e do público, do universal e do particular. A democracia não pode jamais se identificar com a simples dominação do universal sobre o particular. Pois, segundo a lógica da polícia, o universal é continuamente privatizado, continuamente reduzido a uma divisão do poder entre nascimento, riqueza e “competência” que atua tanto no Estado quanto na sociedade. Essa privatização se efetua comumente em nome da pureza da vida pública, que é oposta às particularidades da vida privada ou do mundo social. Mas essa pretensa pureza do político é apenas a de uma distribuição dos termos, de um dado estado das relações entre as formas sociais do poder da riqueza e as formas de privatização estatal do poder de todos. O argumento confirma apenas o que pressupõe: a separação entre os que são ou não são “destinados” a se ocupar com a vida pública e com a distribuição do público e do privado. Portanto, o processo democrático deve constantemente trazer de volta ao jogo o universal em uma forma polêmica. O processo democrático é o processo desse perpétuo pôr em jogo, dessa invenção de formas de subjetivação e de casos de verificação que contrariam a perpétua privatização da vida pública. A democracia significa, nesse sentido, a impureza da política, a rejeição da pretensão dos governos de encarnar um princípio uno da vida pública e, com isso, circunscrever a compreensão e a extensão dessa vida pública. Se existe uma “ilimitação” própria à democracia, é nisso que ela reside: não na multiplicação exponencial das necessidades ou dos desejos que emanam dos indivíduos, mas no movimento que desloca continuamente os limites do público e do privado, do político e do social.
É esse deslocamento inerente à própria política que a chamada ideologia republicana recusa. Esta exige a estrita delimitação das esferas do político e do social e identifica a república com o reino da lei, indiferente a todas as particularidades. Foi assim que ela argumentou sua discussão sobre a reforma escolar nos anos 1980. Propagou a simples doutrina de uma escola republicana e laica, que distribui a todos o mesmo saber sem considerar diferenças sociais. Estabeleceu como dogma republicano a separação entre a instrução, isto é, a transmissão dos saberes, que é assunto público, e a educação, que é privado. Então atribuiu como causa da “crise da escola” a invasão da instituição escolar pela sociedade e acusou os sociólogos de terem se transformado nos instrumentos dessa invasão, propondo reformas que consagravam a confusão entre a educação e a instrução. A república assim entendida pareceu se colocar, portanto, como o reino da igualdade encarnado na neutralidade da instituição estatal, indiferente às diferenças sociais. Pode causar espanto que o principal teórico dessa escola laica e republicana apresente hoje, como único obstáculo ao suicídio da humanidade democrática, a lei da filiação encarnada no pai que incita os filhos a estudar os textos sagrados de uma religião. Mas o aparente paradoxo mostra justamente o equívoco que estava escondido na referência simples a uma tradição republicana da separação entre Estado e Sociedade.
A palavra república não pode significar simplesmente o reino da lei igual para todos. República é um termo ambíguo, perseguido pela tensão implicada pela vontade de incluir nas formas instituídas do político o excesso da política. Incluir esse excesso quer dizer duas coisas contraditórias: reconhecê-lo, estabelecendo-o nos textos e nas formas da instituição comunitária, mas também suprimi-lo, identificando as leis do Estado com os costumes de uma sociedade. De um lado, a república moderna identifica-se com o reino de uma lei que emana de uma vontade popular que inclui o excesso do dêmos. Mas, de outro, a inclusão desse excesso exige um princípio regulador: a república precisa não somente das leis, mas também dos costumes republicanos. A república é um regime de homogeneidade entre as instituições do Estado e os costumes da sociedade.
A tradição republicana, nesse sentido, não remonta nem a Rousseau nem a Maquiavel. Remonta propriamente à politeia platônica. Ora, esta não é o reino da igualdade pela lei, da igualdade “aritmética” entre unidades equivalentes. É o reino da igualdade geométrica, que coloca os que valem mais acima dos que valem menos. Seu princípio não é a lei escrita e semelhante para todos, mas a educação que dota cada pessoa e cada classe da virtude própria a seu lugar e a sua função. A república assim entendida não opõe sua unidade à diversidade sociológica. Pois a sociologia não é a crônica da diversidade social. Ao contrário, é a visão do corpo social homogêneo, que opõe seu princípio vital interno à abstração da lei. República e sociologia são, nesse sentido, os dois nomes de um mesmo projeto: restaurar para além do esgarçamento democrático uma ordem política que seja homogênea com o modo de vida de uma sociedade. É exatamente o que Platão propõe, isto é, uma comunidade cujas leis não sejam fórmulas mortas, mas a própria respiração da sociedade: os conselhos dados pelos sábios e o movimento interiorizado desde o nascimento pelos corpos dos cidadãos, expresso pelos coros dançantes da cidade. Foi o que propôs a ciência sociológica moderna após a Revolução Francesa: remediar o esgarçamento “protestante”, individualista, do tecido social antigo, organizado pelo poder do nascimento; opor à dispersão democrática a reconstituição de um corpo social bem distribuído em suas funções e hierarquias naturais e unido por crenças comuns.
Portanto, a ideia republicana não pode ser definida como limitação da sociedade pelo Estado. Implica sempre o trabalho de uma educação que harmonize ou rearmonize as leis e os costumes, o sistema das formas institucionais e a disposição do corpo social. Há duas maneiras de pensar essa educação. Alguns já a veem em ação no corpo social, do qual é preciso apenas extraí-la: a lógica do nascimento e da riqueza produz uma elite das “capacidades” que tem tempo e meios de se esclarecer e impor a moderação republicana à anarquia democrática. É o pensamento dominante dos Pais Fundadores norte-americanos. Para outros, o próprio sistema das capacidades está desfeito e a ciência deve reconstituir a harmonia entre Estado e sociedade.
Esse pensamento fundamentou a empreitada educativa na Terceira República francesa. Mas essa empreitada nunca se reduziu ao simples modelo projetado pelos “republicanos” do nosso tempo. Ele foi um combate em duas frentes. Quis arrancar as elites e o povo do poder da Igreja Católica e da monarquia a que aquela servia. Contudo, esse programa não tem nada a ver com o projeto de uma separação entre Estado e sociedade, instrução e educação. Na verdade, a república nascente subscreveu o programa sociológico: refazer um tecido social homogêneo que suceda, para além do esgarçamento revolucionário e democrático, ao antigo tecido da monarquia e da religião. Por isso o entrelaçamento da instrução e da educação é tão fundamental. As frases que introduzem os alunos da escola primária no mundo da leitura e da escrita devem ser indissociáveis das virtudes morais que fixam seu uso. E, na outra ponta da cadeia, espera-se que os exemplos dados por uma literatura latina livre das vãs sutilezas biológicas passem suas virtudes à elite dirigente.
É por isso também que a escola republicana se divide de imediato em duas visões opostas. O programa de Jules Ferry repousa sobre uma equação postulada entre a unidade da ciência e a da vontade popular. Identificando república e democracia como uma ordem social e política indivisível, Ferry reivindica, em nome de Condorcet e da revolução, um ensino que seja homogêneo do mais alto ao mais baixo grau. Sua vontade de suprimir as barreiras entre primário, secundário e superior e sua defesa de uma escola aberta para o exterior, na qual a instrução básica repouse sobre a diversão das “lições das coisas”, e não sobre a austeridade das regras da gramática, e de um ensino moderno que dê as mesmas oportunidades que o ensino clássico soariam muito mal aos ouvidos de muitos de nossos “republicanos” (6). Em todo caso, suscitam à época a hostilidade dos que veem nisso a invasão da república pela democracia. Estes militam por um ensino que separa claramente as duas funções da escola pública: transmitir ao povo o que lhe é útil e formar uma elite capaz de se elevar acima do utilitarismo a que estão fadados os homens do povo (7). Para eles, a distribuição de um saber deve ser sempre, ao mesmo tempo, a impregnação de um “meio” e de um “corpo” que os torne apropriados a sua destinação social. O mal absoluto é a confusão dos meios. Ora, a raiz dessa confusão está em um vício que tem dois nomes equivalentes: igualitarismo ou individualismo. A “falsa democracia”, a democracia “individualista”, conduz a civilização, segundo eles, a uma avalanche de males que Alfred Fouillée descreve em 1910, na qual o leitor dos jornais dos primeiros anos do século XXI reconhecerá sem nenhuma dificuldade os efeitos catastróficos de Maio de 1968, da liberação sexual e do reino do consumo de massa:
O individualismo absoluto, cujos princípios os próprios socialistas adotam com frequência, gostaria que os filhos (…) não fossem em absoluto solidários com suas famílias, que fossem cada um como um indivíduo X, (…) caído do céu, capaz de fazer qualquer coisa, não tendo outras regras além dos acasos de seus gostos. Tudo que pode unir os homens entre eles parece uma corrente servil à democracia individualista.
Ela começa a se revoltar até contra a diferença dos sexos e as obrigações que essa diferença acarreta: por que educar as mulheres de maneira diferente dos homens, e à parte, e para profissões diferentes? Vamos juntá-los no mesmo regime e no mesmo caldo científico, histórico e geográfico, nos mesmos exercícios geométricos; vamos abrir a todos e a todas igualmente todas as carreiras. |…| O indivíduo anônimo, insexual, sem ancestrais, sem tradição, sem meio, sem vínculo de nenhuma espécie, eis — como Taine previu — o homem da falsa democracia, aquele que vota e cuja voz conta como um, quer se chame Thiers, Gambetta. Taine, Pasteur, quer se chame Vacher. O indivíduo acabará sozinho com seu eu, no lugar de todos os “espíritos coletivos”, no lugar de todos os meios profissionais que criaram, através dos tempos, os laços de solidariedade e preservação das tradições da honra comum. Será o triunfo do individualismo atomista, isto é, da força, do número e da astúcia (8).
Como a atomização dos indivíduos acaba significando o triunfo do número e da força, pode ser algo obscuro para o leitor. Mas esse é precisamente o grande subterfúgio que o recurso ao conceito de “individualismo” introduz. O fato de o individualismo encontrar tal desfavor em pessoas que, por outro lado, declaram sua profunda repulsa pelo coletivismo e pelo totalitarismo é um enigma fácil de resolver. Não é a coletividade em geral que o crítico do “individualismo democrático” defende com tanta paixão. É certa coletividade, a coletividade bem hierarquizada dos corpos, dos meios e das “atmosferas” que adaptam os saberes às fileiras sob a sábia direção de uma elite. E não é o individualismo que ele rejeita, mas a possibilidade de qualquer um partilhar de suas prerrogativas. A crítica ao “individualismo democrático” é simplesmente o ódio à igualdade pelo qual uma inteligentsia dominante confirma que é a elite qualificada para dirigir o cego rebanho.
Seria injusto confundir a república de Jules Ferry com a de Alfred Fouillée. Em compensação, é justo reconhecer que os “republicanos” dos nossos tempos estão mais próximos do segundo do que do primeiro. Bem mais do que das Luzes e do grande sonho de educação erudita e igualitária do povo, são herdeiros da grande obsessão da “desfiliação”, da “desvinculação” e da mistura fatal das condições e dos sexos produzidos pela ruína das ordens e dos corpos tradicionais. O que importa é, sobretudo, compreender a tensão que habita a ideia de república, de um sistema de instituições, leis e costumes que suprime o excesso democrático homogeneizando Estado e sociedade. A escola, pela qual o Estado distribui ao mesmo tempo os elementos da formação dos homens e dos cidadãos, oferece-se naturalmente como a instituição adequada para realizar essa ideia. Mas não existem razões particulares para que a distribuição dos saberes — matemática ou latim, ciências naturais ou filosofia — forme mais cidadãos para a república do que conselheiros para os príncipes ou clérigos para o serviço de Deus. A distribuição dos saberes tem eficácia social somente na medida em que é também uma (re)distribuição das posições. Para medir a relação entre as duas distribuições, é necessária uma ciência a mais. Desde Platão, essa ciência real tem nome: chama-se ciência política. Tal como foi imaginada, de Platão a Jules Ferry, deveria unificar os saberes e definir, a partir dessa unidade, uma vontade e uma direção comuns do Estado e da sociedade. Mas sempre faltou a essa ciência a única coisa necessária para regular o excesso constitutivo da política: a determinação da justa proporção entre igualdade e desigualdade. Existe, é claro, todo tipo de arranjo institucional que permite aos Estados e aos governos apresentar aos oligarcas e aos democratas o rosto que cada um deseja ver. Aristóteles apresenta, no quarto livro da Política, a teoria ainda não superada dessa arte. Contudo, não existe ciência da justa medida entre igualdade e desigualdade. E menos ainda quando estoura o conflito entre a ilimitação capitalista da riqueza e a ilimitação democrática da política. A república gostaria de ser o governo da igualdade democrática pela ciência da justa proporção. Mas quando o deus falta à justa distribuição do ouro, da prata e do ferro entre as almas, essa ciência também falta. E o governo da ciência é condenado a ser o governo das ‘‘elites naturais”, no qual o poder social das competências científicas se combina com os poderes sociais do nascimento e da riqueza, arriscando-se a suscitar mais uma vez a desordem democrática que desloca a fronteira do político.
Para eliminar essa tensão inerente ao projeto republicano de homogeneidade entre Estado e sociedade, a ideologia neorrepublicana elimina a própria política. Sua defesa da instrução pública e da pureza política equivale a situar a política unicamente na esfera estatal, com o risco de pedir aos gestores do Estado que sigam os conselhos da elite esclarecida. As grandes proclamações republicanas do retorno à política nos anos 1990 serviram, em essência, para apoiar as decisões dos governos, no mesmo momento em que assinaram a extinção do político diante das exigências da ilimitação mundial do capital, e para estigmatizar como atraso “populista” qualquer combate político contra essa extinção. Restava colocar a ilimitação da riqueza, com ingenuidade ou cinismo, na conta do apetite devorador dos indivíduos democráticos e transformar essa democracia devoradora na grande catástrofe pela qual a humanidade destrói a si mesma.
Notas e referências
(1) Citado em Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen: histoire du suffrage universel en France (Paris, Gallimard, 1992), p. 281.
(2) Hannah Arendt, Essai sur la révolution (Paris, Gallimard, 1985. Coleção Tel), p. 414. |Ed. bras.: Sobre a revolução, São Paulo. Companhia das Letras. 2011]
(3) A esse respeito, ver Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen, cit., e Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, cit.
(4) A democracia, diz John Adams, não significa nada mais do que “a noção de um povo que não tem governo nenhum”. Citado por Bertlinde Laniel, Le mot “democracy” et son histoire aux Etats-Unis de 1780 à 1856 (Saint-Étienne, Press de l’Université de Saint-Étienne, 1995), p. 65.
(5) Sobre as legislações raciais dos listados sulinos, remeto a Pauli Murray (org.). States Laws on Race and Color (Athens, University of Georgia Press, 1997). Aos que erguem a qualquer propósito o espantalho do “comunitarismo”, essa leitura poderá dar uma noção um pouco mais precisa do que pode significar a proteção de uma identidade comunitária, estritamente entendida.
(6) Ver Discours et opinions de Jules Ferry, editados por Paul Robiquet (Paris. Armand Colin. 1893- 1898), cujos tomos III e IV são dedicados às leis escolares. Ferdinand Buisson, em sua intervenção na Cerémonie de la Sorbonne en l’honeur de Jules Ferry (20 decembre 1906) (Paris, Veuve Drevet et Fils, 1907), enfatiza a radicalidade pedagógica do moderado Ferry. citando em especial sua declaração no Congresso pedagógico de 19 de abril de 1881: “De hoje cm diante, entre o ensino secundário e o ensino primário, não há mais abismo intransponível, nem quanto ao pessoal nem quanto aos métodos”. Isso será lembrado durante a campanha dos “republicanos” dos anos 1980, que denunciavam a penetração dos professores primários como “professores de ensino geral” nos ginásios e deploravam, sem se dar ao trabalho de examinar a realidade material de suas competências, a “primarização” do ensino secundário.
(7) Ver Alfred Fouillée. Les études classiques et la démocratie (Paris, Armand Colin, 1898). Para avaliar a importância da figura ec Fouillée na época, devemos lembrar que sua esposa é autora do best-seller da literatura pedagógica republicana, Le tour de France de deux enfants (Paris, Veuve Eugène Belin et Fils, 1884).
(8) Alfred Fouillée. La démocratie politique et sociale en France (Paris, Félix Alcan, 1910). p. 131-2.