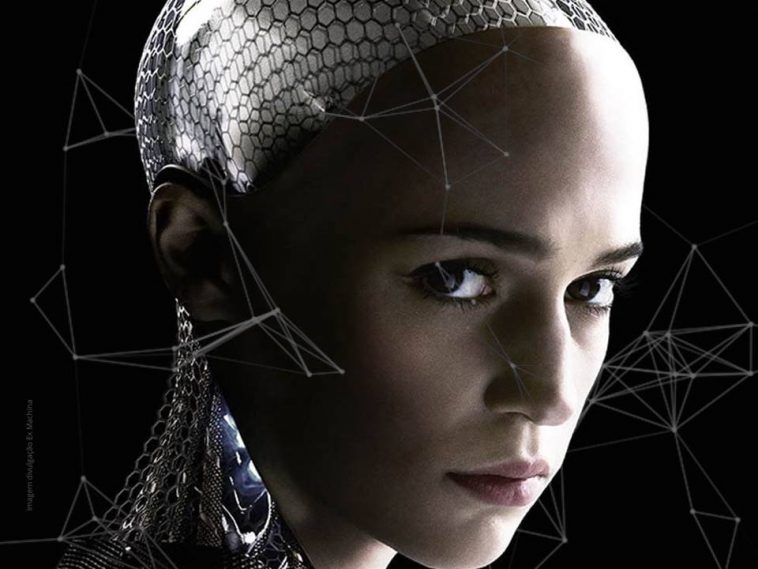Existe alguma coisa como “A Educação” ou essa é uma abstração semelhante à que nos leva a dizer “A Sociedade” ou “A História”? De pronto podemos dizer que não existe uma educação e sim uma variedade imensa de processos de aprendizagem, cuja maior parte é sem-escola, sem-ensino e sem-professor, como Leon Tolstoi já havia reconhecido, em 1862, no seu magnífico artigo Da instrução popular.
Mais de um século e meio depois e as pessoas não se deram conta de que é preciso responder a pergunta-chave: devemos melhorar ou mudar a educação? Depois de Tolstoi, um conjunto de pensadores heterodoxos – como Carl Rogers (1961 e 1980), Jiddu Krishnamurti (1964), Ivan Illich (1970), Carlos Castaneda (1972), Michel Foucault (1975), Humberto Maturana (1982 e 1993) e John Holt (1989), George Siemens (2008) entre outros – resolveram encarar seriamente a questão. Mas quase ninguém – no universo dos pedagogos e policy makers – prestou a devida atenção ao que eles disseram.
Nós vamos levar em conta o que eles disseram. Antes de dizer qualquer coisa sobre o tema. Comecemos com Tolstoi.
TOLSTOI
TOLSTOI, Leon. (1862) “Da instrução popular”. In: Obras Pedagógicas. Moscou: Edições Progresso, 1988.
DA INSTRUÇÃO POPULAR
(Janeiro de 1862)
O critério da pedagogia é só um: a liberdade
1 – A instrução popular foi sempre e em todo o lugar e continua a ser para mim um fenômeno incompreensível. O povo quer instrução e cada indivíduo aspira inconscientemente à instrução. A classe de pessoas mais instruída – a sociedade, o governo – tenta transmitir os seus conhecimentos e instruir a classe menos instruída do povo. Semelhante coincidência de necessidades deveria satisfazer tanto a classe instrutora como a classe instruenda. Mas dá-se o contrário. O povo resiste constantemente aos esforços que a sociedade ou o governo, como representantes da camada mais instruída, fazem para a sua instrução e, na maioria das vezes, não dão resultado. Sem falar das escolas da Antiguidade: da Índia, do Egito, da Grécia Antiga e mesmo de Roma, cuja organização conhecemos tão mal como a opinião que o povo tinha desses estabelecimentos, este fenômeno surpreende-nos nas escolas europeias desde a época de Lutero até aos nossos dias.
2 – A Alemanha, criadora da escola, em quase 200 anos de luta, não conseguiu ainda submeter a resistência do povo à escola. Não obstante os Fredericos terem nomeado para professores distintos soldados inválidos, não obstante o rigor da lei que vigora há 200 anos, não obstante a preparação de professores do perfil mais moderno nos seminários, não obstante todo o sentido de respeito do alemão pela lei, a coação da escola continua hoje a oprimir com toda a força o povo; os governos alemães não se decidem a revogar a lei da obrigatoriedade da escola. A Alemanha só se pode orgulhar da instrução do povo expressa nas estatísticas. O povo, na sua maioria, só leva da escola o ódio a essa mesma escola. A França, não obstante a passagem da instrução das mãos do rei para o diretório e das mãos do diretório para as mãos do clero, pouco fez no campo da instrução popular, assim como a Alemanha, ou ainda menos, afirmam os historiadores da instrução que julgam pelos relatórios oficiais. Na França, estadistas sérios propõem ainda agora, como único meio de vencer a resistência do povo, a imposição da lei da coerção. Na Inglaterra livre, onde não veio à cabeça de ninguém impor semelhante lei – pela qual muitos manifestam simpatia – não foi o governo, mas a sociedade que lutou e luta hoje, com todos os meios possíveis, contra a resistência, mais forte do que em qualquer outro lugar, do povo à escola. Parte das escolas são criadas pelo governo, outra parte por sociedades privadas. A enorme difusão e atividade dessas sociedades religiosas, filantrópicas e de instrução na Inglaterra mostra melhor do que tudo a força da resistência que a parte do povo que instrui enfrenta. Mesmo o novo Estado, os Estados Unidos da América, não superou essa dificuldade e teve que tornar a instrução semi-obrigatória. Que dizer então da nossa pátria, onde a maioria do povo se irrita contra a ideia da escola, onde as pessoas mais instruídas sonham com a imposição da lei alemã de obrigatoriedade da escola e onde todas as escolas, mesmo destinadas ao estado superior, só existem sob o signo do engodo de algum cargo e das vantagens que daí advêm. Até agora as crianças têm sido obrigadas quase à força a ir para a escola e os pais são obrigados, através da lei ou de sutilezas, a mandar as crianças para a escola; mas o próprio povo estuda em quase todo lugar e considera que aprender é um bem.
3 – Que é isto? A necessidade de aprender vive em cada pessoa; o povo ama e procura aprender como ama e busca o ar para respirar. O governo e a sociedade querem muito instruir o povo e, não obstante toda a coerção, sutileza e tenacidade dos governos e das sociedades, o povo manifesta permanentemente o seu descontentamento face à instrução que lhe é proposta e apenas lentamente se rende à força.
4 – Aqui, tal como em qualquer outro confronto, seria necessário resolver a questão do que é legal: a resistência ou a própria ação; será preciso quebrar a resistência ou mudar a ação?
5 – Até agora, pelo que se pode constatar da história, a questão foi sempre resolvida a favor do governo e da sociedade que instrui. A resistência foi declarada ilegal, era considerada o princípio do mal inerente à humanidade, e a sociedade, não desistindo do seu modo de agir, ou seja, não desistindo da forma e do conteúdo da instrução, utilizou a força e a sutileza para destruir a resistência do povo. Este último, passo a passo, contra a sua vontade, submeteu-se até hoje a esta ação.
6 – Talvez a sociedade instrutora tivesse algumas razões para concluir que a instrução que possuía era, em certa medida, um bem para um determinado povo e numa determinada época histórica.
7 – Que razões são estas? Que razões tem a escola atual para ensinar uma coisa e não outra, para ensinar de uma maneira e não de outra?
8 – A humanidade sempre tentou dar e dava respostas mais ou menos satisfatórias a estas perguntas, mas, atualmente, esta resposta é mais indispensável do que nunca.
9 – Um mandarim chinês, que nunca tenha saído de Pequim, pode obrigar as crianças a decorar as máximas de Confúcio e pode metê-las nas suas cabeças à custa de pancada. Podia se fazer a mesma coisa na Idade Média, mas onde encontrar hoje a força da fé na indubitabilidade do nosso conhecimento que nos poderia dar o direito de instruir o povo à força? Tomemos uma escola medieval antes ou depois de Lutero, tomemos toda a literatura científica da Idade Média, que força da fé e do conhecimento firme e incontestável do que era verdadeiro e do que era falso havia nessas pessoas! Era-lhes fácil saber que a língua grega era a única condição necessária da instrução porque nessa língua escrevia Aristóteles e ninguém duvidava do seus ensinamentos mesmo alguns séculos depois. Como podiam os monges não exigir o estudo da Sagrada Escritura que se baseava em fundamentos inabaláveis? Lutero não teve dificuldade em exigir o estudo obrigatório da língua hebraica porque sabia com toda a firmeza que Deus revelou a verdade aos homens nessa língua. Claro que quando o sentido crítico da humanidade ainda não tinha despertado, a escola devia ser dogmática; que era natural que os alunos decorassem as verdades inspiradas por Deus e por Aristóteles e as belezas poéticas de Virgílio e Cícero. Ninguém, mesmo alguns séculos depois, podia imaginar verdade mais verdadeira ou beleza mais bela. Mas qual é a situação da escola da nossa época que continua assente nos mesmos princípios dogmáticos quando, paralelamente à aula de decoração da verdade sobre a imortalidade da alma, se tenta dar a entender ao aluno que os nervos, iguais no homem e na rã, são a essência do que outrora se chamava alma; quando, depois de lhe contarem a história de Jochua, filho de Nun, sem qualquer tipo de explicações, ele venha a saber que o Sol nunca girou em torno da Terra; quando, depois de lhe explicar as belezas de Virgílio, ele considera as belezas de Alexandre Dumas, que lhe foram vendidas por cinco cêntimos, muito maiores; quando a única crença do professor consiste em que não há nada verdadeiro, que tudo o que existe é racional, que o progresso é um bem e o atraso um mal; quando ninguém sabe em que consiste esta fé universal no progresso?
10 – Depois de tudo isto, comparem a escola dogmática da Idade Média, onde as verdades eram incontestáveis, e a nossa escola, onde ninguém sabe o que é a verdade e para onde obrigam o aluno a ir à força, para onde obrigam os pais a mandarem os seus filhos. Mais, a escola medieval não tinha dificuldade em saber o que ensinar, o que ensinar antes e o que ensinar depois e como ensinar, porque havia apenas um método e toda a ciência se concentrava na Bíblia, nos livros de Agostinho e de Aristóteles. Dada a infinita variedade de métodos de ensino propostos de todos os lados, dada a grande quantidade de ciências e de suas subdivisões que se formaram na nossa época, temos de escolher um dos métodos propostos, um ramo das ciências e, o mais difícil, escolher a sequência mais racional e justa do ensino dessas ciências. Isso também não é suficiente. Além disso, a procura destas razões é, na nossa época, mais difícil do que na escola medieval, visto que então, a instrução era monopólio de uma só classe que se preparava para viver em determinadas condições; na nossa época, quando todo o povo declara o seu direito à instrução torna-se ainda mais difícil e indispensável saber o que é preciso para todas essas classes heterogêneas.
11 – Quais são estas interrogações? Pergunte a um pedagogo qualquer por que é que ele ensina assim e isso mesmo e não isto, por que é que antes e não depois. Se ele compreender, responderá: porque conhece a verdade, inspirada por Deus, e considera ser seu dever transmiti-la à geração jovem, educá-la em princípios que são indubitavelmente verdadeiros; mas não responderá sobre as disciplinas de instrução laica. Outro pedagogo dirá que as bases da sua escola são as leis eternas da razão expostas por Fichte, Kant e Hegel; um terceiro baseará o seu direito de coerção do aluno no fato de ter sido sempre assim, de todas as escolas terem sido coercitivas e de, não obstante isso, os resultados dessas escolas serem a verdadeira instrução; outro, finalmente, reúne todas estas razões e diz que a escola deve ser o que é, pois assim foi feita pela religião, pela filosofia e a experiência, e que tudo o que é histórico é racional. Todos estes argumentos, que incluem outros argumentos possíveis, parece- me, podem ser divididos em religiosos, filosóficos, experimentais e históricos.
12 – A instrução que tem a religião como base, ou seja, a inspiração divina, de cuja verdade e legitimidade ninguém pode duvidar, deve ser incontestavelmente inculcada no povo e só neste caso a coerção é legítima. Mas, na nossa época, quando a instrução religiosa constitui apenas uma pequena parte da instrução, a questão de saber se a escola tem razões para obrigar a geração jovem a estudar continua, de certa maneira, por resolver do ponto de vista religioso.
13 – A resposta talvez possa ser encontrada na filosofia. Terá a filosofia razões tão fortes como a religião? Quais são elas? Quem, como e quando manifestou essas razões? Nós não as conhecemos. Todos os filósofos descobrem leis do bem e do mal; ao descobrirem essas leis, eles, ao abordarem a pedagogia (não podiam deixar de a abordar), obrigam a formar o gênero humano segundo essas leis. Mas cada uma destas teorias, entre outras teorias, é incompleta e constitui apenas um novo elo na noção de bem e de mal, contida na humanidade.
14 – Todo pensador manifesta apenas aquilo de que tem consciência a sua época e, por isso, a instrução da geração jovem, no sentido desta tomada de consciência, é totalmente desnecessária. Esta tomada de consciência já é inerente à geração viva.
15 – Todas as teorias pedagógico-filosóficas têm por objetivo a tarefa de formar pessoas virtuosas. O conceito de virtuosos continua a ser o mesmo ou desenvolve-se infinitamente e, não obstante todas as teorias, o declínio e o florescimento da virtude não dependem da instrução. Ou os virtuosos chinês, grego, romano e francês do nosso tempo são do mesmo modo virtuosos ou estão todos, do mesmo modo, longe da virtude. As teorias filosóficas da pedagogia resolvem o problema de como educar o homem mais perfeito segundo uma determinada teoria ética, criada numa ou noutra época e reconhecida como incontestável. Platão não duvidava das verdades da sua ética e, com base nela, construiu a sua educação que, por sua vez, é o fundamento do seu Estado. Schleiermacher afirma que a ética é ainda uma ciência incompleta e que, por conseguinte, a educação e a instrução devem ter por objetivo a preparação de pessoas capazes de entrar nas condições que encontram na vida e, ao mesmo tempo, capazes de trabalhar com força no seu aperfeiçoamento. A instrução em geral, diz Schleiermacher, tem por fim entregar um membro pronto ao Estado, à igreja, à vida social e ao conhecimento. Só a ética, embora sendo ciência incompleta, dá resposta à pergunta: com que membro destes quatro elementos deve ser educado o homem? Tal como Platão, todos os pedagogos-filósofos procuram na ética a tarefa e o objetivo da instrução, reconhecendo uns que ela é conhecida, outros, que é eternamente elaborada na consciência da humanidade; mas nenhuma teoria dá resposta positiva à pergunta: o quê e como ensinar o povo? Um diz uma coisa, outro diz outra e, quanto mais se avança, mais contraditórias se tornam as suas ideias. Ao mesmo tempo, aparecem diferentes teorias contraditórias. A tendência teológica luta com a escolástica, a escolástica com a clássica, a clássica com a real, e, atualmente, todas estas tendências existem e ninguém sabe o que é a mentira e o que é a verdade. Todos estão descontentes com o que existe, mas não sabem o que de novo é preciso e indispensável.
16 – Se analisarem o rumo histórico da filosofia da pedagogia, encontrarão nela não o critério da instrução, mas, pelo contrário, uma ideia comum que se encontra inconscientemente na base de todos os pedagogos, não obstante as frequentes divergências entre si, ideia essa que nos convenceu da falta deste critério. Todos, de Platão a Kant, desejam uma coisa: libertar a escola dos nós históricos que pendem sobre ela, querem adivinhar as necessidades do homem e, com base nestas necessidades, adivinhadas com maior ou menor exatidão, construir a sua nova escola. Lutero obrigava a estudar as Sagradas Escrituras pelo original, e não pelos comentários dos santos padres. Bacon obrigava a estudar a natureza na própria natureza, e não pelos livros de Aristóteles. Rousseau quer estudar a vida na própria vida, como ele a compreende, e não nas experiências do passado. Cada passo em frente da filosofia da pedagogia consiste em libertar a escola da ideia de ensinar às jovens gerações o que as gerações velhas consideravam ciência e em enveredar pela ideia de ensinar o que é necessário às gerações jovens. Esta ideia comum e ao mesmo tempo contraditória está patente em toda a história da pedagogia. É comum porque todos exigem mais liberdade para a escola, contraditória porque cada um prescreve as leis baseadas na sua teoria e, deste modo, limita a liberdade.
17 – A experiência das escolas do passado e do presente?… Mas como pode esta experiência provar-nos a justeza do método existente de instrução coercitiva? Não podemos saber se há outro método mais legítimo visto que até agora não existiram ainda escolas livres. É verdade que no degrau mais alto da instrução (universidades, aulas públicas) ela tenta tornar-se cada vez mais livre. Mas isto não passa de uma suposição. Talvez a instrução nos degraus mais baixos deva ser sempre coercitiva e a experiência nos tenha mostrado que semelhantes escolas são boas? Olhemos pois para essas escolas, deixando de parte os gráficos estatísticos na Alemanha, e tentemos ver a escola e a sua influência real no povo. A realidade pareceu-me ser a seguinte: o pai manda a filha ou o filho para a escola contra a vontade, amaldiçoando o estabelecimento que o priva do trabalho do seu filho e contando os dias que faltam para o seu filho se tornar schulfrei, livre da escola (esta expressão prova como o povo olha para a escola). A criança vai para a escola convencida de que o poder do pai, que ela conhece, não aprova o poder do governo, ao qual se submete ao ingressar na escola. O que ela ouve dos seus camaradas mais velhos, que já saíram desse estabelecimento, não aumenta o seu desejo de entrar na escola. As escolas parecem- lhe estabelecimentos de tortura para as crianças, onde lhes privam da principal alegria e necessidade da infância: a liberdade de movimentos, onde Gehorsam (obediência) e Ruhe (calma) são as principais condições, onde é preciso uma autorização especial para sair “uma hora”, onde cada falta é castigada com a régua ou a vara, embora esteja oficialmente afixada a eliminação dos castigos corporais com régua, ou com a continuação da situação mais cruel para a criança: o estudo. A criança vê com toda a justiça na escola um estabelecimento onde lhe ensinam o que ninguém compreende, onde, na grande maioria dos casos, a obrigam a falar não no seu patois, Mundart natal, mas numa língua estranha, onde o professor, muito frequentemente, vê nos seus alunos inimigos inveterados que, por maldade sua e por maldade dos pais, não querem estudar o que ele próprio estudou e onde os alunos, pelo contrário, olham para o professor como para um inimigo que, apenas por maldade própria, os obriga a estudar coisas tão difíceis. São obrigados a passar seis anos e seis horas por dia em semelhante instituição. Vemos os resultados disso nos fatos reais, e não nas estatísticas. Na Alemanha, 9/10 da população escolar levam da escola o hábito mecânico de ler e escrever e um ódio tão grande aos caminhos da ciência por eles experimentados que, depois, nunca mais pegam num livro. Mostrem os que não estão de acordo comigo um livro que o povo leia; até os calendários e os jornais populares são exceções raras. O fato de não haver literatura popular e, principalmente, de ser necessário mandar cada geração nova à força para a escola, tal como dantes, é uma prova irrefutável de que não há instrução entre o povo. Mais, a escola provoca o ódio à instrução, habitua à hipocrisia e ao engano, que advém da situação anti-natural em que os alunos são colocados, e à barafunda e confusão dos conceitos a que chamam saber ler e escrever. Nas minhas viagens pela França, Alemanha e Suíça, propus, nas escolas primárias e a pessoas que já tinham terminado a escola, a seguinte pergunta a fim de saber informações dos alunos, as suas opiniões sobre a escola e o seu desenvolvimento moral: qual é a principal cidade da Prússia e da Baviera? Nas escolas, às vezes, respondiam-me com tiradas decoradas dos livros, mas os ex-alunos nunca. Só consegui receber resposta de cor. Na matemática não encontrei uma regra geral: umas vezes respondiam bem, outras vezes, muito mal. Depois pedi aos alunos que escrevessem uma composição sobre o que tinham feito no domingo anterior, e as raparigas e os rapazes, sem exceção, escreveram a mesma coisa: no domingo, utilizaram todos os momentos possíveis para rezar a deus, mas não brincaram. Isto é um exemplo da influência moral da escola. Quando perguntei aos adultos por que não estudam depois da escola, não leem, todos responderam que já tinham sido confirmados, passado a quarentena da escola e recebido o diploma de uma certa instrução, sabem ler e escrever.
18 – Além dessa influência embrutecedora da escola, para a qual os alemães criaram um termo muito exato verdummen (embrutecer), que consiste na deformação prolongada das capacidades intelectuais, há outra influência, ainda mais perniciosa, que consiste em que a criança, durante as muitas horas de aulas diárias, embrutecida pela vida escolar, é afastada, durante o tempo mais rico do ponto de vista etário, das condições necessárias ao desenvolvimento, que lhe são concedidas pela própria natureza. Ouve-se e lê-se muitas vezes a opinião de que as condições em casa, a rudeza dos pais, os trabalhos agrícolas, os jogos na aldeia etc. são os principais obstáculos que dificultam a instrução escolar. Certamente que tudo isso dificulta a instrução escolar que os pedagogos subentendem, mas já é tempo de nos convencermos de que estas condições são as bases principais de toda a instrução, de que não são inimigos e obstáculos da escola, mas os seus primeiros e principais impulsionadores. Jamais a criança aprenderia a diferença das linhas que constituem a diferença das letras, os números, a capacidade de exprimir as suas ideias sem essas condições domésticas. Por que motivo essa rude vida doméstica pôde ensinar à criança coisas tão difíceis e, de súbito, essa mesma vida doméstica não só se torna imprópria para ensinar à criança coisas tão simples como a leitura, a escrita etc., como também prejudicial para esse ensino? A melhor prova é a comparação do filho de um camponês que nunca estudou com o filho de um nobre que estudou com preceptor desde os cinco anos. O primeiro é mais inteligente e tem mais conhecimentos. Mais ainda, o interesse em saber e as perguntas às quais a escola deve responder só são originadas por essas condições domésticas. Todo o ensino deve ser apenas uma resposta à pergunta colocada pela vida. Mas a escola não só não coloca perguntas, como tampouco responde às pergunta que a vida coloca. Ela responde constantemente às mesmas perguntas, colocadas há alguns séculos atrás pela humanidade, e não pela idade infantil, quando elas ainda não interessam nada à criança. Estas questões são: como foi criado o mundo? Quem foi o primeiro homem? O que havia 2000 anos atrás? Que terra é a Ásia? Qual é a forma da Terra? Como multiplicar cem por mil e o que virá depois da morte etc. Mas a criança não recebe resposta às perguntas que parecem vir da vida, tanto mais que, segundo a organização policial da escola, ela não tem direito de abrir a boca para pedir para ir ao banheiro, deve fazer sinais a fim de não perturbar o silêncio e de não incomodar o professor. A escola é assim instituída, pois o objetivo da escola oficial, criada de cima, consiste, na maioria dos casos, não em instruir o povo, mas em instrui-lo segundo o nosso método, em que haja escola e muitas escolas. Não há professores? – Fazer professores. – E ainda continua a sentir- se a sua falta? – Fazer com que um professor possa ensinar 500 crianças, mecanizar a instrução, o método de Lancaster, os mais velhos ensinam os mais novos. Por isso, as escolas instituídas a partir de cima e coercitivamente não são um pastor para o rebanho, mas um rebanho para o pastor. A escola não é instituída para que às crianças seja cômodo estudar, mas para que aos professores seja cômodo ensinar. Ao professor incomodam os ruídos, o movimento e a alegria das crianças, que são para elas uma condição indispensável de estudo; por isso, nas escolas construídas como cadeias, é proibido fazer perguntas, falar e mover-se. Em vez de se convencerem de que para agir sobre um objeto qualquer é preciso estudá-lo (na educação, este objeto é a criança livre), eles querem ensinar como sabem, como querem e, quando sucede um fracasso, pretendem mudar não o método de ensino, mas a própria natureza da criança. Deste conceito surgiram e surgem agora (Pestalozzi) sistemas com os quais se pode mecanizar a instrução – desejo eterno da pedagogia de organizar as coisas de tal forma que o método seja o mesmo, independente do professor e do aluno. Basta olhar para uma criança em casa, na rua ou na escola e verão ou um ser feliz, cheio de curiosidade, com um sorriso nos olhos e nos lábios, que procura ensinamentos em tudo como uma alegria, que manifesta clara e frequentemente as suas ideias com a sua língua; ou verão um ser martirizado, angustiado, com uma expressão de cansaço, medo e tédio, que repete com os lábios palavras estranhas numa língua estranha, um ser cuja alma, tal como o caracol, se escondeu na sua casca. Basta olhar para estes dois estados de espírito para decidir qual dos dois é o mais útil para o desenvolvimento da criança. O estranho estado psicológico a que chamo estado escolar da alma, que todos nós, infelizmente, conhecemos bem, consiste em que todas as capacidades superiores – imaginação, criatividade, compreensão – cedem o seu lugar a outras capacidades, semi-animais: a pronunciação de palavras independentemente da imaginação, a contagem de números seguida: 1, 2, 3, 4, 5, a compreensão das palavras sem admitir que a imaginação coloque nelas outras imagens; numa palavra, a faculdade de reprimir em si as capacidades supremas a fim de desenvolver apenas as que coincidem com o estado escolar: o medo, a tensão da memória e a atenção. Todo aluno é um disparate na escola enquanto não entrar na roda do estado semi-animal. Logo que a criança chega a este estado, perde toda a independência, logo que se começam a manifestar diferentes sintomas da doença – hipocrisia, mentira, desespero etc., ela deixa de ser um disparate na escola, entra na roda e o professor começa a ficar contente com ela. Então aparecem também fenômenos que não são ocasionais, mas que se repetem constantemente, por exemplo: a criança mais tonta é considerada o melhor aluno e a mais inteligente passa a ser o pior aluno. Parece-me que este fato é bastante significativo para que se pense nele e se tente explicá-lo. Parece-me que este fato é uma prova evidente da falsidade das razões da escola coercitiva. Mais ainda, além deste prejuízo, que consiste no afastamento das crianças da instrução inconsciente recebida em casa, no trabalho, na rua, estas escolas são prejudiciais fisicamente, ao corpo, indivisível da alma na primeira idade; este prejuízo é particularmente importante em relação à monotonia da educação escolar, mesmo se ela for boa. O agricultor não pode viver sem as condições de trabalho, a vida no campo, as conversas dos mais velhos etc., sem tudo que o rodeia; o mesmo acontece com o artesão e o citadino em geral. Não foi por acaso, mas racionalmente que a natureza rodeou o agricultor de condições agrícolas, o citadino de condições citadinas. Estas condições são altamente instrutivas e só nelas se podem instruir; a escola coloca o afastamento destas condições como primeira condição da instrução. A escola acha isto insuficiente. Além de afastar as crianças da vida durante seis horas por dia, nos melhores anos da vida, ela quer retirar as crianças com três anos de idade da influência da mãe. Foram inventados Kleinkinderbewahranstalt, infantschools, salles d’asile (orfanatos para crianças pequenas, escolas infantis, creches). Só falta inventar uma máquina a vapor que substitua a mãe lactante. Todos estão de acordo que as escolas são imperfeitas (eu, pelo meu lado, estou convencido de que são prejudiciais). Todos estão de acordo que são precisos muitos e muitos melhoramentos. Todos estão de acordo que esses melhoramentos devem basear-se numa maior comodidade para os alunos. Todos estão de acordo que só é possível saber quais são essas comodidades se se estudar as necessidades da idade escolar em geral e as necessidades de cada estrato social em particular. Que está a ser feito para realizar esse estudo difícil e complexo? Durante alguns séculos que uma escola é criada à imagem e semelhança de uma outra que, por sua vez, é semelhante à uma outra anterior e, em cada uma destas escolas, condição indispensável é a disciplina que proíbe às crianças de falar, fazer perguntas, escolher este ou aquele objeto de estudo, numa palavra, são tomadas todas as medidas para privar o professor da possibilidade de tirar conclusões sobre as necessidades dos alunos. A organização coercitiva da escola exclui toda a possibilidade de progresso. No entanto, quando pensamos nos muitos séculos que perdemos a responder às crianças perguntas que elas não pensavam fazer, como avançaram as gerações atuais em relação à antiga forma de instrução que lhes é metida na cabeça, não compreendemos como é que as escolas ainda se aguentam. Parece-nos que a escola deve ser uma arma da instrução e, ao mesmo tempo, uma experiência com a geração jovem que dá constantemente novos resultados. Só quando a experiência for a base da escola, só quando cada escola for, por assim dizer, um laboratório pedagógico, só então a escola não se atrasará em relação ao progresso universal e a experiência estará em condições de lançar bases firmes para a ciência da instrução.
19 – Mas pode a história responder à nossa pergunta vã: em que se baseia o direito de obrigar os pais e os alunos a instruírem-se? Ela dirá que as escolas existentes se formaram por via histórica e através dela devem continuar a formar-se e a mudar-se conforme as exigências da sociedade e do tempo; quanto mais vivemos, mais as escolas melhoram. A isto respondo: primeiro, que as conclusões exclusivamente filosóficas são tão unilaterais e falsas como as conclusões exclusivamente históricas. A consciência da humanidade é o principal elemento da história e, por isso, se a humanidade tomar consciência da incapacidade das suas escolas, o fato dessa tomada de consciência será já um fato histórico onde se deve basear a organização da escola. Segundo, quanto mais vivemos, mais as escolas não melhoram mas pioram, pioram em comparação com o nível de instrução alcançado pela sociedade. A escola é uma das partes orgânicas do Estado que não pode ser analisada e avaliada separadamente, pois o seu valor reside apenas em estar em conformidade maior ou menor com as outras partes do Estado. A escola só é boa quando tem consciência das leis fundamentais segundo as quais vive o povo. Uma escola maravilhosa para a aldeia russa da região das estepes, que satisfaz todas as necessidades dos seus alunos, será bastante má para o parisiense, a melhor escola do século XVII será a pior escola na nossa época; e, pelo contrário, a pior escola da Idade Média era, no seu tempo, melhor do que a melhor escola da nossa época, pois correspondia melhor ao seu tempo e estava ao mesmo nível da instrução geral, ou até talvez a um nível mais alto, enquanto que a nossa escola está atrás dele. Se a tarefa da escola, admitindo a definição mais geral, consiste em transmitir o que foi elaborado e criado pelo povo e em responder às perguntas que a vida coloca ao homem, não há dúvida de que, na escola medieval, as lendas eram mais limitadas e as perguntas que surgiam na vida eram mais fáceis de resolver e esta tarefa da escola era melhor satisfeita. Era mais fácil transmitir as lendas da Grécia e de Roma através de fontes insuficientes e não estudadas, os dogmas religiosos, a gramática e a parte então conhecida da matemática do que todas as lendas por nós vividas até agora, que lançaram para trás as lendas dos povos antigos e todos os conhecimentos das ciências sociais necessárias na nossa época como respostas aos fenômenos quotidianos da vida. Entretanto, o método de transmissão continua a ser o mesmo.
20 – Terceiro, ao argumento histórico de que as escolas existiam e por isso eram boas, respondo com argumentos históricos. Há um ano atrás, quando estive em Marselha, visitei todos os seus estabelecimentos de ensino destinados ao povo trabalhador. O número de estudantes entre a população é tão grande que, salvo raras exceções, todas as crianças frequentam a escola durante três, quatro e seis anos. Os programas da escola consistem em estudar de cor o catecismo, a história sagrada e universal, quatro operações de aritmética, ortografia francesa e contabilidade. Como é que a contabilidade se pode tornar objeto da instrução? Não pude entender e nenhum professor me pôde explicar. A única explicação que dei a mim mesmo, depois de ver como os alunos trabalham com os livros de contabilidade após o termo do curso, foi que não sabem sequer três operações de aritmética, mas estudaram de cor contas com números e, por conseguinte, também devem saber de cor fazer lançamentos contábeis. (Parece que não é preciso provar que a contabilidade que é ensinada na Alemanha e Inglaterra é uma ciência que exige quatro horas de explicação para todo aluno que sabe as quatro operações de aritmética). Nestas escolas, nenhum rapaz soube resolver o problema mais simples de somar e subtrair. Por outro lado, faziam operações com números abstratos, multiplicando milhares com agilidade e rapidez. Responderam bem de cor às perguntas gerais sobre a História da França, mas, quando fiz uma pergunta mais concreta, responderam-me que Henrique IV foi assassinado por Júlio César. O mesmo acontece na geografia e história sagrada, na ortografia e na leitura. Mais de metade do sexo feminino só sabe ler por livros decorados. Seis anos de escola não permitem escrever palavras sem erros. Sei que os fatos por mim citados são tão incríveis que muitos podem duvidar da sua veracidade; mas poderia escrever livros inteiros sobre a ignorância que vi nas escolas da França, Suíça, e Alemanha. A propósito, quem se interessa por isto que tente estudar a escola não pelas estatísticas dos exames públicos, mas pelas visitas e conversas frequentes com professores e alunos nas escolas e fora delas. Vi em Marselha mais uma escola laica e uma monástica para adultos. Dos 250.000 habitantes, menos de 1.000, entre eles apenas 200 homens, frequentam estas escolas. O ensino é o mesmo: leitura mecânica que aprendem passado um ou mais anos, contabilidade sem conhecimentos de aritmética, sermões espirituais etc. Depois de ter estado na escola laica, ouvi sermões nas igrejas, vi creches onde crianças de quatro anos, ao som de apito, como soldados, andam à volta de um banco, depois, à voz de comando levantam as mãos e, com vozes inseguras e estranhas, entoam hinos laudativos a deus e aos seus benfeitores. Fiquei convencido de que os estabelecimentos de ensino da cidade de Marselha são muito maus. Se alguém por milagre visse todos esses estabelecimentos, sem ver o povo na rua, nas oficinas, no café, em casa, que ideia faria do povo educado deste modo? Talvez pensasse que este povo é ignorante, grosseiro, hipócrita, cheio de superstições e quase selvagem. Mas basta entrar em contato, falar com alguém do povo simples para ver que, ao contrário, o povo francês é quase aquilo que pensa ser: compreensivo, inteligente, comunicativo, livre-pensador e realmente civilizado. Olhem para um trabalhador de 30 anos da cidade, ele já escreve uma carta sem os erros que cometia na escola, às vezes até corretamente; percebe de política e, por conseguinte, de história contemporânea e geografia; sabe alguma coisa de história através dos romances; tem alguns conhecimentos de ciências naturais. Muito frequentemente, desenha e emprega fórmulas no seu artesanato. Onde aprendeu tudo isso?
21 – Encontrei involuntariamente a resposta a esta pergunta em Marselha, quando, depois de visitar as escolas, passeei pelas ruas, tabernas, cafés chantants, museus, oficinas, cais e livrarias. O mesmo rapaz que me respondeu que Henrique IV foi assassinado por Júlio César, conhecia muito bem a história dos Quatro Mosqueteiros e o Conde de Monte Cristo. Em Marselha, encontrei 28 edições ilustradas baratas, de 5 a 10 cêntimos. São vendidos 30.000 exemplares para 50.000 habitantes e, por conseguinte, se 10 pessoas lerem e ouvirem um livro, todos os habitantes os leem. Além disso há os museus, bibliotecas públicas e teatros. Cafés, dois grandes cafés chantants, abertos a toda a gente, onde o consumo obrigatório é de 50 cêntimos, são frequentados diariamente por cerca de 25.000 pessoas, sem contar com os pequenos cafés que atendem o mesmo número de pessoas. Em cada um desses cafés são apresentadas pequenas comédias, peças em um ato e declamados poemas. Eis como, segundo os cálculos mais modestos, um quinto da população, diariamente, aprende oralmente como aprendiam os gregos e os romanos nos seus anfiteatros. Esta instrução é boa ou má? Isso é outra questão; mas eis a instrução inconsciente, muito mais forte do que a coercitiva, eis a escola inconsciente que mina a escola coercitiva e reduz quase a nada o seu conteúdo. Fica apenas uma forma despótica quase desprovida de conteúdo. Afirmo: é quase, excluindo o saber mecânico de juntar letras e formar palavras, o único conhecimento adquirido em 5 ou 6 anos de estudo. Além disso, devo assinalar que a arte mecânica de ler e escrever, frequentemente, é num período muito mais curto, aprendida fora da escola, que, muitas vezes, da escola não se leva sequer este saber e perde-se-o, pois não encontra aplicação na vida; e que, onde há a lei da obrigatoriedade escolar, não há necessidade de ensinar a escrever, ler e contar a segunda geração, porque a mãe e o pai pareciam estar em condições de fazer isso mais facilmente em casa do que na escola. O que vi em Marselha, vi em todos os outros países: o povo recebe a maior parte da instrução não na escola, mas na vida. Onde a vida é instrutiva, como em Londres, Paris e nas grandes cidades, o povo é instruído; onde a vida não é instrutiva, como nas aldeias, o povo não é instruído, não obstante as escolas serem totalmente iguais em ambos os lugares. Os conhecimentos adquiridos na cidade como que ficam, os conhecimentos adquiridos nas aldeias perdem-se. A orientação e o espírito da instrução do povo, tanto nas cidades como nas aldeias, são totalmente independentes e, muitas vezes, contrários ao espírito que se pretende introduzir nas escolas populares. A instrução segue um caminho independente do da escola.
22 – O argumento histórico contra o argumento histórico consiste em que, ao analisarmos a história da instrução, não nos convencemos de que as escolas se desenvolvem em conformidade com o desenvolvimento dos povos, mas convencemo-nos de que caem e se tornam uma formalidade oca em conformidade com o desenvolvimento dos povos; quanto mais um povo avançou na instrução geral, mais a instrução passou da escola para a vida e reduziu a nada o conteúdo da escola. Sem falar de todos os outros meios de instrução – desenvolvimento dos contatos comerciais, das vias de comunicação, do alto grau de liberdade do indivíduo e da sua participação na administração, sem falar das reuniões, museus, conferências públicas etc., vale a pena olhar para a imprensa e o seu desenvolvimento a fim de compreender a diferença existente entre as escolas do passado e do presente. A instrução inconsciente, na vida, e a instrução consciente, na escola, andaram e andam sempre lado a lado, completando-se mutuamente; mas, sem a imprensa, a vida podia dar muito menos instrução do que a escola. A ciência pertencia aos eleitos que possuíam os meios de instrução. E vejam qual é a cota atual da instrução na vida quando não há um homem que não tenha livros, quando os livros são vendidos a preços baixíssimos, quando as bibliotecas públicas estão abertas a todos; quando a criança que vai para a escola, além dos seus cadernos, leva escondido um barato romance ilustrado; quando dois abecedários custam 3 kopeques e o camponês das estepes compra o abecedário, pede a um soldado que passa que lhe mostre e ensine toda essa ciência, que este, durante muitos anos aprendeu com o sacristão; quando o aluno abandona a escola secundária, prepara-se sozinho, pelos livros, e faz bem os exames de ingresso na universidade; quando os jovens deixam a universidade e, em vez de se prepararem pelas notas do professor, trabalham diretamente com as fontes; quando, falando sinceramente, toda a instrução séria se adquire apenas na vida e não na escola.
23 – Considero que o último argumento, o mais importante, consiste, finalmente, em que aos alemães é fácil, baseando-se em 200 anos de existência da escola, defendê-la historicamente, mas com que razões podemos nós defender a escola popular que não temos? Que direito histórico temos de dizer que as nossas escolas devem ser como as europeias? Ainda não possuímos a história da instrução popular. Ao analisar a história universal da instrução popular, não só nos convencemos de que nos é impossível organizar seminários para professores segundo o modelo alemão, reformar o método fonético alemão, as infantschools inglesas, os liceus franceses e as escolas especializadas e, com estes meios, alcançar a Europa, mas convencemo-nos também de que nós, os russos, vivemos em condições extremamente felizes no que diz respeito à instrução popular, de que a nossa escola não deve sair, tal como na Europa medieval, das condições do civismo, não deve servir certos fins governamentais ou religiosos, não deve formar-se na escuridão da falta de controle por parte da opinião pública e da falta de instrução prática, não deve, com novas dificuldades e dores, atravessar e sair do círculo vicioso onde as escolas europeias estiveram durante muito tempo. Este círculo vicioso consiste em que a escola devia fazer avançar a instrução inconsciente e vice-versa. Os povos europeus venceram essa dificuldade, mas perderam muito na luta. Estejamos pois reconhecidos pelo trabalho que devemos utilizar e, por isso, não nos podemos esquecer de que somos chamados a realizar o trabalho novo neste campo. Na base do que a humanidade acumulou e do fato de a nossa atividade ainda não ter iniciado, podemos e devemos dar grande sentido ao nosso trabalho. Para adotar os métodos das escolas estrangeiras devemos distinguir o que neles está baseado nas leis eternas da razão do que nasceu em virtude das condições históricas. Não há uma lei racional universal, um critério que justifique a violência das escolas contra o povo e, por conseguinte, toda cópia da escola europeia no que diz respeito à coerção da escola não será para o nosso povo um passo em frente, mas um recuo, uma traição à sua vocação. Compreende-se por que razão na França se formou uma escola disciplinada com predominância das ciências exatas: matemática, geometria e desenho, por que razão na Alemanha se formou a escola rigorosa de educação com predominância do canto e da análise; compreende-se por que razão na Inglaterra se desenvolveu um número infinito de sociedades que criam escolas filantrópicas para o proletariado com a sua orientação estritamente moral e, ao mesmo tempo, prática; mas não sabemos e jamais saberemos que escola se deve constituir na Rússia se não a deixarmos formar-se livremente e a tempo, ou seja, em conformidade com a época histórica em que se deve desenvolver, em conformidade com a sua história e muito mais com a história universal. Se vemos que a instrução popular na Europa não vai pelo caminho certo, nós, fazendo nada pela nossa instrução popular, fazemos mais do que se introduzíssemos nela tudo o que cada um pensa que é bom.
24 – Deste modo, o povo pouco culto quer instruir-se, a classe mais culta quer instruir o povo, mas o povo só à força se submete à instrução. Ao procurar na filosofia, na experiência e na história as razões que dessem à classe que instrui direito a isso, não encontramos nada, pelo contrário, vimos que as ideias da humanidade estão sempre voltadas para a libertação do povo contra a violência na questão da instrução. Ao procurar o critério da pedagogia, ou seja, o conhecimento do que e como ensinar, não encontramos nada, além de opiniões e afirmações muito discrepantes, mas, pelo contrário, vimos que quanto mais progredia a humanidade, mais impossível se tornava este critério; ao procurar este critério na história da instrução, convencemo-nos não só que para nós, os russos, as escolas historicamente formadas não podem ser modelos, mas de que estas escolas se atrasam cada vez mais em relação ao nível geral de instrução e de que, por esse motivo, o seu caráter coercitivo se torna cada vez mais ilegal e, finalmente, de que, na Europa, a instrução, como a água filtrada, escolheu outra via, ultrapassou a escola e derramou-se nos instrumentos vitais da instrução.
25 – Que devemos fazer nós, os russos, no momento atual? Chegar a um acordo e tomarmos como base o ponto de vista inglês, francês, alemão ou norte-americano, sobre a instrução ou algum dos seus métodos? Ou, depois de mergulhar na filosofia e na psicologia, descobrir o que é exatamente necessário para desenvolver a alma humana e fazer das jovens gerações as melhores pessoas segundo os nossos conceitos? Ou utilizar a experiência da história – não no sentido de copiar as formas que a história elaborou, mas no sentido de compreender as leis que a humanidade elaborou com sofrimentos – e dizer direta e francamente que não sabemos e não podemos saber do que precisam as futuras gerações, mas que nos sentimos no dever e queremos estudar essas necessidades, não queremos acusar de ignorante o povo que não aceita a nossa instrução, mas iremos acusar-nos a nós próprios de ignorantes e orgulhosos se tentarmos instruir o povo à nossa maneira. Deixemos de olhar para a resistência do povo à nossa instrução como para um elemento inimigo da pedagogia, e, pelo contrário, vejamos nela uma expressão da vontade do povo, pela qual se deve dirigir a nossa atividade. Reconheçamos, finalmente, a lei da história da pedagogia e da história de toda a instrução que nos diz claramente que para o professor saber o que é bom ou mau, o aluno deve ter todo o poder de manifestar a sua insatisfação ou, pelo menos, de afastar-se da instrução que, segundo o seu instinto, não o satisfaz, que o critério da pedagogia é só um: a liberdade.
26 – Nós escolhemos esta última via na nossa atividade pedagógica.
27 – A base da nossa atividade é a convicção de que não só não sabemos, como também não podemos saber em que deve consistir a instrução do povo, de que não só não existe nenhuma ciência da instrução e da educação: a pedagogia, mas que o seu primeiro fundamento ainda não foi lançado, de que a definição de pedagogia e dos seus objetivos é, no sentido filosófico, impossível, inútil e prejudicial.
28 – Não sabemos como deve ser a instrução e a educação, não reconhecemos toda a filosofia da pedagogia, porque não reconhecemos ao homem a possibilidade de conhecer o que ele tem necessidade de saber. A instrução e a educação são fatos históricos de ação de umas pessoas sobre outras, pois a tarefa da ciência da instrução, parece-nos, é apenas a procura das leis da ação de umas pessoas sobre outras. Não só não reconhecemos à nossa geração o conhecimento e não só não reconhecemos o direito de saber o que é preciso para aperfeiçoar o homem, mas estamos convencidos de que se a humanidade tivesse esse conhecimento, não poderia transmitir ou não transmitir à geração jovem. Estamos convencidos de que a consciência do bem e do mal, independentemente da vontade do homem, está em toda a humanidade e desenvolve-se inconscientemente com a história, de que é tão impossível meter o nosso conhecimento na cabeça da geração jovem com a instrução como privá-la do nosso conhecimento e do nível do supremo conhecimento, ao qual o passo seguinte da história o eleva. O nosso conhecimento imaginário das leis do bem e do mal e influência, com base nisso, na nova geração é, na maioria dos casos, a resistência ao desenvolvimento da nova consciência ainda não elaborada pela nossa geração e que se elabora na geração jovem, é um obstáculo e não uma ajuda à instrução.
29 – Estamos convencidos de que a instrução é história e por isso não tem objetivo final. A instrução no sentido mais geral, incluindo a educação, pensamos, é a atividade do homem que tem como base a necessidade de igualdade e a lei invariável do avanço da instrução. A mãe ensina a criança a falar apenas para se compreenderem, a mãe, instintivamente, tenta descer até à sua maneira de ver as coisas, à sua língua, mas a lei do avanço da instrução não permite que ela desça até ele, mas obriga-o a elevar-se até ao conhecimento dela. A mesma relação existe entre o escritor e o leitor, entre a escola e o aluno, entre o governo, as sociedades e o povo. A atividade do que instrui e a do instruendo têm um só objetivo. A tarefa da ciência da instrução é apenas o estudo das condições de coincidência destas duas tendências para um objetivo comum, a indicação das condições que dificultam esta coincidência. Devido a este fato, a ciência da instrução torna-se para nós, por um lado, mais fácil, não apresentando mais perguntas: qual é o objetivo final da instrução, para que devemos preparar a geração jovem etc.; por outro lado, infinitamente mais difícil. Precisamos estudar todas as condições que contribuíram para a coincidência dos anseios do que instrui e do instruendo; precisamos definir o que é a liberdade cuja ausência dificulta a coincidência de ambos os anseios e que deve ser para nós o critério de toda a ciência da instrução; precisamos avançar, passo a passo, de um número infinito de fatos para a resolução das questões da ciência da instrução.
30 – Sabemos que os nossos argumentos convencerão muito poucos. Sabemos que as nossas convicções fundamentais em que o único método da instrução é a experiência e que o único critério é a liberdade soam para uns como um excesso de vulgaridade, para outros, como abstrações pouco claras, para terceiros, um sonho e uma irrealidade. Não ousaríamos perturbar a calma dos pedagogos teóricos e manifestar convicções tão opostas a toda a sociedade se nos limitássemos aos raciocínios deste artigo, mas sentimos a possibilidade, passo a passo e fato a fato, de provar a utilidade e a legitimidade das nossas convicções e só a este objetivo dedicamos a nossa edição.
ALGUMAS QUESTÕES SOBRE O TEXTO DE TOLSTOI
1 – Por que a educação foi inventada? Será – como acreditam alguns – que ela foi inventada na Idade Média pela Igreja para assegurar a transmissão de seus dogmas? E na Idade Moderna? Ela teria sido reinventada pela República para preparar as pessoas para serem peças da burocracia estatal. Ou será que o que chamamos de educação é inventada sempre que uma cultura é transformada mediante a escolarização de suas crianças para que se adaptem ao modo de organização social dominante (ou seja, ao modo-de-vida social que predominantemente se reproduz)?
2 – Tolstoi se refere ao conjunto da sociedade a partir de três estratos bem definidos em seu texto: o Governo, a Sociedade e o Povo. Ele atribui ao Governo e à Sociedade o desejo tenaz de instruir o povo. E ao povo, atribui uma resistência insistente a ser instruído, que só pode ser superada à força. Quando escreve “aqui, tal como em qualquer outro confronto, seria necessário resolver a questão do que é legal: a resistência ou a própria ação; será preciso quebrar a resistência ou mudar a ação?”, você acha que ele está propondo que tipo de mudança? Que mudança seria esta? Uma mudança formal, no sentido de corrigir os métodos de ensino utilizados até então e que foram responsáveis pela recusa do povo à instrução? Uma mudança de perspectiva, ou seja: ele está propondo que se considere legítima a recusa do povo à instrução compulsória, já que não se pode mais encontrar as razões indubitáveis que justificariam que o povo deve ser instruído desta ou daquela maneira? Uma mudança na organização social que divide os homens em classes heterogêneas? Ou será que ele não propõe nenhuma mudança, apenas reconhece um impasse?
3 – Como a instrução e a aprendizagem se relacionam no texto de Tolstoi? O desejo de aprender é propriamente humano e, apesar disso, os homens resistem à instrução que lhes é imposta? Ele (Tolstoi) está dizendo que as condições que permitem que a aprendizagem aconteça são opostas àquelas que são necessárias à instrução? A instrução, ao designar os conteúdos que devem ser aprendidos, pode afastar as crianças daquilo que desejam ou necessitam saber, e do próprio desejo de aprender, resultando em consequências nocivas às suas capacidades intelectuais? A aprendizagem é compreendida por Tolstoi como uma capacidade ativa e criativa, enquanto a instrução tem como pressuposto uma atitude passiva dos aprendizes e sua finalidade é torná-los capazes de reproduzir o que lhes é ensinado?
4 – Tolstoi chama de “instrução inconsciente” a aprendizagem que acontece no cotidiano das pessoas quando elas convivem e interagem livremente “pelas ruas, tabernas, cafés, museus, no cais, nas livrarias”. Ele afirma que esse tipo de aprendizagem é muito mais forte que a instrução coercitiva, a qual, diante da instrução inconsciente, reduz-se a “uma forma despótica quase desprovida de seu conteúdo”. Desse ponto de vista, que ações o Estado poderia desenvolver no sentido de favorecer a instrução inconsciente? Nenhum tipo de ação, pois a instrução inconsciente é natural e espontânea e não depende do Estado? Reconhecer sua importância para a vitalidade da sociedade e facilitar o acesso aos recursos e aos ambientes mediante os quais ela pode se dar? Preencher a instrução escolar com conteúdos, em função das necessidades que emergem na instrução inconsciente de uma determinada localidade? A instrução coercitiva, segundo ele, seria prejudicial à instrução inconsciente e por isso a única maneira de favorecê-la seria revogando a obrigatoriedade da instrução escolar?
FOUCAULT
Michel Foucault (1975) em Vigiar e Punir (Terceira Parte, Capítulo II). Petrópolis: Editora Vozes, 1999.
DISCIPLINA: OS RECURSOS PARA O BOM ADESTRAMENTO
1 – Walhausen, bem no início do século 17, falava da “correta disciplina”, como uma arte do “bom adestramento” (2). O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo. Em vez de dobrar uniformemente e por massa tudo o que lhe está submetido, separa, analisa, diferencia, leva seus processos de decomposição até às singularidades necessárias e suficientes. “Adestra” as multidões confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para uma multiplicidade de elementos individuais — pequenas células separadas, autonomias orgânicas, identidades e continuidades genéticas, segmentos combinatórios. A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. Não é um poder triunfante que, a partir de seu próprio excesso, pode-se fiar em seu superpoderio; é um poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia calculada, mas permanente. Humildes modalidades, procedimentos menores, se os compararmos aos rituais majestosos da soberania ou aos grandes aparelhos do Estado. E são eles justamente que vão pouco a pouco invadir essas formas maiores, modificar-lhes os mecanismos e impor-lhes seus processos. O aparelho judiciário não escapará a essa invasão, mal secreta. O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico, o exame.
A VIGILÂNCIA HIERÁRQUICA
2 – O exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar; um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam. Lentamente, no decorrer da época clássica, são construídos esses “observatórios” da multiplicidade humana para as quais a história das ciências guardou tão poucos elogios. Ao lado da grande tecnologia dos óculos, das lentes, dos feixes luminosos, unida à fundação da física e da cosmologia novas, houve as pequenas técnicas das vigilâncias múltiplas e entrecruzadas, dos olhares que devem ver sem ser vistos; uma arte obscura da luz e do visível preparou em surdina um saber novo sobre o homem, através de técnicas para sujeitá-lo e processos para utilizá-lo.
3 – Esses “observatórios” têm um modelo quase ideal: o acampamento militar. É a cidade apressada e artificial, que se constrói e remodela quase à vontade; é o ápice de um poder que deve ter ainda mais intensidade, mas também mais discrição, por se exercer sobre homens de armas. No acampamento perfeito, todo o poder seria exercido somente pelo jogo de uma vigilância exata; e cada olhar seria uma peça no funcionamento global do poder. O velho e tradicional plano quadrado foi consideravelmente afinado de acordo com inúmeros esquemas. Define-se exatamente a geometria das aléias, o número e a distribuição das tendas, a orientação de suas entradas, a disposição das filas e das colunas; desenha-se a rede dos olhares que se controlam uns aos outros:
Na praça d’armas, tiram-se cinco linhas, a primeira fica a 16 pés da segunda; as outras ficam a 8 pés uma da outra; e a última fica a 8 pés dos tabardos. Os tabardos ficam a 10 pés das tendas dos oficiais inferiores, precisamente em frente ao primeiro bastão. Uma rua de companhia tem 51 pés de largura… Todas as tendas ficam a dois pés umas das outras. As tendas dos subalternos ficam em frente às ruelas de suas companhias. O bastão de trás fica a 8 pés da última tenda dos soldados e a porta olha para a tenda dos capitães… As tendas dos capitães ficam levantadas em frente às ruas de suas companhias. A porta olha para as próprias companhias (2).
4 – O acampamento é o diagrama de um poder que age pelo efeito de uma visibilidade geral. Durante muito tempo encontraremos no urbanismo, na construção das cidades operárias, dos hospitais, dos asilos, das prisões, das casas de educação, esse modelo do acampamento ou pelo menos o princípio que o sustenta: o encaixamento espacial das vigilâncias hierarquizadas. Princípio do “encastramento”. O acampamento foi para a ciência pouco confessável das vigilâncias o que a câmara escura foi para a grande ciência da ótica.
5 – Toda uma problemática se desenvolve então: a de uma arquitetura que não é mais feita simplesmente para ser vista (fausto dos palácios), ou para vigiar o espaço exterior (geometria das fortalezas), mas para permitir um controle interior, articulado e detalhado — para tornar visíveis os que nela se encontram; mais geralmente, a de uma arquitetura que seria um operador para a transformação dos indivíduos: agir sobre aquele que abriga, dar domínio sobre seu comportamento, reconduzir até eles os efeitos do poder, oferecê-los a um conhecimento, modificá-los. As pedras podem tornar dócil e conhecível. O velho esquema simples do encarceramento e do fechamento — do muro espesso, da porta sólida que impedem de entrar ou de sair — começa a ser substituído pelo cálculo das aberturas, dos cheios e dos vazios, das passagens e das transparências. Assim é que o hospital- edifício se organiza pouco a pouco como instrumento de ação médica: deve permitir que se possa observar bem os doentes, portanto, coordenar melhor os cuidados; a forma dos edifícios, pela cuidadosa separação dos doentes, deve impedir os contágios; a ventilação que se faz circular em torno de cada leito deve enfim evitar que os vapores deletérios se estagnem em volta do paciente, decompondo seus humores e multiplicando a doença por seus efeitos imediatos. O hospital — aquele que se quer aparelhar na segunda metade do século, e para o qual se fizeram tantos projetos depois do segundo incêndio do Hôtel-Dieu — não é mais simplesmente o teto onde se abrigavam a miséria e a morte próxima; é, sem sua própria materialidade, um operador terapêutico.
6 – Como a escola-edifício deve ser um operador de adestramento. Fora uma máquina pedagógica que Pâris-Duverney concebera na Escola militar e até nos mínimos detalhes que ele impusera a Gabriel. Adestrar corpos vigorosos, imperativo de saúde; obter oficiais competentes, imperativo de qualificação; formar militares obedientes, imperativo político; prevenir a devassidão e a homossexualidade, imperativo de moralidade. Quádrupla razão para estabelecer separações estanques entre os indivíduos, mas também aberturas para observação contínua. O próprio edifício da Escola devia ser um aparelho de vigiar; os quartos eram repartidos ao longo de um corredor como uma série de pequenas celas; a intervalos regulares, encontrava-se um alojamento de oficial, de maneira que
cada dezena de alunos tivesse um oficial à direita e à esquerda; [os alunos aí ficavam trancados durante toda a noite; e Pâris insistira para que fosse envidraçada] a parede de cada quarto do lado do corredor desde a altura de apoio até um ou dois pés do teto. Além disso a vista dessas vidraças só pode ser agradável, ousamos dizer que é útil sob vários pontos de vista, sem falar das razões de disciplina que podem determinar essa disposição (3).
7 – Nas salas de refeições, fora preparado
um estrado um pouco alto para colocar as mesas dos inspetores dos estudos, para que eles possam ver todas as mesas dos alunos de suas divisões, durante as refeições;
haviam sido instaladas latrinas com meias-portas, para que o vigia para lá designado pudesse ver a cabeça e as pernas dos alunos, mas com separações laterais suficientemente elevadas “para que os que lá estão não se possam ver” (4). Escrúpulos infinitos de vigilância que a arquitetura transmite por mil dispositivos sem honra. Só os acharemos irrisórios se esquecermos o papel dessa instrumentação, menor mas sem falha, na objetivação progressiva e no quadriculamento cada vez mais detalhado dos comportamentos individuais. As instituições disciplinares produziram uma maquinaria de controle que funcionou como um microscópio do comportamento; as divisões tênues e analíticas por elas realizadas formaram, em torno dos homens, um aparelho de observação, de registro e de treinamento. Nessas máquinas de observar, como subdividir os olhares, como estabelecer entre eles escalas, comunicações? Como fazer para que, de sua multiplicidade calculada, resulte um poder homogêneo e contínuo?
8 – O aparelho disciplinar perfeito capacitaria um único olhar tudo ver permanentemente. Um ponto central seria ao mesmo tempo fonte de luz que iluminasse todas as coisas, e lugar de convergência para tudo o que deve ser sabido: olho perfeito a que nada escapa e centro em direção ao qual todos os olhares convergem. Foi o que imaginara Ledoux ao construir Arc-et-Senans: no centro dos edifícios dispostos em círculo e que se abriam todos para o interior, uma alta construção devia acumular as funções administrativas de direção, policiais de vigilância, econômicas de controle e de verificação, religiosas de encorajamento à obediência e ao trabalho; de lá viriam todas as ordens, lá seriam registradas todas as atividades, percebidas e julgadas todas as faltas; e isso imediatamente, sem quase nenhum suporte a não ser uma geometria exata. Entre todas as razões do prestígio que foi dado, na segunda metade do século 18, às arquiteturas circulares (5), é preciso sem dúvida contar esta: elas exprimiam uma certa utopia política.
9 – Mas o olhar disciplinar teve, de fato, necessidade de escala. Melhor que o círculo, a pirâmide podia atender a duas exigências: ser bastante completa para formar uma rede sem lacuna — possibilidade em consequência de multiplicar seus degraus, e de espalhá-los sobre toda a superfície a controlar; e entretanto ser bastante discreta para não pesar como uma massa inerte sobre a atividade a disciplinar e não ser para ela um freio ou um obstáculo; integrar-se ao dispositivo disciplinar como uma função que lhe aumenta os efeitos possíveis. É preciso decompor suas instâncias, mas para aumentar sua função produtora. Especificar a vigilância e torná-la funcional.
10 – É o problema das grandes oficinas e das fábricas, onde se organiza um novo tipo de vigilância. É diferente do que se realizava nos regimes das manufaturas do exterior pelos inspetores, encarregados de fazer aplicar os regulamentos; trata-se agora de um controle intenso, contínuo; corre ao longo de todo o processo de trabalho; não se efetua — ou não só — sobre a produção (natureza, quantidade de matérias-primas, tipo de instrumentos utilizados, dimensões e qualidades dos produtos), mas leva em conta a atividade dos homens, seu conhecimento técnico, a maneira de fazê-lo, sua rapidez, seu zelo, seu comportamento. Mas é também diferente do controle doméstico do mestre, presente ao lado dos operários e dos aprendizes; pois é realizado por prepostos, fiscais, controladores e contramestres. À medida que o aparelho de produção se torna mais importante e mais complexo, à medida que aumentam o número de operários e a divisão do trabalho, as tarefas de controle se fazem mais necessárias e mais difíceis. Vigiar torna-se então uma função definida, mas deve fazer parte integrante do processo de produção; deve duplicá-lo em todo o seu comprimento. Um pessoal especializado torna-se indispensável, constantemente presente, e distinto dos operários:
Na grande manufatura, tudo é feito ao toque da campainha, os operários são forçados e reprimidos. Os chefes, acostumados a ter com eles um ar de superioridade e de comando, que realmente é necessário com a multidão, tratam-nos duramente ou com desprezo; acontece daí que esses operários ou são mais caros ou apenas passam pela manufatura (6).
11 – Mas se os operários preferem o enquadramento de tipo corporativo a esse novo regime de vigilância, os patrões, quanto a eles, reconhecem nisso um elemento indissociável do sistema da produção industrial, da propriedade privada e do lucro. Em nível de fábrica, de grande forja ou de mina,
os objetos de despesa são tão multiplicados, que a menor infidelidade sobre cada objeto daria no total uma fraude imensa, que não somente absorveria os lucros, mas levaria a fonte dos capitais…; a mínima imperícia desapercebida e por isso repetida cada dia pode se tornar funesta à empresa ao ponto de anulá-la em muito pouco tempo; [donde o fato que só agentes, diretamente dependentes do proprietário, e designados só para esta tarefa poderão zelar] para que não haja um tostão de despesa inútil, para que não haja um momento perdido no dia; seu papel será de vigiar os operários, visitar todas as obras, instruir o comitê sobre todos os acontecimentos (7).
12 – A vigilância torna-se um operador econômico decisivo, na medida em que é ao mesmo tempo uma peça interna no aparelho de produção e uma engrenagem específica do poder disciplinar (8).
13 – Mesmo movimento na reorganização do ensino elementar; especificação da vigilância e integração à relação pedagógica. O desenvolvimento das escolas paroquiais, o aumento de seu número de alunos, a inexistência de métodos que permitissem regulamentar simultaneamente a atividade de toda uma turma, a desordem e a confusão que daí provinham tornavam necessária a organização dos controles. Para ajudar o mestre, Batencour escolhe entre os melhores alunos toda uma série de “oficiais”, intendentes, observadores, monitores, repetidores, recitadores de orações, oficiais de escrita, recebedores de tinta, capelães e visitadores. Os papéis assim definidos são de duas ordens: uns correspondem a tarefas materiais (distribuir a tinta e o papel, dar as sobras aos pobres, ler textos espirituais nos dias de festa, etc); outros são da ordem da fiscalização:
Os “observadores” devem anotar quem sai do banco, quem conversa, quem não tem o terço ou o livro de orações, quem se comporta mal na missa, quem comete alguma imodéstia, conversa ou grita na rua; os “admonitores” estão encarregados de “tomar conta dos que falam ou fazem zunzum ao estudar as lições, dos que não escrevem ou brincam”; os “visitadores” vão se informar, nas famílias, sobre os alunos que estiveram ausentes ou cometeram faltas graves. Quanto aos “intendentes”, fiscalizam todos os outros oficiais. Só os “repetidores” têm um papel pedagógico: têm que fazer os alunos ler dois a dois, em voz baixa (9).
14 – Ora, algumas dezenas de anos mais tarde, Demia volta a uma hierarquia do mesmo tipo, mas as funções de fiscalização agora são quase todas duplicadas por um papel pedagógico: um submestre ensina a segurar a pena, guia a mão, corrige os erros e ao mesmo tempo “marca as faltas quando se discute”; outro submestre tem as mesmas tarefas na classe de leitura; o intendente que controla os outros oficiais e zela pelo comportamento geral é também encarregado de “adequar os recém-chegados aos exercícios da escola”; os decuriões fazem recitar as lições e “marcam” os que não as sabem (10). Temos aí o esboço de uma instituição tipo escola mútua em que estão integrados no interior de um dispositivo único três procedimentos: o ensino propriamente dito, a aquisição dos conhecimentos pelo próprio exercício da atividade pedagógica, enfim uma observação recíproca e hierarquizada. Uma relação de fiscalização, definida e regulada, está inserida na essência da prática do ensino: não como uma peça trazida ou adjacente, mas como um mecanismo que lhe é inerente e multiplica sua eficiência.
15 – A vigilância hierarquizada, contínua e funcional não é, sem dúvida, uma das grandes “invenções” técnicas do século 18, mas sua insidiosa extensão deve sua importância às novas mecânicas de poder, que traz consigo. O poder disciplinar, graças a ela, torna-se um sistema “integrado”, ligado do interior à economia e aos fins do dispositivo onde é exercido. Organiza-se assim como um poder múltiplo, automático e anônimo; pois, se é verdade que a vigilância repousa sobre indivíduos, seu funcionamento é de uma rede de relações de alto a baixo, mas também até um certo ponto de baixo para cima e lateralmente; essa rede “sustenta” o conjunto, e o perpassa de efeitos de poder que se apoiam uns sobre os outros: fiscais perpetuamente fiscalizados. O poder na vigilância hierarquizada das disciplinas não se detém como uma coisa, não se transfere como uma propriedade; funciona como uma máquina. E se é verdade que sua organização piramidal lhe dá um “chefe”, é o aparelho inteiro que produz “poder” e distribui os indivíduos nesse campo permanente e contínuo. O que permite ao poder disciplinar ser absolutamente indiscreto, pois está em toda parte e sempre alerta, pois em princípio não deixa nenhuma parte às escuras e controla continuamente os mesmos que estão encarregados de controlar; e absolutamente “discreto”, pois funciona permanentemente e em grande parte em silêncio. A disciplina faz “funcionar” um poder relacionai que se auto-sustenta por seus próprios mecanismos e substitui o brilho das manifestações pelo jogo ininterrupto dos olhares calculados. Graças às técnicas de vigilância, a “física” do poder, o domínio sobre o corpo se efetuam segundo as leis da ótica e de mecânica, segundo um jogo de espaços, de linhas, de telas, de feixes, de graus, e sem recurso, pelo menos em princípio, ao excesso, à força, à violência. Poder que é em aparência ainda menos “corporal” por ser mais sabiamente “físico”.
A SANÇÃO NORMALIZADORA
16 – 1) No orfanato do cavaleiro Paulet, as sessões do tribunal que se reunia todas as manhãs davam lugar a um cerimonial:
Encontramos todos os alunos em formação, alinhamento, imobilidade e silêncio perfeitos. O major, jovem da nobreza de dezesseis anos, estava fora da fila, a espada na mão; à sua ordem, a tropa se abalou ao passo duplo para formar o círculo. O conselho se reuniu no centro; cada oficial fez o relatório de sua tropa nas vinte e, quatro horas. Os acusados foram admitidos a se justificar; ouviram-se as testemunhas; deliberou-se e, quando se chegou a um acordo, o major prestou contas em voz alta do número dos culpados, da natureza dos delitos e dos castigos ordenados. A tropa em seguida desfilou na maior ordem (11).
17 – Na essência de todos os sistemas disciplinares, funciona um pequeno mecanismo penal. É beneficiado por uma espécie de privilégio de justiça, com suas leis próprias, seus delitos especificados, suas formas particulares de sanção, suas instâncias de julgamento. As disciplinas estabelecem uma “infra-penalidade”; quadriculam um espaço deixado vazio pelas leis; qualificam e reprimem um conjunto de comportamentos que escapava aos grandes sistemas de castigo por sua relativa indiferença.
Ao entrar os companheiros deverão saudar-se reciprocamente; …ao sair deverão guardar as mercadorias e ferramentas que utilizaram e em época de serão apagar a lâmpada; é expressamente proibido divertir os companheiros com gestos ou de outra maneira; [eles deverão] se comportar honesta e decentemente; [quem se ausentar por mais de cinco minutos sem avisar o Sr. Oppenheim será] anotado por meio-dia; [e para que fique certo que nada será esquecido nessa justiça criminal miúda, é proibido fazer] qualquer coisa que puder prejudicar o Sr. Oppenheim e seus companheiros (12).
18 – Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda uma micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas), da atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser (grosseria, desobediência), dos discursos (tagarelice, insolência), do corpo (atitudes “incorretas”, gestos não conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência). Ao mesmo tempo é utilizada, a título de punição, toda uma série de processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações ligeiras e a pequenas humilhações. Trata-se ao mesmo tempo de tornar penalizáveis as frações mais tênues da conduta, e de dar uma função punitiva aos elementos aparentemente indiferentes do aparelho disciplinar: levando ao extremo, que tudo possa servir para punir a mínima coisa; que cada indivíduo se encontre preso numa universalidade punível-punidora.
Pela palavra punição, deve-se compreender tudo o que é capaz de fazer as crianças sentir a falta que cometeram, tudo o que é capaz de humilhá-las, de confundi-las: …uma certa frieza, uma certa indiferença, uma pergunta, uma humilhação, uma destituição de posto (13).
19 – 2) Mas a disciplina traz consigo uma maneira específica de punir, e que é apenas um modelo reduzido do tribunal. O que pertence à penalidade disciplinar é a inobservância, tudo o que está inadequado à regra, tudo o que se afasta dela, os desvios. É passível de pena o campo indefinido do não-conforme: o soldado comete uma “falta” cada vez que não atinge o nível requerido; a “falta” do aluno é, assim como um delito menor, uma inaptidão a cumprir suas tarefas. O regulamento da infantaria prussiana impunha tratar com “todo o rigor possível” o soldado que não tivesse aprendido a manejar corretamente o fuzil. Do mesmo modo,
quando um escolar não tiver guardado o catecismo da véspera, poder-se-á obrigá-lo a aprender o daquele dia, sem nenhum erro, e deverá repeti-lo no dia seguinte; ou será obrigado a ouvi-lo de pé ou de joelhos, ou com as mãos postas, ou então lhe será imposta alguma outra penitência.
20 – A ordem que os castigos disciplinares devem fazer respeitar é de natureza mista: é uma ordem “artificial”, colocada de maneira explícita por uma lei, um programa, um regulamento. Mas é também uma ordem, definida por processos naturais e observáveis: a duração de um aprendizado, o tempo de um exercício, o nível de aptidão têm por referência uma regularidade, que é também uma regra. As crianças das escolas cristãs nunca devem ser colocadas numa “lição” de que ainda não são capazes, pois estariam correndo o perigo de não poder aprender nada; entretanto a duração de cada estágio é fixada de maneira regulamentar e quem, no fim de três meses, não houver passado para a ordem superior deve ser colocado, bem em evidência, no banco dos “ignorantes”. A punição em regime disciplinar comporta uma dupla referência jurídico-natural.
21 – 3) O castigo disciplinar tem a função de reduzir os desvios. Deve portanto ser essencialmente corretivo. Ao lado das punições copiadas ao modelo judiciário (multas, açoite, masmorra), os sistemas disciplinares privilegiam as punições que são da ordem do exercício — aprendizado intensificado, multiplicado, muitas vezes repetido: o regulamento de 1766 para a infantaria previa que os soldados de primeira classe “que mostrarem alguma negligência ou má vontade serão enviados para a última classe”, e só poderão voltar à primeira, depois de novos exercícios e um novo exame, Como dizia, por seu lado, J.-B. de La Salle:
O castigo escrito é, de todas as penitências, a mais honesta para um mestre, a mais vantajosa e a que mais agrada aos pais; [permite] tirar dos próprios erros das crianças maneiras de avançar seus progressos corrigindo-lhes os defeitos; [àqueles, por exemplo], que não houverem escrito tudo o que deviam escrever, ou não se aplicarem para fazê-lo bem, se poderá dar algum dever para escrever ou para decorar (14).
22 – A punição disciplinar é, pelo menos por uma boa parte, isomorfa à própria obrigação; ela é menos a vingança da lei ultrajada que sua repetição, sua insistência redobrada. De modo que o efeito corretivo que dela se espera apenas de uma maneira acessória passa pela expiação e pelo arrependimento; é diretamente obtido pela mecânica de um castigo. Castigar é exercitar.
23 – 4) A punição, na disciplina, não passa de um elemento de um sistema duplo: gratificação-sanção. E é esse sistema que se torna operante no processo de treinamento e de correção. O professor
deve evitar, tanto quanto possível, usar castigos; ao contrário, deve procurar tornar as recompensas mais freqüentes que as penas, sendo os preguiçosos mais incitados pelo desejo de ser recompensados como os diligentes que pelo receio dos castigos; por isso será muito proveitoso, quando o mestre for obrigado a usar de castigo, que ele ganhe, se puder, o coração da criança, antes de aplicar-lhe o castigo (15).
24 – Este mecanismo de dois elementos permite um certo número de operações características da penalidade disciplinar. Em primeiro lugar, a qualificação dos comportamentos e dos desempenhos a partir de dois valores opostos do bem e do mal; em vez da simples separação do proibido, como é feito pela justiça penal, temos uma distribuição entre pólo positivo e pólo negativo; todo o comportamento cai no campo das boas e das más notas, dos bons e dos maus pontos. É possível, além disso, estabelecer uma quantificação e uma economia traduzida em números. Uma contabilidade penal, constantemente posta em dia, permite obter o balanço positivo de cada um. A “justiça” escolar levou muito longe esse sistema, de que se encontram pelo menos os rudimentos no exército ou nas oficinas. Os irmãos das Escolas Cristãs haviam organizado uma micro-economia dos privilégios e dos castigos escritos:
Os privilégios servirão aos escolares para se isentarem das penitências que lhes serão impostas… Um escolar por exemplo terá por castigo quatro ou cinco perguntas do catecismo para copiar; ele poderá se libertar dessa penitência mediante alguns pontos de privilégios; o mestre anotará o número para cada pergunta… Valendo os privilégios um número determinado de pontos, o mestre tem também outros de menor valor, que servirão como que de troco para os primeiros. Uma criança, por exemplo, terá um castigo de que se poderá redimir com seis pontos; tem um privilégio de dez; apresenta-o ao mestre que lhe devolve quatro pontos; e assim outros (16).
25 – E pelo jogo dessa quantificação, dessa circulação dos adiantamentos e das dívidas, graças ao cálculo permanente das notas a mais ou a menos, os aparelhos disciplinares hierarquizam, numa relação mútua, os “bons” e os “maus” indivíduos. Através dessa microeconomia de uma penalidade perpétua, opera-se uma diferenciação que não é a dos atos, mas dos próprios indivíduos, de sua natureza, de suas virtualidades, de seu nível ou valor. A disciplina, ao sancionar os atos com exatidão, avalia os indivíduos “com verdade”; a penalidade que ela põe em execução se integra no ciclo de conhecimento dos indivíduos.
26 – 5) A divisão segundo as classificações ou os graus tem um duplo papel: marcar os desvios, hierarquizar as qualidades, as competências e as aptidões; mas também castigar e recompensar. Funcionamento penal da ordenação e caráter ordinal da sanção. A disciplina recompensa unicamente pelo jogo das promoções que permitem hierarquias e lugares; pune rebaixando e degradando. O próprio sistema de classificação vale como recompensa ou punição. Havia sido aperfeiçoado na Escola Militar um sistema complexo de hierarquização “honorífica”, em que as roupas traduziam essa classificação aos olhos de todos, e castigos mais ou menos nobres ou vergonhosos estavam ligados, como marca de privilégio ou de infâmia, às categorias assim distribuídas. Essa repartição classificatória e penal se efetua a intervalos próximos por relatórios que os oficiais, os professores, seus adjuntos fazem, sem consideração de idade ou de posto, sobre “as qualidades morais dos alunos” e sobre “seu comportamento universalmente reconhecido”. A primeira classe, dita dos “muito bons”, se distingue por uma dragona de prata; sua honra é ser tratada como “uma tropa puramente militar”; militares serão portanto as punições a que ela tem direito (as detenções e, nos casos graves, a prisão). A segunda classe, dos “bons”, usa uma dragona de seda cor de papoula e prata; são passíveis de prisão e detenção, e também da jaula e de se ajoelhar. A classe dos “medíocres” tem direito a uma dragona de lã vermelha; às penas precedentes se acrescenta, se for o caso, o burel. A última classe, a dos “maus”, é marcada por uma dragona de lã parda; “os alunos desta classe serão submetidos a todas as punições usuais no “Hotel” ou todas as que se julgar necessário introduzir, e até à masmorra escura”. A isso se acrescentou durante algum tempo a classe “vergonhosa” para a qual se prepararam regulamentos especiais “de maneira que os que a compõem estarão sempre separados dos outros e vestidos de burel”. Como só o mérito e o comportamento devem decidir sobre o lugar do aluno, “os das duas últimas classes poderão se orgulhar de subir às primeiras e usar suas marcas, quando, por testemunhos universais, se reconhecerá que se tornaram dignos disso pela mudança de seu comportamento e seus progressos; e os das primeiras classes também descerão para as outras se relaxarem e se relatórios reunidos e desvantajosos mostrarem que não merecem mais as distribuições e prerrogativas das primeiras classes…”. A classificação que pune deve tender a se extinguir. A “classe vergonhosa” só existe para desaparecer: “A fim de julgar a espécie de conversão dos alunos da classe vergonhosa que nela se comportam bem”, eles serão reintroduzidos nas outras classes, suas roupas lhes serão devolvidas; mas ficarão com seus camaradas de infâmia durante as refeições e as recreações; aí permanecerão se não continuarem a se comportar bem; daí “sairão absolutamente, se derem satisfação tanto nessa classe quanto nessa divisão” (17). Duplo efeito consequentemente dessa penalidade hierarquizante: distribuir os alunos segundo suas aptidões e seu comportamento, portanto segundo o uso que se poderá fazer deles quando saírem da escola; exercer sobre eles uma pressão constante, para que se submetam todos ao mesmo modelo, para que sejam obrigados todos juntos “à subordinação, à docilidade, à atenção nos estudos e nos exercícios, e à exata prática dos deveres e de todas as partes da disciplina”. Para que, todos, se pareçam.
27 – Em suma, a arte de punir, no regime do poder disciplinar, não visa nem a expiação, nem mesmo exatamente a repressão. Põe em funcionamento cinco operações bem distintas: relacionar os atos, os desempenhos, os comportamentos singulares a um conjunto, que é ao mesmo tempo campo de comparação, espaço de diferenciação e princípio de uma regra a seguir. Diferenciar os indivíduos em relação uns aos outros e em função dessa regra de conjunto — que se deve fazer funcionar como base mínima, como média a respeitar ou como o ótimo de que se deve chegar perto. Medir em termos quantitativos e hierarquizar em termos de valor as capacidades, o nível, a “natureza” dos indivíduos. Fazer funcionar, através dessa medida “valorizadora”, a coação de uma conformidade a realizar. Enfim traçar o limite que definirá a diferença em relação a todas as diferenças, a fronteira externa do anormal (a “classe vergonhosa” da Escola Militar). A penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e controla todos os instantes das instituições disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, homogeneíza, exclui. Em uma palavra, ela normaliza.
28 – Opõe-se então termo por termo a uma penalidade judiciária que tem a função essencial de tomar por referência, não um conjunto de fenômenos observáveis, mas um corpo de leis e de textos que é preciso memorizar; não diferenciar indivíduos, mas especificar atos num certo número de categorias gerais; não hierarquizar mas fazer funcionar pura e simplesmente a oposição binária do permitido e do proibido; não homogeneizar, mas realizar a partilha, adquirida de uma vez por todas, da condenação. Os dispositivos disciplinares produziram uma “penalidade da norma” que é irredutível em seus princípios e seu funcionamento à penalidade tradicional da lei. O pequeno tribunal que parece ter sede permanente nos edifícios da disciplina, e às vezes toma a forma teatral do grande aparelho judiciário, não deve iludir: ele não conduz, a não ser por algumas continuidades formais, os mecanismos da justiça criminal até à trama da existência cotidiana; ou ao menos não é isso o essencial; as disciplinas inventaram — apoiando-se aliás sobre uma série de processos muito antigos — um novo funcionamento punitivo, e é este que pouco a pouco investiu o grande aparelho exterior que parecia reproduzir modesta ou ironicamente. O funcionamento jurídico-antropológico que toda a história da penalidade moderna revela não se origina na superposição à justiça criminal das ciências humanas, e nas exigências próprias a essa nova racionalidade ou ao humanismo que ela traria consigo; ele tem seu ponto de formação nessa técnica disciplinar que fez funcionar esses novos mecanismos de sanção normalizadora.
29 – Aparece, através das disciplinas, o poder da Norma. Nova lei da sociedade moderna? Digamos antes que desde o século 18 ele veio unir-se a outros poderes obrigando-os a novas delimitações; o da Lei, o da Palavra e do Texto, o da Tradição. O Normal se estabelece como princípio de coerção no ensino, com a instauração de uma educação estandardizada e a criação das escolas normais; estabelece-se no esforço para organizar um corpo médico e um quadro hospitalar da nação capazes de fazer funcionar normas gerais de saúde; estabelece-se na regularização dos processos e dos produtos industriais (18). Tal como a vigilância e junto com ela, a regulamentação é um dos grandes instrumentos de poder no fim da era clássica. As marcas que significavam status, privilégios, filiações, tendem a ser substituídas ou pelo menos acrescidas de um conjunto de graus de normalidade, que são sinais de filiação a um corpo social homogêneo, mas que têm em si mesmos um papel de classificação, de hierarquização e de distribuição de lugares. Em certo sentido, o poder de regulamentação obriga à homogeneidade; mas individualiza, permitindo medir os desvios, determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar úteis as diferenças, ajustando-as umas às outras. Compreende-se que o poder da norma funcione facilmente dentro de um sistema de igualdade formal, pois dentro de uma homogeneidade que é a regra, ele introduz, como um imperativo útil e resultado de uma medida, toda a gradação das diferenças individuais.
O EXAME
30 – O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são diferenciados e sancionados. É por isso que, em todos os dispositivos de disciplina, o exame é altamente ritualizado. Nele vêm-se reunir a cerimônia do poder e a forma da experiência, a demonstração da força e o estabelecimento da verdade. No coração dos processos de disciplina, ele manifesta a sujeição dos que são percebidos como objetos e a objetivação dos que se sujeitam. A superposição das relações de poder e das de saber assume no exame todo o seu brilho visível. Mais uma inovação da era clássica que os historiadores deixaram na sombra. Faz-se a história das experiências com cegos de nascença, meninos-lobo ou com a hipnose. Mas quem fará a história mais geral, mais vaga, mais determinante também, do “exame” — de seus rituais, de seus métodos, de seus personagens e seus papéis, de seus jogos de perguntas e respostas, de seus sistemas de notas e de classificação? Pois nessa técnica delicada estão comprometidos todo um campo de saber, todo um tipo de poder. Fala-se muitas vezes da ideologia que as “ciências” humanas pressupõem, de maneira discreta ou declarada. Mas sua própria tecnologia, esse pequeno esquema operatório que tem tal difusão (da psiquiatria à pedagogia, do diagnóstico das doenças à contratação de mão-de-obra), esse processo tão familiar do exame, não põe em funcionamento, dentro de um só mecanismo, relações de poder que permitem obter e constituir saber? O investimento político não se faz simplesmente ao nível da consciência, das representações e no que julgamos saber, mas ao nível daquilo que torna possível algum saber.
31 – Uma das condições essenciais para a liberação epistemológica da medicina no fim do século 18 foi a organização do hospital como aparelho de “examinar”. O ritual da visita é uma de suas formas mais evidentes. No século 17, o médico, vindo de fora, juntava a sua inspeção vários outros controles — religiosos, administrativos; não participava absolutamente da gestão cotidiana do hospital. Pouco a pouco a visita tornou-se mais regular, mais rigorosa, principalmente mais extensa: ocupou uma parte cada vez mais importante do funcionamento hospitalar. Em 1661, o médico do Hotel-Dieu de Paris era encarregado de uma visita por dia; em 1687, um médico “expectante” devia examinar, à tarde, certos doentes mais graves. Os regulamentos do século XVIII determinam os horários da visita, e sua duração (duas horas no mínimo); insistem para que um rodízio permita que seja realizado todos os dias “inclusive domingo de Páscoa”; enfim em 1771 institui-se um médico residente, encarregado de “prestar todos os serviços de seu estado, tanto de noite como de dia, nos intervalos entre uma visita e outra de um médico de fora” (19). A inspeção de antigamente, descontínua e rápida, se transforma em uma observação regular que coloca o doente em situação de exame quase perpétuo. Com duas consequências: na hierarquia interna, o médico, elemento até então exterior, começa a suplantar o pessoal religioso e a lhe confiar um papel determinado mas subordinado, na técnica do exame; aparece então a categoria do “enfermeiro”; quanto ao próprio hospital, que era antes de tudo um local de assistência, vai tornar- se local de formação e aperfeiçoamento científico: viravolta das relações de poder e constituição de um saber. O hospital bem “disciplinado” constituirá o local adequado da “disciplina” médica; esta poderá então perder seu caráter textual e encontrar suas referências menos na tradição dos autores decisivos que num campo de objetos perpetuamente oferecidos ao exame.
32 – Do mesmo modo, a escola torna-se uma espécie de aparelho de exame ininterrupto que acompanha em todo o seu comprimento a operação do ensino. Tratar-se-á cada vez menos daquelas justas em que os alunos defrontavam forças e cada vez mais de uma comparação perpétua de cada um com todos, que permite ao mesmo tempo medir e sancionar. Os Irmãos das Escolas Cristãs queriam que seus alunos fizessem provas de classificação todos os dias da semana: o primeiro dia para a ortografia, o segundo para a aritmética, o terceiro para o catecismo da manhã, e de tarde para a caligrafia, etc. Além disso, devia haver uma prova todo mês, para designar os que merecessem ser submetidos ao exame do inspetor (20). Desde 1775, há na escola de Ponts et Chaussées 16 exames por ano: 3 de matemática, 3 de arquitetura, 3 de desenho, 2 de caligrafia, 1 de corte de pedras, 1 de estilo, 1 de levantamento de planta, 1 de nivelamento, 1 de medição de edifícios (21). O exame não se contenta em sancionar um aprendizado; é um de seus fatores permanentes: sustenta-o segundo um ritual de poder constantemente renovado. O exame permite ao mestre, ao mesmo tempo em que transmite seu saber, levantar um campo de conhecimentos sobre seus alunos. Enquanto que a prova com que terminava um aprendizado na tradição corporativa validava uma aptidão adquirida — a “obra- prima” autentificava uma transmissão de saber já feita — o exame é na escola uma verdadeira e constante troca de saberes: garante a passagem dos conhecimentos do mestre ao aluno, mas retira do aluno um saber destinado e reservado ao mestre. A escola torna-se o local de elaboração da pedagogia. E do mesmo modo como o processo do exame hospitalar permitiu a liberação epistemológica da medicina, a era da escola “examinatória” marcou o início de uma pedagogia que funciona como ciência. A era das inspeções e das manobras indefinidamente repetidas, no exército, marcou também o desenvolvimento de um imenso saber tático que teve efeito na época das guerras napoleônicas.
33 – O exame supõe um mecanismo que liga um certo tipo de formação de saber a uma certa forma de exercício do poder.
34 – 1) O exame inverte a economia da visibilidade no exercício do poder: tradicionalmente, o poder é o que se vê, se mostra, se manifesta e, de maneira paradoxal, encontra o princípio de sua força no movimento com o qual a exibe. Aqueles sobre o qual ele é exercido podem ficar esquecidos; só recebem luz daquela parte do poder que lhes é concedida, ou do reflexo que mostram um instante. O poder disciplinar, ao contrário, se exerce tornando-se invisível: em compensação impõe aos que submete um princípio de visibilidade obrigatória. Na disciplina, são os súditos que têm que ser vistos. Sua iluminação assegura a garra do poder que se exerce sobre eles. É o fato de ser visto sem cessar, de sempre poder ser visto, que mantém sujeito o indivíduo disciplinar. E o exame é a técnica pela qual o poder, em vez de emitir os sinais de seu poderio, em vez de impor sua marca a seus súditos, capta-os num mecanismo de objetivação. No espaço que domina, o poder disciplinar manifesta, para o essencial, seu poderio organizando os objetos. O exame vale como cerimônia dessa objetivação.
35 – Até então o papel da cerimônia política fora dar lugar à manifestação ao mesmo tempo excessiva e regulamentada do poder; era uma expressão suntuosa de poderio, uma “despesa” ao mesmo tempo exagerada e codificada onde o poder se revigorava. Era sempre mais ou menos aparentada ao triunfo. A aparição solene do soberano trazia consigo qualquer coisa da consagração do coroamento, do retorno da vitória; até mesmo os faustos funerários se desenrolavam no brilho do poderio exibido. Já a disciplina tem seu próprio tipo de cerimônia. Não é o triunfo, é a revista, é a “parada”, forma faustosa do exame. Os “súditos” são aí oferecidos como “objetos” à observação de um poder que só se manifesta pelo olhar. Não recebem diretamente a imagem do poderio soberano; apenas mostram seus efeitos — e por assim dizer em baixo relevo — sobre seus corpos tornados exatamente legíveis e dóceis. Em 15 de março de 1666, Luís XIV passa sua primeira revista militar: 18.000 homens, “uma das ações mais brilhantes do reino”, e que passava por ter “mantido toda a Europa inquieta”. Muitos anos depois, foi cunhada uma medalha para comemorar o acontecimento (22). Traz, no exergo: Disciplina militaris restituta e na legenda: Prolusio ad victorias. À direita, o rei, com o pé direito para a frente, comanda ele próprio o exercício com um bastão. Na metade esquerda, várias fileiras de soldados são vistos de frente, e alinhados no sentido da profundidade; eles estendem o braço na altura do ombro e seguram o fuzil exatamente na vertical: avançam a perna direita e estão com o pé esquerdo voltado para fora. No chão, linhas se cortam em ângulo reto, representando, sob os pés dos soldados, grandes quadrados que servem de referência para as diversas fases e posições do exercício. Bem no fundo, esboça-se uma arquitetura clássica. As colunas do palácio prolongam as constituídas pelos homens alinhados e pelos fuzis levantados, como as lajes do calçamento prolongam as linhas do exercício. Mas acima da balaustrada que coroa o edifício, estátuas representam personagens que dançam: linhas sinuosas, gestos arredondados, cortinados. O mármore é percorrido por movimentos, cujo princípio de unidade é harmônico. Já os homens estão imobilizados numa atitude uniformemente repetida de fileira em fileira e de linha em linha: unidade tática. A ordem da arquitetura, que liberta em seu topo as figuras de dança, impõe no solo suas regras e geometria aos homens disciplinados. As colunas do poder. “Bem”, dizia um dia o grão-duque Michel diante de quem as tropas haviam acabado de manobrar, “mas eles estão respirando” (23).
36 – Tomemos essa medalha como testemunho do momento em que se reúnem de maneira paradoxal mas significativa a figura mais brilhante do poder soberano e a emergência dos rituais próprios ao poder disciplinar. A visibilidade mal sustentável do monarca se torna em visibilidade inevitável dos súditos. E essa inversão de visibilidade no funcionamento das disciplinas é que realizará o exercício do poder até em seus graus mais baixos. Entramos na era do exame interminável e da objetivação limitadora.
37 – 2) O exame faz também a individualidade entrar num campo documentário: Seu resultado é um arquivo inteiro com detalhes e minúcias que se constitui ao nível dos corpos e dos dias. O exame que coloca os indivíduos num campo de vigilância situa-os igualmente numa rede de anotações escritas; compromete-os em toda uma quantidade de documentos que os captam e os fixam. Os procedimentos de exame são acompanhados imediatamente de um sistema de registro intenso e de acumulação documentária. Um “poder de escrita” é constituído como uma peça essencial nas engrenagens da disciplina. Em muitos pontos, modela-se pelos métodos tradicionais da documentação administrativa. Mas com técnicas particulares e inovações importantes. Umas se referem aos métodos de identificação, de assimilação, ou de descrição. Era esse o problema do exército, onde urgia encontrar os desertores, evitar as convocações repetidas, corrigir as listas fictícias apresentadas pelos oficiais, conhecer os serviços e o valor de cada um, estabelecer com segurança o balanço dos desaparecidos e mortos. Era esse o problema dos hospitais, onde era preciso reconhecer os doentes, expulsar os simuladores, acompanhar a evolução das doenças, verificar a eficácia dos tratamentos, descobrir os casos análogos e os começos de epidemias. Era o problema dos estabelecimentos de ensino, onde era forçoso caracterizar a aptidão de cada um, situar seu nível e capacidades, indicar a utilização eventual que se pode fazer dele.
A função do registro é fornecer indicações de tempo e lugar, dos hábitos das crianças, de seu progresso na piedade, no catecismo, nas letras de acordo com o tempo na Escola, seu espírito e critério que ele encontrará marcado desde sua recepção (24).
38 – Daí a formação de uma série de códigos da individualidade disciplinar que permitem transcrever, homogeneizando-os, os traços individuais estabelecidos pelo exame: código físico da qualificação, código médico dos sintomas, código escolar ou militar dos comportamentos e dos desempenhos. Esses códigos eram ainda muito rudimentares, em sua forma qualitativa ou quantitativa, mas marcam o momento de uma primeira “formalização” do individual dentro de relações do poder.
39 – As outras inovações da escrita disciplinar se referem à correlação desses elementos, à acumulação dos documentos, sua seriação, à organização de campos comparativos que permitam classificar, formar categorias, estabelecer médias, fixar normas. Os hospitais do século 18 foram particularmente grandes laboratórios para os métodos escriturários e documentários. A manutenção dos registros, sua especificação, os modos de transcrição de uns para os outros, sua circulação durante as visitas, sua confrontação durante as reuniões regulares dos médicos e dos administradores, a transmissão de seus dados a organismos de centralização (ou no hospital ou no escritório central dos serviços hospitalares), a contabilidade das doenças, das curas, dos falecimentos ao nível de um hospital de uma cidade e até da nação inteira fizeram parte integrante do processo pelo qual os hospitais foram submetidos ao regime disciplinar. Entre as condições fundamentais de uma boa “disciplina” médica nos dois sentidos da palavra, é preciso incluir os processos de escrita que permitem integrar, mas sem que se percam, os dados individuais em sistemas cumulativos; fazer de maneira que a partir de qualquer registro geral se possa encontrar um indivíduo e que inversamente cada dado do exame individual possa repercutir nos cálculos de conjunto.
40 – Graças a todo esse aparelho de escrita que o acompanha, o exame abre duas possibilidades que são correlatas: a constituição do indivíduo como objeto descritível, analisável, não contudo para reduzi-lo a traços “específicos”, como fazem os naturalistas a respeito dos seres vivos; mas para mantê-lo em seus traços singulares, em sua evolução particular, em suas aptidões ou capacidades próprias, sob o controle de um saber permanente; e por outro lado a constituição de um sistema comparativo que permite a medida de fenômenos globais, a descrição de grupos, a caracterização de fatos coletivos, a estimativa dos desvios dos indivíduos entre si, sua distribuição numa “população”.
41 – Importância decisiva, consequentemente, dessas pequenas técnicas de anotação, de registro, de constituição de processos, de colocação em colunas que nos são familiares mas que permitiram a liberação epistemológica das ciências do indivíduo. Sem dúvida temos razão em colocar o problema aristotélico: é possível uma ciência do indivíduo, e legítima? Para um grande problema, grandes soluções talvez. Mas há o pequeno problema histórico da emergência, pelo fim do século 18, do que se poderia colocar sob a sigla de ciências “clínicas”; problema da entrada do indivíduo (e não mais da espécie) no campo do saber; problema da entrada de descrição singular, do interrogatório, da anamnese, do “processo” no funcionamento geral do discurso científico. Para essa simples questão de fato, é preciso sem dúvida uma resposta sem grandeza: é preciso ver o lado desses processos de escrita e de registro; é preciso ver o lado dos mecanismos de exame, o lado da formação dos dispositivos de disciplina e da formação de um novo tipo de poder sobre os corpos. O nascimento das ciências do homem? Aparentemente ele deve ser procurado nesses arquivos de pouca glória onde foi elaborado o jogo moderno das coerções sobre os corpos, os gestos, os comportamentos.
42 – 3) O exame, cercado de todas as suas técnicas documentárias, faz de cada indivíduo um “caso”: um caso que ao mesmo tempo constitui um objeto para o conhecimento e uma tomada para o poder. O caso não é mais, como na casuística ou na jurisprudência, um conjunto de circunstâncias que qualificam um ato e podem modificar a aplicação de uma regra, é o indivíduo tal como pode ser descrito, mensurado, medido, comparado a outros e isso em sua própria individualidade; e é também o indivíduo que tem que ser treinado ou retreinado, tem que ser classificado, normalizado, excluído, etc.
43 – Durante muito tempo a individualidade qualquer — a de baixo e de todo mundo — permaneceu abaixo do limite de descrição. Ser olhado, observado, contado detalhadamente, seguido dia por dia por uma escrita ininterrupta era um privilégio. A crônica de um homem, o relato de sua vida, sua historiografia redigida no desenrolar de sua existência faziam parte dos rituais do poderio. Os procedimentos disciplinares reviram essa relação, abaixando o limite da individualidade descritível e fazem dessa descrição um meio de controle e um método de dominação. Não mais monumento para uma memória futura, mas documento para uma utilização eventual. E essa nova descritibilidade é ainda mais marcada, porquanto é estrito o enquadramento disciplinar: a criança, o doente, o louco, o condenado se tornarão, cada vez mais facilmente a partir do século 18 e segundo uma via que é a dos mecanismos de disciplina, objeto de descrições individuais e de relatos biográficos. Esta transcrição por escrito das existências reais não é mais um processo de heroificação; funciona como processo de objetivação e de sujeição. A vida cuidadosamente estudada dos doentes mentais ou dos delinquentes se origina, como a crônica dos reis ou a epopeia dos grandes bandidos populares, de uma certa função política da escrita, mas numa técnica de poder totalmente diversa.
44 – O exame como fixação ao mesmo tempo ritual e “científica” das diferenças individuais, como aposição de cada um à sua própria singularidade (em oposição à cerimônia onde se manifestam os status, os nascimentos, os privilégios, as funções, com todo o brilho de suas marcas) indica bem a aparição de uma nova modalidade de poder em que cada um recebe como status sua própria individualidade, e onde está estatutariamente ligado aos traços, às medidas, aos desvios, às “notas” que o caracterizam e fazem dele, de qualquer modo, um “caso”.
45 – Finalmente, o exame está no centro dos processos que constituem o indivíduo como efeito e objeto de poder, como efeito e objeto de saber. É ele que, combinando vigilância hierárquica e sanção normalizadora, realiza as grandes funções disciplinares de repartição e classificação, de extração máxima das forças e do tempo, de acumulação genética contínua, de composição ótima das aptidões. Portanto, de fabricação da individualidade celular, orgânica, genética e combinatória. Com ele se ritualizam aquelas disciplinas que se pode caracterizar com uma palavra dizendo que são uma modalidade de poder para o qual a diferença individual é pertinente.
46 – As disciplinas marcam o momento em que se efetua o que se poderia chamar a troca do eixo político da individualização. Nas sociedades de que o regime feudal é apenas um exemplo, pode-se dizer que a individualização é máxima do lado em que a soberania é exercida e nas regiões superiores do poder. Quanto mais o homem é detentor de poder ou de privilégio, tanto mais é marcado como indivíduo, por rituais, discursos, ou representações plásticas. O “nome de família” e a genealogia que situam, dentro de um conjunto de parentes, a realização de proezas que manifestam a superioridade das forças e que são imortalizadas por relatos, as cerimônias que marcam, por sua ordenação, as relações de poder, os monumentos ou as doações que dão uma outra vida depois da morte, os faustos e os excessos da despesa, os múltiplos laços de vassalagem e de suserania que se entrecruzam, tudo isso constitui outros procedimentos de uma individualização “ascendente”. Num regime disciplinar, a individualização, ao contrário, é “descendente” à medida que o poder se torna mais anônimo e mais funcional, aqueles sobre os quais se exerce tendem a ser mais fortemente individualizados; e por fiscalizações mais que por cerimônias, por observações mais que por relatos comemorativos, por medidas comparativas que têm a “norma” como referência, e não por genealogias que dão os ancestrais como pontos de referência; por “desvios” mais que por proezas. Num sistema de disciplina, a criança é mais individualizada que o adulto, o doente o é antes do homem são, o louco e delinquente mais que o normal e o não-delinquente. É em direção aos primeiros, em todo caso, que se voltam em nossa civilização todos os mecanismos individualizantes; e quando se quer individualizar o adulto são, normal e legalista, agora é sempre perguntando-lhe o que ainda há nele de criança, que loucura secreta o habita, que crime fundamental ele quis cometer. Todas as ciências, análises ou práticas com radical “psico”, têm seu lugar nessa troca histórica dos processos de individualização. O momento em que passamos de mecanismos histórico-rituais de formação da individualidade a mecanismos científico-disciplinares, em que o normal tomou o lugar do ancestral, e a medida o lugar do status, substituindo assim a individualidade do homem memorável pela do homem calculável, esse momento em que as ciências do homem se tornaram possíveis, é aquele em que foram postas em funcionamento uma nova tecnologia do poder e uma outra anatomia política do corpo. E se da Idade Média mais remota até hoje a “aventura” é o relato da individualidade, a passagem do épico ao romanesco, do feito importante à singularidade secreta, dos longos exílios à procura interior da infância, das justas aos fantasmas, se insere também na formação de uma sociedade disciplinar. São as desgraças do pequeno Hans e não mais “o bom Henriquinho” que contam a aventura de nossa infância. O Roman de La Rose é escrito hoje em dia por Mary Barnes; no lugar de Lancelot, o presidente Schreber.
47 – Muitas vezes se afirma que o modelo de uma sociedade que teria indivíduos como elementos constituintes é tomada às formas jurídicas abstratas do contrato e da troca. A sociedade comercial se teria representado como uma associação contratual de sujeitos jurídicos isolados. Talvez. A teoria política dos séculos 17 e 18 parece com efeito obedecer a esse esquema. Mas não se deve esquecer que existiu na mesma época uma técnica para constituir efetivamente os indivíduos como elementos correlates de um poder e de um saber. O indivíduo é sem dúvida o átomo fictício de uma representação “ideológica” da sociedade; mas é também uma realidade fabricada por essa tecnologia específica de poder que se chama a “disciplina”. Temos que deixar de descrever sempre os efeitos de poder em termos negativos: ele “exclui”, “reprime”, “recalca”, “censura”, “abstrai”, “mascara”, “esconde”. Na verdade o poder produz; ele produz realidade; produz campos de objetos e rituais da verdade. O indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter se originam nessa produção.
48 – Mas emprestar tal poderio às astúcias muitas vezes minúsculas da disciplina, não seria lhes conceder muito? De onde podem elas tirar tão vastos efeitos?
NOTAS
1. J.J. Walhausen, L’Art militaire pour l’infanterie, 1615, p. 23.
2. Règlement pour Pinfanterie prussienne, trad. Franc, Arsenal, Ms. 1067, f. 144. Para os esquemas antigos, ver Praissac, Les discours militaires, 1623m, p. 27-28. Montgommery, La milice française, p. 77. Para os novos esquemas, cf. Beneton de Morange, Histoire de la guerre, 1741, p. 61-64, e Dissertations sur les Tentes; cf. também vários regulamentos como a Instruction sur le service des règlements de Cavalerie dans les camps, 29 de junho de 1753. Ver ilustração n° 7.
3. Citado em R. Laulan, L’École militaire de Paris, 1950, p. 117-118.
4. Arch. Nat. MM 666-669. J. Bentham conta que foi visitando a Escola Militar que seu irmão teve a primeira ideia do Panopticon.
5. Ver ilustrações nos 12, 13, 16.
6. Encyclopédie, artigo “Manufacture”.
7. Cournol, Considérations d’intérêt public sur le droit d’exploiter les mines, 1790, Arqu. Nac, A. XIII, 14.
8. Cf. K. Marx: “Essa função de vigilância, de direção e de mediação toma-se a função do capital, assim que O trabalho que lhe é subordinado se torna cooperativo, e como função capitalista ela adquire características especiais” (O Capital, livro I, quarta seção, cap. XIII).
9. M.I.D.B., Instruction méthodique pour 1’école paroissiale, 1669, p. 68-83.
10. Ch. Demia, Règlement pour les écoles de la ville de Lyon, 1716, p. 27-29. Poderíamos notar um fenômeno do mesmo gênero na organização dos colégios: durante muito tempo os “prefeitos” eram, independentemente dos professores, encarregados da responsabilidade moral dos pequenos grupos de alunos. Depois de 1762, principalmente, vemos aparecer um tipo de controle ao mesmo tempo mais administrativo e mais integrado à hierarquia: fiscais, mestres de bairro, mestres subalternos. Cf. Dupont-Ferrier, Du colège de Clermont au lycée Louisle-Grand, vol. I, p. 254 e 476.
11. Pictet de Rochemont, Journal de Genève, 5 de janeiro de 1788.
12. Regulamento provisório para a fábrica de M. Oppenheim, 29 de setembro de 1809.
13. J.B. de la Salle, Conduite des Écoles chrétiennes (1828), p. 204-205.
14. Ibidem.
15. Ch. Demia, Règlement pour les écoles de la ville de Lyon, 1716, p. 17.
16. J.-B. de la Salle, Conduite des Écoles chrétiennes, B.N., Ms. 11759, p. 156s. Temos aí a transposição do sistema das indulgências.
17. Archives nationales, MM 658, 30 de março de 1758, e MM 666, 15 de setembro de 1763.
18. Sobre esse ponto é necessário se reportar às páginas essenciais de G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, ed. de 1866, p. 171-191.
19. Registre des délibérations du bureau de l’Hôtel-Dieu.
20. J.-B. de La Salle, Conduite des Écoles chrétiennes, 1828, p. 160.
21. Cf. L’Enseignement et la diffusion des sciences au XVIIIe, 1964, p. 360.
22. Sobre essa medalha, cf. o artigo de J. Jucquiot in Le Club français de la médaille, 4o trimestre de 1970, p. 50-54. Ver ilustração n° 2.
23. Kropotkine, Autour d’une vie, 1902, p, 9. Devo essa referência a M.G. Ganguilhem.
24. M.I.D.B., Instruction méthodique pour 1’école paroissiale, 1669, p. 64.
QUESTÕES SOBRE O TEXTO DE FOUCAULT
01 – De acordo com Foucault, em Vigiar e Punir, a hierarquia torna a vigilância e o controle funcionais porque os integra à atividade que pretende disciplinar. Isso também acontece, segundo o autor, “na reorganização do ensino elementar: especificação da vigilância e integração à relação pedagógica”. Atualmente o que você observa estar acontecendo com a hierarquia dentro das escolas? Estão surgindo modelos escolares em que a hierarquia tende a desaparecer ou ao menos deixar de servir ao controle e à vigilância? Nessas escolas os alunos são protagonistas da própria educação e têm cada vez mais participação nas decisões que os afetam? Isso acontece graças a dispositivos democráticos como assembleias, comissões de estudantes, eleição de representantes? A hierarquia permanece e se manifesta nas divisões que são constituintes da instituição escolar: separação entre professor e aluno, entre os graus de instrução, entre as idades, entre os melhores e os piores estudantes, por exemplo? Pode-se afirmar que o sistema de ensino hierarquiza as relações não apenas dentro do ambiente escolar: ele cria também uma divisão social, já que um dos fatores que insere as pessoas em diferentes categorias sociais é o fato de terem frequentado melhores ou piores escolas, ou de terem concluído mais ou menos anos de escolarização? Você diria que até mesmo a hierarquia entre países é reforçada pela padronização do ensino obrigatório, pois um dos critérios para se medir o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de um país é a média do número de anos de escolarização de sua população? A hierarquia é natural e pode ser positiva (por exemplo, no reconhecimento da autoridade do professor como mediador do conhecimento) ou o uso da hierarquia para o controle e a vigilância é sempre uma perversão?
02 – Lendo Foucault somos levados a perceber algumas características do poder disciplinar que revelam seu modo de operar: fabricar indivíduos. Como você acha que a padronização de comportamentos se relaciona com o individualismo? Não há nenhuma relação, pois a padronização e o individualismo são coisas opostas? O poder disciplinar cria um campo de comparação, relacionando os atos individuais ao conjunto dos comportamentos padronizados (a diferenciação dos indivíduos a partir da norma ou do padrão vigente permite valorizá-los, coagi-los a se conformar, rebaixá-los ou exclui-los, conforme o caso)? A padronização de comportamento gera o individualismo apenas em sociedades competitivas e influenciadas pelo capitalismo, nas quais as pessoas são instigadas a se destacarem das demais? Em sistemas não-capitalistas, a padronização garantiria a igualdade entre as pessoas e, com isso, criaria melhores condições para a colaboração e a solidariedade?
ROGERS
ROGERS, Carl (1952): Reflexões pessoais sobre ensinar e aprender in Tornar-se Pessoa (1961), Capítulo XI.
ROGERS, Carl (1980) in Um Jeito de Ser (São Paulo: EPU, 1987): Capítulo 6 da Parte III de O processo educacional e seu futuro.
REFLEXÕES PESSOAIS SOBRE ENSINAR E APRENDER
1 – Este capítulo é o mais curto deste livro, mas, se minha experiência pode servir de critério, será igualmente o mais explosivo. Ele tem (para mim) uma história divertida.
2 – Eu tinha aceitado, com alguns meses de antecedência, participar de uma reunião de estudo organizada pela Universidade de Harvard sobre o seguinte tema: “Perspectivas sobre a influência das aulas no comportamento humano “. Tinham me pedido para fazer uma demonstração do “ensino centrado no aluno” — ensino fundamentado nos princípios terapêuticos que eu procurava aplicar à educação. Parecia-me, no entanto, que gastar duas horas com um grupo já adiantado de alunos para tentar ajudá-los a formular os seus próprios objetivos e responder ao que eles pensavam, acompanhando-os nesse intento, seria bastante artificial e pouco satisfatório. Não sabia o que fazer ou apresentar.
3 – Nessa conjuntura, parti para o México para uma das nossas viagens de inverno, pintei, escrevi e tirei fotografias, mergulhando ao mesmo tempo nas obras de Soeren Kierkegaard. Tenho certeza de que o esforço honesto deste autor para chamar as coisas pelo seu nome me influenciou mais do que eu pensava.
4 – Quando estava prestes a regressar tive de enfrentar a minha obrigação. Lembrei-me de que conseguira por vezes iniciar durante as aulas discussões verdadeiramente significativas, exprimindo uma opinião pessoal e tentando depois compreender e aceitar as reações e os sentimentos muitas vezes extremamente divergentes dos estudos. Pensei que seria esta a forma de levar a cabo a minha tarefa em Harvard.
5 – Pus-me então a escrever, da maneira mais séria que me era possível, as minhas experiências em relação ao ensino, tal como este termo é definido nos dicionários, bem como a minha experiência com a aprendizagem. Estava muito longe dos psicólogos, dos pedagogos e de colegas cautelosos. Escrevia simplesmente o que sentia, com a certeza de que, se não o estivesse fazendo corretamente, a discussão me ajudaria a voltar ao caminho certo.
6 – É possível que houvesse ingenuidade da minha parte, mas não considerava o material assim preparado inflamável. E depois, pensava eu, todos os participantes na reunião de estudo eram cultos, professores habituados à autocrítica, ligados por um interesse comum pelos métodos de discussão nas aulas.
7 – Quando cheguei à reunião, apresentei minhas ideias tal como as tinha escrito, gastando nisso apenas alguns momentos, e declarei aberta a discussão. Aguardava uma resposta, mas não estava à espera do tumulto que se seguiu. A emoção era intensa. Parecia que eu lhes estava ameaçando o emprego, que estava, evidentemente, dizendo coisas cujo sentido me escapava, etc., etc. De vez em quando, surgia uma voz calma de apreciação de um professor que sentia o mesmo, mas que nunca ousara formulá-lo.
8 – Parecia que nenhum dos membros do grupo se lembrava de que a reunião consistia numa demonstração do ensino centrado no estudante. Tenho, no entanto, a esperança de que, ao reconsiderarem o que se passou, cada um compreenderá que viveu uma experiência do ensino centrado no aluno. Recusei defender-me com respostas às perguntas e aos ataques que surgiam de toda a sala. Procurei aceitar e entrar num contato empático com a indignação, a frustração, as críticas que os participantes manifestavam. Acentuei que tinha simplesmente expresso algumas perspectivas pessoais. Não pedia, nem esperava, que os outros concordassem comigo. Depois de muito barulho, os membros do grupo começaram a exprimir com uma franqueza crescente, seus próprios sentimentos significativos com relação ao ensino — sentimentos muito divergentes dos meus e divergentes entre si. Foi uma sessão extremamente estimulante para a reflexão. Pergunto se algum dos participantes dessa reunião conseguiu esquecê-la.
9 – O comentário mais significativo partiu de um dos participantes da reunião, na manhã seguinte, quando me preparava para deixar a cidade. Disse-me só o seguinte: “Você ontem tirou o sono de muita gente”.
10 – Não fiz qualquer tentativa para publicar esse curto fragmento. Meus pontos de vista sobre a psicoterapia já tinham feito de mim uma ‘figura controversa’ entre psicólogos e psiquiatras. Não queria acrescentar os educadores a essa lista. O texto foi, no entanto, amplamente divulgado entre os participantes da reunião e, alguns anos mais tarde, duas revistas pediram autorização para publicá-lo.
11 – Depois destes fundamentos históricos, talvez fiquem desapontados com o texto. Pessoalmente, nunca pensei que fosse incendiário. Ele continua a traduzir alguns dos meus mais arraigados pontos de vista no campo da educação.
12 – Pretendo apresentar algumas breves observações, na esperança de que, se provocarem reações de sua parte, eu possa clarificar minhas próprias ideias.
13 – Acho que pensar é uma coisa embaraçosa, particularmente quando penso nas minhas próprias experiências e procuro extrair delas a significação que parece ser genuinamente inerente a elas. A princípio, estas reflexões são bastantes satisfatórias porque parecem levar à descoberta de um sentido e de uma certa estrutura num todo complexo de elementos isolados. Mas, depois, frequentemente isso se toma desanimador porque compreendo como essas reflexões, que têm para mim tanto valor, parecem ridículas a muita gente. Tenho a impressão de que, quase sempre, quando tento descobrir o significado da minha própria experiência, me vejo levado a conclusões consideradas absurdas.
14 – Procurarei por conseguinte condensar, em três ou quatro minutos, aquilo que extraí da experiência das aulas e da experiência na terapia individual ou de grupo. O resultado não procura ser uma conclusão seja para quem for ou um guia para o que os outros deveriam ser ou fazer. Trata-se de uma expressão muito provisória do significado que, em abril de 1952, minha experiência tinha para mim e algumas das questões perturbadoras levantadas pelo seu caráter absurdo. Vou formular cada uma das idéias a que cheguei num parágrafo separado, não porque se alinhem segundo uma ordem lógica qualquer, mas porque cada resultado tem uma importância que lhe é específica.
15 – a) Posso tomar como ponto de partida a seguinte ideia, dado o objetivo dessa reunião. Segundo minha experiência, não posso ensinar a outra pessoa a maneira de ensinar. Trata-se de uma tentativa que é, para mim, a longo prazo, vã.
16 – b) Creio que aquilo que se pode ensinar a outra pessoa não tem grandes consequências, com pouca ou nenhuma influência significativa sobre o comportamento. Isto parece ato ridículo que não posso deixar de colocá-lo em dúvida ao mesmo tempo que o estou formulando.
17 – c) Compreendo cada vez melhor que apenas estou interessado nas aprendizagens que tenham uma influência significativa sobre o comportamento. É muito possível que se trate unicamente de uma idiossincrasia pessoal.
18 – d) Sinto que o único aprendizado que influencia significativamente o comportamento é o aprendizado autodescoberto, auto-apropriado.
19 – e) Um conhecimento autodescoberto, essa verdade que foi pessoalmente apropriada e assimilada na experiência, não pode ser comunicada diretamente a outra pessoa. Assim que um indivíduo tenta comunicar essa experiência diretamente, muitas vezes com um entusiasmo absolutamente natural, começa a ensinar, e os resultados disso não têm consequências. Animou-me recentemente descobrir que Soeren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, chegara a uma conclusão idêntica, partindo da sua própria experiência, e a exprimira com toda a clareza há cerca de um século. Parece portanto menos absurdo.
20 – f) Como consequência do que se disse no parágrafo anterior, compreendi que tinha perdido o interesse em ser professor.
21 – g) Quando tento ensinar, como faço às vezes, fico consternado pelos resultados, que me parecem praticamente inconsequentes, porque, por vezes, o ensino parece ser bem-sucedido. Quando isso acontece, verifico que os resultados são prejudiciais, parecem levar o indivíduo a desconfiar da sua própria experiência e isso destrói uma aquisição de conhecimentos que seja significativa. Por isso, sinto que os resultados do ensino ou não têm importância ou são perniciosos.
22 – h) Quando considero os resultados do meu ensino passado, a conclusão real parece ser a mesma — ou foi prejudicial ou nada de significativo ocorreu. Isto é francamente aflitivo.
23 – i) Por conseguinte, compreendi que estava unicamente interessado em ser um aluno, de preferência em matérias que tenham qualquer influência significativa sobre o meu próprio comportamento.
24 – j) Sinto que é extremamente compensador aprender em grupo, nas relações com outra pessoa, como na terapia, ou por mim mesmo.
25 – k) Julgo que, para mim, uma das melhores maneiras, mas das mais difíceis, de aprender é abandonar minhas defesas, pelo menos temporariamente, e tentar compreender como é que a outra pessoa encara e sente a sua própria experiência.
26 – l) Para mim, uma outra forma de aprender é confessar minhas próprias dúvidas, procurar esclarecer meus enigmas, afim de compreender melhor o significado real da minha experiência.
27 – m) Toda essa série de experiências e de conclusões a que cheguei lançaram- me num processo que tanto é fascinante como, por vezes, aterrorizador. Ou seja, parece indicar que devo me deixar levar por minha experiência numa direção que me parece positiva, para objetivos que posso definir obscuramente, quando procuro compreender pelo menos o significado normal dessa experiência. Isto dá a sensação de flutuar numa corrente complexa de experiência, com a possibilidade fascinante de compreender a complexidade das suas constantes alterações.
28 – Receio ter-me afastado do problema em discussão: aprender e ensinar. Permitam-me que volte a introduzir uma observação prática, declarando que essas interpretações da minha própria experiência, por si mesmas, podem parecer estranhas e aberrantes mas não particularmente chocantes. E é no momento em que compreendo suas implicações que estremeço um pouco ao ver o quanto me afastei do mundo do senso comum que, como todos sabem, está certo. Posso ilustrá-lo dizendo que, se a experiência dos outros for semelhante à minha e se eles tiverem chegado a idênticas conclusões, decorrerão deste fato inúmeras consequências:
29 – a) Uma tal experiência implicaria que se deveria renunciar ao ensino. As pessoas teriam de reunir-se se quisessem aprender.
30 – b) Devíamos renunciar aos exames. Eles medem apenas o tipo de ensino inconsequente.
31 – c) Pela mesma razão, deveríamos acabar com diplomas e graus acadêmicos.
32 – d) Deveríamos abandonar os diplomas como títulos de competência, em parte pela mesma razão. Outra razão reside no fato de um diploma marcar o fim ou a conclusão de alguma coisa, e aquele que aprende está unicamente interessado em continuar a aprender.
33 – e) Uma outra implicação seria abolir a exposição de conclusões, pois compreenderíamos que ninguém aprende nada de significativo a partir de conclusões.
34 – Julgo que é melhor ficar por aqui. Não quero precipitar-me no fantástico. O que sobretudo pretendo saber é se algo do meu pensamento interior, tal como tentei descrevê-lo, diz alguma coisa à vossa experiência docente tal como a tendes vivido e, se assim for, qual será para vós o significado dessa vossa experiência.
PARA ALÉM DO DIVISOR DE ÁGUAS: ONDE AGORA?
1 – Neste capítulo, trato de vários assuntos relativos à educação humanística. Seu conteúdo reúne palestras que fiz a grupos de educadores, entre 1972 e 1979. Embora enfatize os progressos inovadores que estão ocorrendo, não subestimo a tendência atual ao conservador e ao tradicional.
2 – Um dos elementos que trago à tona é a dimensão do poder presente na educação. Demorei para reconhecê-la. Passaram-se muitos anos antes que eu percebesse por que meus trabalhos e meu modo de aconselhar e ensinar foram objeto de tanta controvérsia. Somente nos últimos anos percebi o quanto meus pontos de vista foram ameaçadores. Se aceitos, eles efetivamente reduzem o poder político de terapeutas ou professores, os quais não têm mais “poder sobre” outros indivíduos. Neste capítulo, procuro tornar mais clara a ameaça — para o administrador, para o professor e até mesmo para o aluno — contida numa abordagem centrada na pessoa quando aplicada à educação.
3 – Apresento também os resultados estimulantes de pesquisas recentes que comprovam a eficácia da aplicação da visão humanista à educação. O fato de sólidos esforços de pesquisa empreendidos por David Aspy, Flora Roebuck e seus colaboradores terem passado relativamente despercebidos nos meios educacionais deixou-me intrigado. Pergunto-me se é porque eles estão fazendo um novo tipo de pesquisa ou se os resultados são, novamente, ameaçadores demais. Não sei.
4 – No final do capítulo, deixei minha imaginação vagar pelas possíveis fronteiras futuras da aprendizagem, especialmente as fronteiras da investigação. Neste momento, meus pensamentos são um tanto “ousados” e podem surpreender a alguns leitores. Mas deixarei o capítulo falar por si.
Cruzando o divisor
5 – Estou convencido de que a aprendizagem inovadora, humanística, vivencial, seja dentro ou fora da sala de aula, chegou para ficar e tem futuro. Portanto, não vou somente protestar contra o que acontece em educação. Vou também fazer prospecções. Estamos além da fronteira. Vou explicar o que quero dizer com isso.
6 – Quando os primeiros exploradores e pioneiros puseram-se a caminho do Oeste, seguiram rios e cursos d’água. Por um longo tempo, viajaram rio acima, sempre contra a corrente, que se tornava cada vez mais rápida à medida que eles subiam colinas e montanhas. Então, chegou o momento em que eles ultrapassaram o divisor hidrográfico. A caminhada ainda era muito difícil, as correntes não eram mais que filetes d’água. Mas agora eles estavam deslocando-se com a corrente, que desaguava em rios mais fortes e maiores. Havia, então, forças poderosas trabalhando para eles, não mais contra eles.
7 – Creio que é aí que nos encontramos hoje, em matéria de educação. Ultrapassamos a linha divisória das águas. Agora, ao invés de uns poucos pioneiros solitários, encontramos um fluxo crescente em direção a uma educação mais saudável para os homens. Toda cidade tem suas escolas alternativas, suas escolas livres e suas classes abertas. Ao nível universitário, recebo cartas de professores de astronomia, matemática, engenharia mecânica, francês, química, biologia, psicologia, inglês — todos contando-me os passos dados na tentativa de permitir aos alunos liberdade para aprender, e as satisfações daí advindas. Os créditos acadêmicos têm sido dados até mesmo para aprendizagens realizadas fora da escola. Há ainda outros sinais de mudança. Faço parte de um programa no qual novecentos médicos educadores têm participado de workshops sobre a humanização do ensino médico. Atualmente, estão solicitando a ajuda de consultores na consecução dessa meta em suas diversas escolas médicas. Desabrocham universidades abertas, programas de estudo autônomo, faculdades que permitem aos alunos mais autonomia. Somos uma corrente que não pode mais ser ignorada na educação americana.
A política do poder
8 – Embora uma forma humana de educação tenha chegado para ficar, seguramente ela não é o tipo de educação predominante. Portanto, gostaria de examinar os dois polos de nossos modelos educacionais e a política implícita em cada um deles.
9 – Antes de prosseguir, preciso esclarecer o que entendo pela palavra “política”. Não estou, em absoluto, pensando em partidos políticos ou organizações governamentais. Estou usando o termo em seu sentido moderno. Ouvimos falar de “política da família”, ou “política de psicoterapia”, ou “política sexual”. Nesse sentido atual, creio que a palavra “política” se refere ao poder ou controle nos relacionamentos interpessoais e à luta das pessoas para conseguir esse poder — ou para renunciar a ele. Refere-se ao modo pelo qual as decisões são tomadas. Quem as toma? Onde é o locus ou centro do poder de tomada de decisões? “Política” diz respeito aos efeitos de tais ações orientadas para o poder sobre indivíduos ou sistemas. Portanto, quando emprego o termo “política”, tenho em mente esses significados.
O modelo tradicional
10 – Quando consideramos as características políticas da educação, percebemos que o modelo tradicional situa-se num dos polos de um contínuo que tem em seu pólo oposto uma abordagem centrada na pessoa. Todo empreendimento educacional e todo educador podem ser localizados em algum ponto dessa escala. Você pode estar querendo saber onde você, ou seu departamento, ou sua instituição se encontraria, nesse contínuo.
11 – Examinemos, em primeiro lugar, a educação convencional, tal como a conhecemos há muito tempo nos Estados Unidos. Suas principais características, tanto do ponto de vista dos alunos como dos professores, são as seguintes:
12 – 1. Os professores são os possuidores de conhecimento, os alunos são os supostos recipientes. Os professores são os peritos; eles conhecem os seus campos. Os alunos sentam-se com caderno e lápis na mão, esperando pelas palavras sábias. Há uma grande diferença de status entre educadores e alunos.
13 – 2. A aula expositiva, ou outros recursos de instrução verbal, é o principal recurso para incutir conhecimentos nos recipientes. Os exames medem o quanto os alunos os adquiriram. Esses são os elementos centrais desse tipo de educação. Por que a aula expositiva é considerada o principal recurso do ensino? Para mim isto constitui um verdadeiro mistério. As aulas expositivas tinham sentido antes da publicação dos livros, mas a razão atual de sua continuidade quase nunca é explicitada. A ênfase cada vez maior nos exames também constitui um mistério. Com certeza, sua importância aumentou muito nas últimas décadas nos Estados Unidos.
14 – 3. Os professores são os detentores do poder, os alunos os que obedecem. (Os administradores também são detentores de poder e os professores e alunos os que obedecem.) O controle é sempre exercido de cima para baixo.
15 – 4. Dominar através da autoridade é a política vigente na sala de aula. Os professores novos são frequentemente avisados: “Consiga o controle de seus alunos logo no primeiro dia”. A figura da autoridade — o professor — é a figura central na educação. Ele ou ela pode ser muito admirado(a) ou menosprezado(a) como fonte de conhecimento, mas é sempre o centro.
16 – 5. A confiança é mínima. O mais surpreendente é a falta de confiança do professor em relação aos alunos. Não se espera que os alunos produzam satisfatoriamente sem a constante supervisão e fiscalização do professor. A desconfiança dos alunos para com o professor é mais difusa — uma falta de confiança nos motivos, na honestidade, na integridade, na competência do professor. Pode se estabelecer uma verdadeira relação entre um conferencista cativante e aqueles que estão sendo entretidos; pode haver admiração pelo professor, mas confiança mútua não é um componente digno de nota.
17 – 6. Os sujeitos (os alunos) são mais bem governados se mantidos num estado intermitente ou constante de medo. Atualmente não existe mais muita punição física, mas a crítica, o ridículo e o medo do fracasso, constantes nos alunos, são ainda mais potentes. Minha experiência tem-me mostrado que esse estado de medo aumenta à medida que subimos na escala educacional, pois o estudante tem mais a perder. Na escola primária, o indivíduo pode ser objeto de desprezo ou considerado burro. No secundário, a isso se acrescenta o medo de não conseguir se formar com as consequentes desvantagens vocacionais, econômicas e educacionais. Na faculdade todas essas consequências assumem proporções maiores e mais dramáticas. No nível de pós-graduação, a tutela exercida por um único professor catedrático aumenta a possibilidade de punições extremas, decorrentes de um abuso de poder. Muitos alunos pós-graduados não conseguiram obter seus títulos porque recusaram-se a obedecer ou a aceitar todas as vontades de seus professores orientadores. A posição deles assemelha-se à de um escravo, sujeito ao poder de vida e morte do seu senhor.
18 – 7. A democracia e seus valores são ignorados e desdenhados na prática. Os alunos não participam da escolha de suas metas, currículos ou estilos de estudo individuais. Escolhe-se por eles. Os alunos não tomam parte na escolha dos professores, nem têm voz na política educacional. Da mesma maneira, os professores geralmente não têm chance alguma de escolher seus diretores administrativos. Os professores, via de regra, não participam na elaboração da política educacional. Tudo isso está em surpreendente contradição com tudo o que se ensina sobre as virtudes da democracia, a importância do “mundo livre”, e outras coisas mais. As práticas políticas da escola estão na mais surpreendente contradição com o que é ensinado. Enquanto lhes é ensinado que a liberdade e a responsabilidade são gloriosas características de “nossa democracia”, os alunos se sentem impotentes, sem liberdade e sem praticamente nenhuma oportunidade para fazer escolhas ou ter responsabilidades.
19 – 8. Não há lugar para pessoas inteiras no sistema educacional, só há lugar para seus intelectos. Na escola elementar, a curiosidade impetuosa e a energia física transbordante, características da criança normal, são restringidas e, se possível, sufocadas. No ginásio e no colégio, um dos interesses oprimidos em todos os estudantes — o sexo e os relacionamentos emocionais e físicos decorrentes — é quase totalmente ignorado e certamente não é visto como uma área fundamental de aprendizado. Há muito pouco lugar para as emoções na escola secundária. Na faculdade, a situação é ainda mais extrema — apenas a mente é bem-vinda.
20 – Se vocês acham que esse panorama desapareceu ou que estou exagerando, basta recorrer ao Los Angeles Times de 13 de dezembro de 1974. Lá, veremos que a Universidade da Califórnia (incluindo todas as Universidades estatais — Berkeley, Universidade da Califórnia em Los Angeles e outras) está usando influências políticas para manter John Vasconcellos, um parlamentar estadual, afastado de qualquer comissão que se ocupe da política universitária. Vasconcellos, nos três anos precedentes, dirigiu, com distinção, um estudo legislativo sobre o ensino superior. E por que a Universidade está tentando mantê-lo à parte de tudo o que se refira à política universitária? Por causa de duas mudanças que ele defende: primeiro, ele quer destinar uma porcentagem do orçamento para programas educacionais inovadores. Os diretores universitários se opõem totalmente a isso. Mas a razão principal para esta oposição, segundo o Dr. Jay Michael, vice-presidente da Universidade, é que ele é a favor da inclusão da aprendizagem “afetiva e cognitiva”. Diz Michael: “Acreditamos… há um conhecimento independente e à parte do que uma pessoa sente.., e que o conhecimento acumulado pela espécie humana é cognitivo e pode ser transmitido, ensinado e aprendido. A pesquisa acadêmica é exatamente a busca desse tipo de conhecimento”. E continua: “Parece-nos que ele (Vasconcellos) gostaria de abandonar a aprendizagem cognitiva ou pelo menos diminuir sua importância a um nível inaceitável pela comunidade acadêmica”.
21 – Vasconcellos responde que valoriza as habilidades cognitivas, “mas também acredito que o componente afetivo, emocional.., é extremamente importante”. Ele acredita que as habilidades cognitivas deveriam vir associadas a um melhor conhecimento do eu e do comportamento interpessoal.
22 – A política dessa discordância é fascinante. O vice-presidente defende claramente a teoria “jarro e caneca” do ensino, segundo a qual o professor possui o conhecimento puramente intelectual e factual e o transfere a recipientes passivos. Dr. Michael sente-se tão ameaçado por qualquer possibilidade de mudança que se opõe a qualquer inovação nos procedimentos educacionais. Porém, mais ameaçadora do que tudo é a ideia de que os professores e os estudantes, sem distinção, são humanos, na medida em que vivenciam um componente emocional em todo conhecimento. Se isso fosse pelo menos parcialmente admitido, alunos e professores estariam numa situação de mais igualdade e a política da dominação seria enfraquecida. Essa é a posição de um alto funcionário de um dos “grandes” sistemas universitários em 1975! Ele é contrário à inovação, ele é contrário à aprendizagem da pessoa como um todo!
23 – Este quadro tradicional do ensino é extremamente comum. Tenho a certeza de que todos nós o presenciamos e o experienciamos. Agora, no entanto, ele não é mais visto como o e o único meio pelo qual o ensino pode se dar. O modo de aprendizagem humanístico, centrado na pessoa, orientado para o processo, progrediu muito. Isso justifica tentarmos descrever os aspectos característicos de tal aprendizagem em ação. Farei, a seguir, uma tentativa, sem perder de vista a política do empreendimento.
Os fundamentos de um centro de aprendizagem centrado na pessoa
24 – O primeiro aspecto fundamental é, basicamente, uma pré-condição. Os demais constituem características que podem ser vivenciadas ou observadas em qualquer escola, faculdade ou universidade onde a educação humanística tenha sido implantada.
25 – 1. Pré-condição. Os líderes, ou pessoas percebidas como representantes da autoridade na situação, são suficientemente seguras interiormente e em seus relacionamentos pessoais, de modo a confiarem na capacidade das outras pessoas de pensar, sentir e aprender por si mesmas. Quando essa pré- condição existe, os aspectos seguintes tornam-se possíveis e tendem a ser efetivados.
26 – 2. As pessoas facilitadoras compartilham com as outras — os estudantes, e se possível também os pais ou os membros da comunidade — a responsabilidade pelo processo de aprendizagem. O planejamento do currículo, o tipo de administração e de funcionamento, as finanças e a política são da responsabilidade do grupo envolvido. Assim, uma classe pode ser responsável por seu próprio currículo, mas o grupo todo pode ser responsável pela política global. Qualquer que seja o caso, a responsabilidade é sempre dividida.
27 – 3. Os facilitadores oferecem recursos de aprendizagem — de dentro de si mesmos, de suas próprias experiências, de livros ou de outros materiais ou de experiências da comunidade. Os alunos são encorajados a acrescentar recursos de que tenham conhecimento ou com os quais tenham experiência. Os facilitadores abrem as portas para recursos externos, à experiência do grupo.
28 – 4. Os estudantes desenvolvem seus próprios programas de aprendizagem, individualmente ou em cooperação. Explorando seus próprios interesses, defrontando-se com essa riqueza de recursos, cada um escolhe os caminhos que deseja percorrer no processo de aprendizagem e assume a responsabilidade pelas consequências dessas escolhas.
29 – 5. Cria-se um clima facilitador da aprendizagem. Nas reuniões da classe ou da escola como um todo, é evidente uma atmosfera de autenticidade, interesse e atenção. Esse clima pode provir inicialmente da pessoa percebida como líder. A medida que o processo de aprendizagem continua, ele é cada vez mais criado pelos próprios alunos uns em relação aos outros. Aprender uns com os outros torna-se tão importante quanto aprender nos livros e filmes ou com as experiências da comunidade.
30 – 6. O foco da aprendizagem é, primordialmente, a promoção da continuidade do processo de aprendizagem O conteúdo da aprendizagem, embora significativo, fica num plano secundário. Assim, um curso termina com sucesso não quando os alunos “aprenderam tudo o que precisam saber”, mas quando fizeram um progresso significativo na aprendizagem de como aprender o que querem saber.
31 – 7. A disciplina necessária à consecução das metas dos estudantes é a autodisciplina, e é reconhecida e aceita pelos alunos como de sua responsabilidade. A autodisciplina substitui a disciplina externa.
32 – 8. A avaliação da extensão e do significado da aprendizagem de cada aluno é feita primordialmente pelo próprio aluno, embora as auto-avaliações possam ser influenciadas e enriquecidas por um feedback cuidadoso de outros membros do grupo ou do facilitador.
33 – 9. Neste clima de promoção do crescimento, a aprendizagem tende a ser mais profunda, processar-se mais rapidamente e ser mais penetrante na vida e no comportamento dos alunos do que a aprendizagem realizada na sala de aula tradicional. Isso se dá porque a direção é auto-escolhida, a aprendizagem é auto-iniciada e as pessoas estão empenhadas no processo de uma forma global, com sentimentos e paixões tanto quanto com o intelecto. (Adiante, neste capítulo, descreverei algumas pesquisas que confirmam essa afirmação.)
A política de um ensino centrado na pessoa
34 – Talvez possamos analisar melhor as implicações políticas dessa abordagem refletindo sobre a definição dada anteriormente neste capítulo e tentando aplicá-la a este caso.
35 – Quem detém o poder e o controle básicos? Está claro que é o estudante ou os estudantes como grupo, incluindo o facilitador-aprendiz.
36 – Quem está tentando obter controle sobre quem? Os alunos vivem o processo de obtenção de controle do curso de suas próprias aprendizagens e de suas próprias vidas. O facilitador recusa-se a controlar os outros, mantendo o controle apenas sobre si mesmo.
37 – Quais as estratégias usadas em relação ao poder? Vejo duas. O facilitador propicia um clima psicológico no qual o aluno é capaz de assumir um controle responsável. O facilitador também ajuda a desenfatizar metas estáticas ou de conteúdo, encorajando assim uma centralização no processo, na vivência do modo pelo qual a aprendizagem se dá.
38 – Onde se encontra o poder de tomada de decisões? Tal poder está nas mãos do indivíduo ou indivíduos que serão afetados pela decisão. Dependendo do assunto, a escolha pode ficar a cargo de um aluno, ou dos alunos e facilitadores como grupo, ou pode envolver administradores, pais, membros do governo local ou membros da comunidade. A decisão do que aprender em um determinado curso pode estar inteiramente nas mãos de cada aluno e do facilitador. A decisão de construir um novo edifício envolve um grupo muito maior e deveria ser encaminhada desta maneira.
39 – Quem controla os sentimentos, o pensamento, o comportamento e os valores? Evidentemente, cada pessoa.
40 – Obviamente, a pessoa em crescimento, em processo de aprendizagem, é a força que detém o poder político nessa educação. O aprendiz é o centro. Esse processo de aprendizagem representa uma reviravolta revolucionária na política da educação tradicional.
Por que os educadores modificam suas políticas?
41 – O que faz com que os educadores se tornem facilitadores, afastem-se da educação convencional e aproximem-se de um tipo de aprendizagem centrada na pessoa? Em primeiro lugar, gostaria de mencionar minha própria experiência.
42 – Ao fazer aconselhamento e psicoterapia individuais, fui percebendo cada vez mais o quanto era satisfatório acreditar na capacidade do cliente para evoluir para a autocompreensão, para dar passos construtivos na resolução de seus problemas. Essas coisas aconteciam se eu criasse um clima facilitador no qual eu fosse empático, interessado e verdadeiro.
43 – Se os clientes eram dignos de confiança, por que eu não poderia criar esse mesmo tipo de clima com estudantes e estimular um processo autodirigido de aprendizagem? Essa questão me importunava cada vez mais. Então, decidi tentar na Universidade de Chicago. Esbarrei com uma grande resistência e hostilidade dos estudantes, superior às que eu vinha encontrando em clientes. Os comentários típicos eram do seguinte teor: “Pago um bom dinheiro por este curso e quero que me ensinem”, ou “Não sei o que aprender, o especialista é você”. Parte dessa resistência originava-se no fato de que há anos esses estudantes eram dependentes. Parte, acredito, era causada pelo fato de que provavelmente coloquei toda a responsabilidade na classe, ao invés de atribuí-la a todos nós. Certamente, cometi muitos erros. Algumas vezes, duvidei da sensatez do que estava tentando fazer mas, apesar da minha inabilidade, os resultados foram surpreendentes. Os alunos estudaram muito, leram em mais profundidade, expressaram-se com mais responsabilidade, aprenderam mais e puderam pensar mais criativamente do que em qualquer dos cursos anteriores. Persisti e gradualmente me aperfeiçoei como facilitador de aprendizagem. Verifiquei que não poderia mais voltar atrás.
44 – Nessa nova abordagem, fui muito encorajado pela experiência de outras pessoas. Cada vez mais professores escreviam-me, contando que estavam assumindo o risco de mudar suas abordagens, de deslocarem-se ao longo do contínuo que leva à abordagem centrada na pessoa. A experiência era muito ameaçadora para os professores que haviam ensinado da maneira convencional ou trabalhavam em escolas rígidas. Ainda assim, eles estavam descobrindo que era tão recompensador quando confiavam nos alunos que as satisfações compensavam em muito, a assustadora renúncia ao status e ao controle.
45 – À medida que eu e um número cada vez maior de outras pessoas experimentamos as satisfações decorrentes de um ensino centrado na pessoa, esse pequeno filete de educadores pioneiros acabou formando uma corrente altamente significativa nos empreendimentos educacionais atuais. Gostaria de mencionar algumas lições pessoais que aprendi a respeito desse tipo de passagem.
A ameaça
46 – Percebi gradualmente a terrível ameaça política contida na abordagem centrada na pessoa. O professor tem que enfrentar os aspectos ameaçadores da mudança de poder e de controle para todo o grupo de aprendizes, incluindo o até então professor, agora um aprendiz-facilitador. Abrir mão do poder parece aterrorizar algumas pessoas. A presença de um professor centrado na pessoa numa escola é uma ameaça para todos os outros professores.
47 – Conheço uma professora, uma perspicaz facilitadora de aprendizagem, que foi eleita pelos alunos como uma dos dois ou três melhores professores da faculdade. Ela acabou sendo demitida do corpo docente porque, repetida e decididamente, recusou-se a concordar em classificar os seus alunos segundo uma curva normal. Em outras palavras, ela recusou-se a garantir que iria reprovar uma certa porcentagem de seus alunos, independentemente da qualidade de seus trabalhos. Essa atitude foi tomada como prova de que ela não acreditava em padrões, pois na lógica circular vigente na escola convencional, os “padrões” significam, na prática, reprovar alunos. Na verdade, ela também estava dizendo: “Eu me recuso a usar as notas como instrumento de punição”. Ela não estava simplesmente derrubando os “padrões” mas enfraquecendo o poder punitivo do corpo docente. Isto representou uma ameaça tão perturbadora que eles tiveram que se livrar dela, embora embaraçados em tomar essa atitude. Este fato está longe de ser um incidente isolado. Na verdade, mostra como até mesmo um único indivíduo pode ameaçar todo um corpo docente.
48 – Uma coisa aprendi, tanto com minha experiência como com a de outras pessoas: é melhor estar com muita vontade de arriscar antes de tomar qualquer atitude que me faça desistir do controle. E melhor andar devagar, gradualmente, do que renunciar ao poder, ficar assustado e depois tentar retomá-lo: esta é a pior coisa que pode acontecer.
49 – Um segundo ponto a ser levado em conta é que a responsabilidade por si mesmos é tão assustadora para muitos estudantes quanto é assustador para o professor lhes dar esta oportunidade. Muitos estudantes que exigem ruidosamente mais liberdade, ficam totalmente confusos e sem ação quando se veem diante da possibilidade de uma liberdade responsável. Não estão preparados para escolher, para errar e arcar com as consequências, para suportar o caos da incerteza quando se propõem a escolher os caminhos que desejam seguir. Precisam do companheirismo e da compreensão do facilitador à medida que procuram juntos novos caminhos. Precisam de uma atmosfera de apoio que lhes permita errar e ainda assim se aceitarem e que lhes permita serem bem-sucedidos sem se sentirem competitivos.
50 – Os administradores também precisam da nossa compreensão. Numa cultura como a nossa que só entende o controle de cima para baixo, eles temem ser considerados fracos se confiarem nos professores, alunos e pais e colocarem o poder de tomada de decisões em suas mãos.
51 – E, no entanto, isto pode ser feito de forma estimulante e satisfatória, como o demonstraram as experiências realizadas em algumas escolas e alguns sistemas de ensino.
52 – Em suma, é preciso reconhecer que a transformação em direção a um ensino humanístico e centrado na pessoa constitui uma revolução em larga escala. Não se trata de simplesmente melhorar o ensino convencional. Mais que isso, envolve uma transformação radical na política educacional. Precisamos reconhecer esse fato. Gosto de me considerar um revolucionário pacífico. Há muitos professores incluídos nesta categoria. Precisamos encarar a sóbria responsabilidade desta nova política enquanto nos movimentamos com coragem e trabalho árduo em direção à realização da nossa visão revolucionária. Estamos trabalhando para uma democracia no ensino que atinja as suas raízes. Esta meta justifica todo o nosso esforço.
Questões pessoais
53 – O fato de termos cruzado o divisor de águas, de que não é mais suficiente ser simplesmente contra, traz consigo novas perplexidades para o educador. Suscita novos problemas relativos à política interpessoal na educação. Os professores ou administradores que estão se dirigindo para um ensino humanístico inovador estão se fazendo uma série de perguntas difíceis:
54 – Em que medida eu, lá no fundo, confio que os estudantes, num clima facilitador, possam se autodirigir? O que faço com a ambivalência que costumo sentir a esse respeito?
55 – Onde encontrarei satisfação? Será que preciso de satisfação imediata para o meu ego faminto? Ou será que posso encontrar recompensas para o meu ego no fato de ser um facilitador do desenvolvimento de outros?
56 – Como evitar me tomar um “devoto” rígido e dogmático da educação humanística? O “devoto” intolerante é uma ameaça a qualquer área, embora suspeite que todos nós tenhamos algumas dessas características. Acredito que tenho o melhor e definitivo método de ensino? Caso positivo, como superar esta posição?
57 – Como manter minha integridade e ao mesmo tempo manter uma posição num sistema filosoficamente oposto ao que estou fazendo? Trata-se de um problema extremamente difícil com que geralmente nos defrontamos.
58 – Não posso responder a essas perguntas. Cada educador deve achar sua própria resposta de uma forma pessoal, individual.
Há provas?
59 – Falei da superioridade da abordagem centrada na pessoa em educação, e certamente o leitor percebeu que sou viesado nesse sentido. Há alguma evidência que justifique essa pretensão e essa atitude? A resposta é sim. Há, sem dúvida, um corpo sólido de evidências.
60 – As pesquisas de David Aspy e seus colaboradores no Consórcio Nacional de Educação Humanizada estão apenas começando a ser conhecidas, mas as considero muito importantes. Por vários anos, Aspy coordenou uma série de pesquisas que tinham por objetivo verificar se uma sala de aula com características humanistas, centrada na pessoa, tinha efeitos passíveis de mensuração e, caso positivo, quais eram esses efeitos. Ele e sua principal colaboradora, Flora Roebuck, publicaram um relatório geral de seus resultados (1974a); com outros colaboradores, também escreveram uma série de relatórios técnicos de suas pesquisas (1974b).
61 – Como ponto de partida, Aspy tomou a hipótese básica que formulamos na terapia centrada no cliente, redefinindo um pouco os termos para aproximá-los do contexto escolar. A empatia (E) foi redefinida como a tentativa do professor de compreender o significado pessoal da experiência escolar para cada aluno. A aceitação positiva (AP) foi definida como as várias maneiras pelas quais o professor mostra respeito pelos alunos como pessoas. A congruência (C) não precisou ser redefinida: referiu-se à extensão na qual o professor é genuíno no relacionamento com os alunos.
62 – Inicialmente, o método consistiu em gravar horas de aulas. Foram desenvolvidas escalas de avaliação, que variavam de níveis baixos a níveis altos, dos diversos graus dessas três atitudes básicas, tal como se manifestavam no comportamento do professor. Baseando suas mensurações nessas três escalas, juízes não viesados mediram as “condições facilitadoras” exibidas por cada professor. Estas medidas foram então correlacionadas com os resultados obtidos pelos alunos em instrumentos como testes de aproveitamento, capacidade de solução de problemas, número de faltas às aulas e um grande número de outras variáveis.
63 – Uma vez estabelecida uma metodologia, os pesquisadores a aplicaram a uma escala previamente desconhecida. O relatório final revela que eles gravaram e avaliaram cerca de 3.700 horas de aula de 550 professores de escola primária e secundária! Estes estudos foram feitos em várias partes dos Estados Unidos e em vários outros países. Envolveram professores e alunos negros, brancos e mexicano-americanos. Nenhum outro estudo de magnitude comparável foi realizado até então. Os resultados obtidos por Aspy e seus colaboradores podem ser assim resumidos:
64 – 1. Houve uma nítida correlação entre as condições facilitadoras fornecidas pelo professor e o aproveitamento acadêmico dos alunos. Este resultado foi confirmado várias vezes. Os alunos dos professores de “alto grau” (os considerados “altos” quanto às condições de facilitação) tenderam a apresentar os melhores resultados na aprendizagem. Um fato digno de nota foi que os alunos dos professores de “baixo grau” podem, na verdade, ter sua aprendizagem prejudicada pelas deficiências do professor.
65 – 2. A situação mais favorável à aprendizagem foi aquela na qual os professores que mostravam altos graus de atitudes facilitadoras eram aprovados e supervisionados por diretores que também eram facilitadores de alto grau. Sob estas condições, os alunos apresentaram maior aproveitamento, não só nas matérias escolares, como também em outras áreas importantes.
Tornaram-se mais capazes de usar seus processos cognitivos mais elevados, tal como a capacidade de solução de problemas. (Isto ocorreu principalmente quando o professor apresentava um alto grau de aceitação e de respeito. A solução criativa de problemas evidentemente requer um clima facilitador.)
Seu autoconceito tornou-se mais positivo do que o de alunos de outros grupos.
Mostraram-se mais ativos em sala de aula.
Apresentaram menos problemas de disciplina.
Apresentaram um índice menor de faltas na escola.
Num estudo interessante, eles apresentaram até mesmo um aumento no QI. Neste estudo, vinte e cinco alunos negros de primeiro grau com professores de “alto grau” e vinte e cinco com professores de “baixo grau” foram submetidos a testes individuais de inteligência, a um intervalo de nove meses. O primeiro grupo revelou um aumento médio de QI de 85 para 94. No segundo grupo, os números foram 84 e 84 — não houve qualquer mudança.
66 – 3. Os professores podem melhorar seu nível enquanto facilitadores, com um treinamento intensivo bem planejado de 15 horas, que inclua experiências cognitivas e vivências. Considerando-se a influência comprovada desse tipo de atitude, é extremamente importante saber que ela pode ser aumentada.
67 – 4. O fato de que os professores apresentam melhoras nessas atitudes somente quando seus instrutores também as apresentam em alto grau é significativo para todas as áreas educacionais. Isto significa que tais atitudes “passam”, vivencialmente, de uma pessoa para outra. Não se resumam a conhecimentos intelectuais.
68 – 5. Os professores com alto grau de condições facilitadoras geralmente possuem outras características, tais como:
Seu autoconceito é mais positivo do que o dos professores com baixo grau de facilitação.
Revelam-se mais a seus alunos.
Respondem mais aos sentimentos dos alunos.
Fazem mais elogios.
São mais receptivos às ideias dos alunos.
Dão menos aulas expositivas.
69 – 6. Esses dados não variam em virtude de localização geográfica das escolas, da raça do professor ou da composição racial do corpo discente. Não importa se estamos falando de professores negros, brancos ou chicanos; de alunos negros, brancos ou chicanos; de classes no Norte, no Sul, nas Ilhas Virgens, na Inglaterra, no Canadá ou em Israel, os dados são essencialmente os mesmos. Aspy e Roebuck (l974a), após analisarem a enorme quantidade de dados colhidos, concluem o seguinte:
70 – Os resultados confirmam nossos dados iniciais, embora tenhamos podido burilá-los muito. Isto significa que as medidas das condições (E, C, AP) continuam a se relacionar positiva e significativamente com o desenvolvimento do aluno. Além disso, relacionam-se negativa e significativamente com a deterioração dos alunos, como por exemplo, com problemas de disciplina e atitudes negativas em relação à escola.
71 – Para mim, esses estudos comprovam, de maneira convincente, que quanto mais o clima psicológico da sala de aula for centrado na pessoa, mais a aprendizagem vital e criativa é incentivada. Esta firmação vale tanto para classes da escola primária como para a secundária. Necessita ainda ser investigada a nível da universidade, embora não haja razão para se supor que os resultados seriam muito diferentes. Assim, acredito ter deixado clara minha convicção de que a educação centrada na pessoa pode ser definida e é eficiente.
Uma possível ênfase da pesquisa
72 – Não sou tão ousado a ponto de prever o futuro desse novo modo de promoção da aprendizagem, a não ser para dizer que seu futuro terá consequências multifacetadas estimulantes, controvertidas e revolucionárias. No entanto, gostaria de expressar duas esperanças em relação a esse futuro.
73 – A primeira refere-se à pesquisa necessária a um maior conhecimento desta nova maneira de aprender. Acho que será um grande erro enfatizar a avaliação dos resultados de uma aprendizagem vivencial autodirigida. Neste sentido, gostaria de me valer de minha experiência de pesquisa em psicoterapia.
74 – Os terapeutas centrados no cliente foram pressionados — exatamente como os educadores inovadores o são atualmente — a provar que a nossa abordagem psicoterápica era eficiente. Gradualmente fomos realizando pesquisas cada vez mais sofisticadas para avaliar os resultados. Mas enquanto o único objetivo da pesquisa era esse, os resultados, embora mostrassem a eficiência do processo, eram sempre decepcionantes. Descobrimos, como poderia ter sido previsto, que alguns clientes eram mais bem-sucedidos que outros e que alguns terapeutas eram mais eficientes do que outros. Mas os estudos de avaliação não são heurísticos, não permitem progredir. Praticamente não oferecem pistas quanto aos elementos que precisamos conhecer para melhorar a terapia ou para entender o seu processo. Somente quando desenvolvemos hipóteses do tipo “se-então” é que pudemos começar a discernir que se certos elementos estavam presentes no relacionamento, então ocorriam determinadas mudanças construtivas. Se outros elementos estivessem presentes, as mudanças poderiam levar a uma deterioração ou a uma desintegração do comportamento.
75 – Esta é uma das razões pelas quais descrevi com tantos detalhes a pesquisa de Aspy. Pessoalmente, espero que a pesquisa caminhe nessa direção. Partindo de uma teoria bem desenvolvida do tipo “se-então”, Aspy investigou as relações entre elementos atitudinais antecedentes e uma grande diversidade de variáveis relativas aos resultados. Portanto, ele conseguiu, com seus dados, detectar os elementos que tinham um efeito positivo sobre a aprendizagem e os que tinham uma influência negativa. Consequentemente, o resultado final não foi apenas uma avaliação da aprendizagem, mas uma detecção pormenorizada de pontos específicos que deveriam ser enfatizados no treinamento de professores. A seguir, Aspy foi além, mostrando que através de treinamento os professores podem progredir nestas características específicas.
76 – Assim, espero que a pesquisa sobre o ensino inovador deixe em segundo plano a avaliação e privilegie hipóteses baseadas em teorias que nos permitam compreender as condições antecedentes associadas à eficiência ou ineficiência desse ensino.
Exploração do espaço interno?
77 – Até agora, senti-me, não sei se certo ou errado, bastante seguro a respeito do que falei. Agora é com alguma apreensão que gostaria de expressar uma segunda esperança, ainda não muito bem formulada em minha mente e indefinida em suas linhas gerais.
78 – Creio que a próxima grande fronteira da aprendizagem, a área na qual estaremos explorando novas possibilidades interessantes é uma região pouco mencionada pelos pesquisadores obstinados. E a área do intuitivo, do psíquico, do vasto espaço interior que se delineia à nossa frente. Espero que a educação inovadora se mova em direção à aprendizagem neste domínio basicamente não-cognitivo, nesta área que geralmente parece ilógica e irracional.
79 – Dispomos de evidências cada vez maiores, que não podem ser ignoradas, da existência de capacidades e potenciais da psique quase ilimitados e que estão praticamente fora do campo da ciência, pelo menos como a temos concebido. Parece óbvio, por exemplo, que um indivíduo que flutua num tanque de água morna, sem praticamente qualquer estimulação visual, auditiva, tátil, gustativa ou olfativa, não está experienciando nada. Mas o que acontece realmente? Um indivíduo nessas condições está sendo bombardeado por ricas imagens visuais, alucinações, sons imaginários e todo o tipo de experiências bizarras e provavelmente assustadoras, vindas de fontes desconhecidas de estimulação interna. O que isto significa? Parece que em nosso mundo interior está sempre ocorrendo algo que absolutamente não conhecemos, a não ser que eliminemos os estímulos externos.
80 – Ou, uma outra questão, um outro aspecto para se investigar: o corpo como um todo, o organismo total pode aprender algo que a mente não conheça, ou só aprende mais tarde? O que dizer dos relatórios bem fundamentados sobre a comunicação telepática entre os membros da tribo Masai, na Africa, bem como em outras tribos chamadas primitivas? Será que nossa civilização ocidental esqueceu o que eles sabem? Será que podemos saber, como eles parecem saber, quando estamos sintonizados com a pulsação do mundo? No livro clássico de Walters (1942), The Man Who Kiled the Deer, encontramos um relato de ficção, mas próximo da realidade, sobre essas capacidades. Creio que precisamos aprender mais a respeito de nossas capacidades intuitivas, nossa capacidade de sentir todo o nosso organismo.
81 – Um amigo meu está escrevendo um livro sobre sonhos parapsicológicos, após ter reunido e estudado vários desses sonhos. Por “sonho parapsicológico” entende-se um sonho sobre um acontecimento real que ocorre à distância do sonhador, sem que este tenha tido qualquer informação prévia a respeito, um sonho pré-cognitivo, que prevê um acontecimento que realmente ocorre. Por exemplo, uma conhecida minha teve um sonho (ou uma visão) no qual um parente seu estava prestes a morrer, num leito hospitalar no estrangeiro. Um telefonema confirmou que era verdade — o sonho correspondeu ao fato. Uma outra conhecida minha recebeu uma mensagem através da tabua de Ouija que previa “morte próxima”. A mensagem era ambígua quanto à pessoa, mas fornecia a data em que ocorreria a morte. Após dois dias da data prevista, seu irmão faleceu num acidente automobilístico.
82 – Acredito que muitas pessoas tenham tais sonhos ou pré-cognições, mas sistematicamente os deixamos fora da consciência. Mas se nós, ou alguns de nós, temos tais capacidades e habilidades pouco conhecidas, elas deveriam constituir um campo privilegiado de pesquisa.
83 – Não vou mais insistir no meu ponto de vista. Diria apenas que todo esse mundo intuitivo e psíquico está se abrindo a uma investigação séria e reflexiva. A revisão acadêmica sobre a intuição, realizada por Frances Clark (1973) e a cuidadosa pesquisa empreendida pelo Dr. Grof (1975) sobre as experiências internas, enigmáticas e desafiantes de indivíduos sob o efeito do LSD são dois exemplos disso. Há várias razões para se considerar as experiências internas dos indivíduos como um campo tão vasto e misterioso para a pesquisa quanto as incríveis galáxias e os “buracos negros” do espaço celeste. Estou simplesmente expressando a esperança de que educadores e alunos inovadores tenham a coragem, a criatividade e a capacidade de penetrar nesse mundo do espaço interior e de compreendê-lo.
Conclusão
84 – Tentei fazer um rápido levantamento dos novos aspectos que estão sendo e serão enfrentados por um ensino humano e inovador, à medida que ele se impuser como uma força social fundamental. Defini esta nova abordagem centrada na pessoa à aprendizagem como a percebo e a contrastei com a abordagem tradicional. Esquematizei algumas das maneiras pelas quais o educador está sendo e será desafiado, à medida que a educação inovadora se desenvolver.
85 – Geralmente não se discute a ameaça política às instituições que este progresso traz. Neste aspecto, enfatizei a enorme ameaça que a educação inovadora traz ao poder estabelecido.
86 – No campo da pesquisa, apresentei alguns dados recentes, muito pouco conhecidos, e também expressei a esperança de que a continuação da pesquisa não se limite à avaliação, mas procure diligentemente por relações do tipo se-então.
87 – Finalmente, aventei a possibilidade de que a próxima grande fronteira da aprendizagem esteja relacionada com as capacidades menos valorizadas na cultura ocidental — nossos poderes intuitivos e psíquicos.
Referências bibliográficas
Aspv, D. N. e Roebuck, F. N. From humane ideas to humane technology and back again many times. Education. Winter 1974a, 95(2), 163-171.
Aspy, D. N.; Roebuck, F. N. e col. Interim reports 1, 2, 3, 4. Monioe, Louisiana: National Consortium for Humanizing Education, 1974b.
Clark, F. V. Exploring intuition: Prospects and possibiities. Journal of Tranrpersonal Psychology, 1973, 5(2), 156-170.
Grof, S. Realmx ofthe human unconscious: Observationsfrom LSD reyearch.
New York: Viking Press, 1975.
Waters, F. The man who killed the deer. Chicago: Sage Books, The Swallow Press, 1942.
QUESTÕES SOBRE OS TEXTOS DE ROGERS
01 – No texto “Reflexões pessoais sobre ensinar e aprender”, Carl Rogers – quase 20 anos antes de Ivan Illich – chegou a conclusões surpreendentes sobre o papel negativo, para a aprendizagem, do ensino, dos diplomas e dos graus acadêmicos. Eis as quatro primeiras conclusões de Rogers: “(1) Devíamos renunciar ao ensino. As pessoas teriam de reunir-se se quisessem aprender. (2) Devíamos renunciar aos exames. Eles medem apenas o tipo de ensino inconsequente. (3) Pela mesma razão, deveríamos acabar com diplomas e graus acadêmicos. (4) Deveríamos abandonar os diplomas como títulos de competência, em parte pela mesma razão. Outra razão reside no fato de um diploma marcar o fim ou a conclusão de alguma coisa, e aquele que aprende está unicamente interessado em continuar a aprender”. Será que Rogers estava passando (na época em que foram coligidas as notas sobre suas falas em um encontro de docentes ocorrido 1952 em Harvard) por um ponto de inflexão na sua reflexão psicopedagógica e suas opiniões radicais foram fruto daquele momento que, obviamente, não puderam ser sustentadas com coerência depois dos anos 80 (nem por ele mesmo, nem, provavelmente, pelos professores que participaram do encontro que gerou o texto)? Rogers estava criticando o ensino ministrado por instituições tradicionais (que ainda remanesciam em meados do século passado) e não o ensino em si (o que seria um absurdo)? No fundamental a crítica de Rogers (1952) antecipa em quase tudo a de Illich (1970): deve-se renunciar ao ensino porque ele dificulta a aprendizagem, sobretudo o ensino que é parte do processo de escolarização: com exames, diplomas e graus acadêmicos?
02 – No texto “Para além do divisor de águas: onde agora?”, Carl Rogers (1980) constata que “A democracia e seus valores são ignorados e desdenhados na prática. Os alunos não participam da escolha de suas metas, currículos ou estilos de estudo individuais. Escolhe-se por eles. Os alunos não tomam parte na escolha dos professores, nem têm voz na política educacional. Da mesma maneira, os professores geralmente não têm chance alguma de escolher seus diretores administrativos. Os professores, via de regra, não participam na elaboração da política educacional. Tudo isso está em surpreendente contradição com tudo o que se ensina sobre as virtudes da democracia, a importância do “mundo livre”, e outras coisas mais. As práticas políticas da escola estão na mais surpreendente contradição com o que é ensinado. Enquanto lhes é ensinado que a liberdade e a responsabilidade são gloriosas características de “nossa democracia”, os alunos se sentem impotentes, sem liberdade e sem praticamente nenhuma oportunidade para fazer escolhas ou ter responsabilidades”. Rogers não estaria confundindo um modo de regulação de conflitos baseado na liberdade de opinião – a democracia – que deve reger a esfera política (no espaço público) com o funcionamento de instituições voltadas ao conhecimento (como as escolas), onde não teria cabimento adotar os mesmos procedimentos democráticos baseados na livre opinião? Rogers não tem razão ao confundir conhecimento (episteme) com opinião (doxa), do contrário os que sabem (possuem o conhecimento que deve ser transmitido) estariam equalizados aos que não sabem (e que só estão na escola porque não podem, sozinhos, ter acesso a tal conhecimento a partir de suas próprias opiniões) e a escola seria então desnecessária (o que é refutado pela experiência de todos os países em todas as épocas)? Você acha que Rogers está correto, pois a democracia não penetrou na escola, que permanece sendo uma organização meritocrática (quer dizer, autocrática) baseada na separação de corpos (docente x discente, tendo os docentes poderes regulatórios aumentativos em relação aos discentes e sendo essa distinção baseada no maior conhecimento dos primeiros em relação aos segundos)?
03 – No texto “Para além do divisor de águas: onde agora?” Rogers escreve que “o foco da aprendizagem é, primordialmente, a promoção da continuidade do processo de aprendizagem. O conteúdo da aprendizagem, embora significativo, fica num plano secundário. Assim, um curso termina com sucesso não quando os alunos ‘aprenderam tudo o que precisam saber’, mas quando fizeram um progresso significativo na aprendizagem de como aprender o que querem saber”. Será que colocar o conteúdo da aprendizagem num plano secundário, como ele propõe, não é muito arriscado? Se uma política pública de educação levasse isso a sério o país onde tal política fosse adotada não ficaria atrasado em relação aos demais, prejudicando o desenvolvimento e o bem-estar geral da sua população?
Você acha que Rogers está certo, pois aprender a aprender é o fundamental no processo educativo e não receber um conteúdo? Se o conteúdo não for o principal o professor perde completamente a sua função de selecionar e/ou transmitir os “bons conteúdos” (ou seja, ensino) e vira um mero facilitador de experiências de livre aprendizagem, função essa que pode ser desempenhada por qualquer um, concorda?
04 – No texto “Para além do divisor de águas: onde agora?” Rogers escreve que “aprender uns com os outros torna-se tão importante quanto aprender nos livros e filmes ou com as experiências da comunidade”. Essa parece ser uma experiência alterdidata (ou seja, pessoas aprendendo umas com as outras; diferente do ensino heterodidata, onde uns ensinam e os outros são ensinados). Na sua opinião isso é factível ou viável? Pode ser factível e viável, mas haveria um limite no que se pode aprender com o outro do mesmo nível educacional? O que ele propõe é inviável: se fosse possível desenhar uma educação onde todos aprendem com seus pares, o imenso esforço civilizatório de adquirir mais conhecimentos para compartilhar com os semelhantes seria inútil, certo? É viável e plenamente factível, ainda que o alterdidatismo nunca vá substituir completamente o autodidatismo e o heterodidatismo (quer dizer, o ensino)? É factível e viável e a tendência é que o alterdidatismo e o autodidatismo cresçam em relação ao heterodidatismo?
05 – Nos estudos de Aspy, a proposta de educação centrada no aluno mantém como objetivo o melhor aproveitamento acadêmico dos alunos. Segundo as evidências trazidas por sua pesquisa, quando os professores conseguem manifestar em alto grau as atitudes facilitadoras descritas (empatia, aceitação, congruência), os alunos apresentam melhores resultados na aprendizagem, tanto nas áreas escolares como em outras áreas. Diante dos elementos trazidos por Carl Rogers isso poderia ser considerado uma proposta de educação verdadeiramente inovadora? Sim, porque o treino para essas atitudes tem a vantagem de humanizar as relações? Não, pois enquanto se mantiverem os objetivos de transmissão e reprodução de conteúdos e comportamentos, quaisquer que sejam eles, a transformação consistirá apenas em uma adaptação das formas convencionais de educação visando a uma maior eficiência? É possível dizer que os estudos de Aspy, se aplicados sem que os objetivos da educação sejam revistos, podem tornar a educação ainda mais prejudicial à aprendizagem pelo fato de potencializarem o ensino? Não é possível responder a esta questão devido a uma contradição interna ao pensamento de Rogers: ao mesmo tempo em que ele acredita que para ser inovadora a educação deve prescindir do ensino, ele admite que a transformação deve ser gradual, passando pelo próprio ensino?
ILLICH
Illich, Ivan (1970). Sociedade sem escolas. Petrópolis: Vozes, 1985.
DESESCOLARIZANDO A SOCIEDADE
Em Deschooling Society (1970), Ivan Illich levanta os pontos críticos fundamentais para a desescolarização da sociedade: uma reinvenção da educação (não uma simples reforma da escola, que mais não faria senão reproduzir a sociedade escolarizada, e sim a sua desinstalação). As citações (quotes) estão aqui organizadas em sete categorias:
1 – Escola
2 – Escolarização
3 – Ensino
4 – Currículo obrigatório e currículo oculto da escolarização
5 – Certificados e diplomas
6 – Professor
7 – Redes (teias) de aprendizagem
1 – ESCOLA
1.1 – Definirei… a «escola» como um processo que requer assistência de tempo integral a um currículo obrigatório, em certa idade e com a presença de um professor.
1.2 – As escolas estão baseadas na suposição de que há um segredo para tudo nesta vida; de que a qualidade da vida depende do conhecimento desse segredo; de que os segredos só podem ser conhecidos em passos sucessivos e ordenados; de que apenas os professores sabem revelar corretamente esses segredos. Um indivíduo de mentalidade escolarizada concebe o mundo como uma pirâmide, composta de pacotes classificados; a eles só têm acesso os que possuem os rótulos adequados.
1.3 – A simples existência de escolas desencoraja e incapacita os pobres de assumirem o controle da própria aprendizagem. Em todo o mundo a escola tem um efeito anti-educacional sobre a sociedade: reconhece-se a escola como a instituição especializada em educação. Os fracassos da escola são tidos, pela maioria, como prova de que a educação é tarefa muito dispendiosa, muito complexa, sempre misteriosa e muitas vezes quase impossível. A escola se apropria de dinheiro das pessoas e da boa vontade disponível, para então desencorajar outras instituições a que assumam tarefas educativas. O trabalho, o lazer, a política, a vida na cidade e mesmo a vida familiar dependem da escola, por causa dos hábitos e conhecimentos que pressupõem, em vez de converterem-se nos meios de educação. E ainda, tanto as escolas como as outras instituições que dela dependem atingem custos vultosos.
1.4 – A sabedoria institucionalizada nos diz que as crianças precisam de escola. A sabedoria institucionalizada nos diz que as crianças aprendem na escola. Mas esta mesma sabedoria institucionalizada é produto de escolas, pois o sadio senso comum nos diz que apenas as crianças podem ser instruídas na escola. Somente pela segregação dos seres humanos na categoria infantil conseguimos submetê-los à autoridade de um professor escolar.
1.5 – A existência de escolas produz a demanda pela escolarização. Uma vez que aprendemos a necessitar da escola, todas as nossas atividades vão assumir a forma de relações de cliente com outras instituições especializadas. Uma vez que o autodidata foi desacreditado, toda atividade não profissional será suspeita. Aprendemos na escola que toda aprendizagem profícua é resultado da frequência, que o valor da aprendizagem aumenta com a quantidade de insumo (input) e, finalmente, que este valor pode ser mensurado e documentado por títulos e certificados.
1.6 – Na realidade, a aprendizagem é a atividade humana menos necessitada de manipulação por outros. Sua maior parte não é resultado da instrução. É, antes, resultado de participação aberta em situações significativas. A maioria das pessoas aprende melhor estando «por dentro»; mas a escola faz com que identifiquemos nosso crescimento pessoal e cognoscitivo com o refinado planejamento e manipulação. Quando um homem ou uma mulher aceitou a necessidade da escola, torna-se fácil presa para outras instituições. Quando os jovens permitiram que sua imaginação fosse formada pela instrução curricular, estão condicionados ao planejamento institucional de qualquer espécie. A «instrução» lhes turva o horizonte da imaginação. Não podem ser traídos, mas apenas ludibriados, porque lhes foi ensinado que substituíssem a esperança pelas expectativas. Não mais se surpreenderão, para o bem ou para o mal, com outras pessoas, porque lhes foi ensinado o que esperar dos outros que receberam os mesmos ensinamentos que eles. Isto se refere tanto às outras pessoas quanto às máquinas. Esta transferência de responsabilidade do eu para a instituição acarreta regressão social, sobretudo quando foi aceita como obrigação. Assim, os que se rebelam contra a Alma Mater muitas vezes acabam fazendo parte dela, em vez de tomar coragem e contaminar os outros com seus ensinamentos pessoais e assumir a responsabilidade pelas consequências. Isto sugere a possibilidade de uma nova história de Édipo — Édipo, o Professor, que «faz» sua mãe para engendrar filhos com ela. O homem viciado em receber ensinamentos busca sua segurança no ensino compulsivo. A mulher que experimenta seu conhecimento como resultado de um processo quer reproduzi-lo nos outros.
1.7 – As escolas são fundamentalmente semelhantes em todos os países, sejam fascistas, democráticos ou socialistas, pequenos ou grandes, ricos ou pobres. Esta identidade do sistema escolar nos força a reconhecer a profunda identidade universal do mito, o modo de produção e o método de controle social, apesar da grande variedade de mitologias em que o mito é expresso. Em vista dessa identidade, é ilusório dizer que as escolas são, num sentido mais profundo, variáveis dependentes. Isto significa que também é ilusão esperar que a mudança fundamental no sistema escolar ocorra como consequência da mudança econômica ou social convencional. Ao contrário, esta ilusão concede à escola — o órgão reprodutor de uma sociedade de consumo — uma imunidade quase inquestionável.
2 – ESCOLARIZAÇÃO
2.1 – Desejo levantar uma questão de ordem geral, isto é, a definição comum de natureza humana e a natureza das modernas instituições que caracterizam nossa mundividência e linguagem. Para isso, escolhi a escola como paradigma. E só abordarei indiretamente outras instituições burocráticas do Estado: a família-consumidora, o partido, o exército, a igreja, os meios de comunicação. Minha análise do secreto currículo escolar poderá evidenciar que a educação pública tiraria proveito da desescolarização da sociedade; da mesma forma que a vida familiar, a política, a segurança, a fé e as comunicações tirariam proveito de processo análogo.
Começo minha análise, neste primeiro ensaio, tentando mostrar o que a desescolarização de uma sociedade escolarizada poderia significar. Neste contexto será mais fácil compreender minha escolha dos cinco aspectos específicos pertinentes a este processo dos quais tratarei nos capítulos subsequentes.
Não apenas a educação, mas também a própria realidade social tornou-se escolarizada. Dá quase na mesma escolarizar pobres e ricos nas mesmas dependências. O gasto anual por aluno seja numa favela ou em rico subúrbio de qualquer cidade dos Estados Unidos está na mesma proporção, sendo às vezes favorável às favelas.
Pobres e ricos dependem igualmente de escolas e hospitais que dirigem suas vidas, formam sua visão de mundo e definem para eles o que é legítimo e o que não é. O medicar-se a si próprio é considerado irresponsabilidade; o aprender por si próprio é olhado com desconfiança; a organização comunitária, quando não é financiada por aqueles que estão no poder, é tida como forma de agressão ou subversão. A confiança no tratamento institucional torna suspeita toda e qualquer realização independente. O progressivo subdesenvolvimento da autoconfiança e da confiança na comunidade é mais acentuado em Westchester do que no Nordeste do Brasil. Em toda parte, não apenas a educação, mas a sociedade como um todo precisa ser «desescolarizada».
2.2 – A desescolarização da sociedade implica um reconhecimento da dupla natureza da aprendizagem. Insistir apenas na instrução prática seria um desastre; igual ênfase deve ser posta em outras espécies de aprendizagem. Se as escolas são o lugar errado para se aprender uma habilidade, são o lugar mais errado ainda para se obter educação. A escola realiza mal ambas as tarefas; em parte porque não sabe distinguir as duas. A escola é ineficiente no ensino de habilidades, principalmente, porque é curricular. Na maioria das escolas, um programa que vise a fomentar uma habilidade está sempre vinculado a outra tarefa que é irrelevante. A história está ligada ao progresso na matemática; e a assistência às aulas, ao direito de usar o campo de jogos.
2.3 – Congregar pessoas de acordo com seus interesses sobre determinado assunto é muitíssimo fácil. Permite a identificação simplesmente à base do mútuo desejo de discutir uma afirmação feita por uma terceira pessoa, e deixa a iniciativa de combinar o encontro ao indivíduo. Levantam-se normalmente três objeções contra essa minha sugestão, que ainda está em estruturação. Vou apresentá-las não só para esclarecer a teoria subjacente à sugestão — porque elas ilustram a arraigada resistência à desescolarização da educação e à separação da aprendizagem do controle social — mas também porque podem ajudar a sugerir recursos existentes e que não são atualmente usados para fins de aprendizagem.
2.4 – A partir de Bonhoeffer, os teólogos contemporâneos chamaram a atenção para a confusão hoje existente entre a mensagem bíblica e a religião institucionalizada. Apelam para a experiência quando dizem que a liberdade cristã e a fé, geralmente, tiram proveito da secularização. Suas afirmações, evidentemente, soam blasfemas para certos eclesiásticos. Sem dúvida, o processo educacional se beneficiará da desescolarização da sociedade, mesmo que esta exigência soe para muitos escolarizantes como traição ao iluminismo. Mas é o próprio iluminismo que está sendo extinguido nas escolas.
A secularização da fé cristã depende da dedicação que a ela têm os cristãos enraizados na Igreja. De forma algo semelhante, a desescolarização da educação depende da liderança dos que foram criados nas escolas. Não podem servir-se do currículo como álibi para a tarefa: cada um de nós permanece responsável pelo que foi feito dele, mesmo que nada mais possa fazer do que aceitar sua responsabilidade e servir como advertência aos outros.
2.5 – A frequência escolar preserva as crianças do mundo cotidiano da cultura ocidental e as mergulha num ambiente bem mais primitivo, mágico e muito sério. A escola não poderia criar tal ambiente em que as normas da realidade comum ficam suspensas, a não ser mediante o encarceramento dos jovens em recinto sagrado durante muitos anos sucessivos. A lei da frequência obrigatória possibilita à sala de aula servir de ventre mágico, donde a criança é libertada periodicamente, ao final do dia ou ao findar do ano escolar, até que seja, finalmente, expelida para a vida adulta. A infância universal e a atmosfera carregada das salas de aula não poderiam existir sem a escola. No entanto, as escolas como canais compulsórios da aprendizagem poderiam existir sem ambas e ser mais repressivas e destrutivas que qualquer coisa que conhecêssemos. Para entender o que isso significa para a desescolarização da sociedade e não apenas para a reforma dos estabelecimentos de ensino, precisamos, agora, abordar o secreto currículo escolar. Não estamos interessados aqui, diretamente, no secreto currículo que marca os pobres nas ruas de um gueto, nem no secreto currículo das salas de aula luxuosas que beneficia o rico. Estamos interessados, sim, em chamar a atenção para fato de que o cerimonial ou ritual da própria escolarização constitui semelhante currículo. Nem o melhor dos professores consegue dele resguardar totalmente seus alunos. Inevitavelmente, este secreto currículo da escolarização ajunta preconceitos e culpa à discriminação que a sociedade pratica contra alguns de seus membros e concede aos privilegiados um novo título de condescenderem com a maioria. Também de maneira inevitável, este secreto currículo presta-se como rito de iniciação para uma sociedade de consumo, orientada para o progresso, tanto para ricos como para pobres.
2.6 – A Nova Igreja do Mundo é a indústria do conhecimento, ao mesmo tempo fornecedora de ópio e lugar de trabalho durante um número sempre maior de anos na vida de uma pessoa. A desescolarização está, pois, na raiz de qualquer movimento que vise à libertação humana.
2.7 – Muitos revolucionários, que o são a seu modo, são vítimas da escola. Consideram a própria libertação como produto de um processo institucional. Somente o libertar-se da escola dissipará essas ilusões. A descoberta de que a maioria da aprendizagem não requer ensino jamais poderá ser manipulada ou planejada. Cada um é pessoa responsável por sua própria desescolarização; unicamente nós temos o poder de fazê-lo. Ninguém será desculpado se não conseguir se libertar da escolarização. As pessoas não conseguiram libertar-se da Coroa até que, ao menos alguns, se libertaram da Igreja estabelecida. Não conseguirão libertar-se do consumo progressivo a menos que se libertem da obrigatoriedade escolar.
Todos estamos envolvidos na escolarização, seja pelo lado da produção, seja pelo lado do consumo. Estamos supersticiosamente convencidos que uma boa aprendizagem pode e deve ser produzida em nós e que nós podemos produzi-la nos outros. Nossa tentativa de afastar-nos do conceito de escola revelará a resistência que em nós acharemos quando tentarmos renunciar ao consumo ilimitado e à difundida presunção de que os outros podem ser manipulados para seu próprio bem. No processo escolar, ninguém está totalmente livre de ser explorado pelos outros.
2.8 – A controvérsia americana sobre o futuro da educação, descontadas a retórica e a altissonância, é mais conservadora do que as conjecturas em outras áreas da política nacional. Nas relações exteriores, ao menos, há uma organizada maioria que sempre volta a frisar que os Estados Unidos devem renunciar a seu papel de polícia mundial. Os economistas radicais e, agora também, seus professores menos radicais, questionam a idéia de que o crescimento acumulativo seja um objetivo desejável. Há grupos influentes que já se inclinam, no campo da medicina, a valorizar mais o remédio preventivo do que o curativo e, no campo do transporte, mais o escoamento do que a velocidade. Só no campo da educação as vozes articuladas que exigem uma radical desescolarização da sociedade permanecem tão dispersas. Há falta de argumentos convincentes e de madura liderança para conseguir a desinstalação de toda e qualquer instituição que esteja a serviço dos propósitos da aprendizagem compulsiva. Por enquanto, a radical desescolarização da sociedade é ainda uma causa sem partido. Isto é muito surpreendente num tempo em que cresce — ainda que caoticamente — a resistência dos jovens de 12 a 17 anos contra todas as formas de instrução institucionalmente planejadas.
2.9 – As atitudes já estão mudando. A orgulhosa dependência da escola desapareceu. A resistência do consumidor aumenta na indústria do conhecimento. Muitos professores e alunos, contribuintes fiscais e empregadores, economistas e policiais prefeririam não mais depender de escolas. O que impede que sua frustração modele novas instituições não é apenas falta de imaginação mas também de linguagem adequada e auto-interesse esclarecido. Não conseguem visualizar uma sociedade desescolarizada ou instituições educacionais numa sociedade que desinstalou a escola.
2.10 – Mesmo a criação lenta de novas agências educacionais que fossem o inverso da escola seria um ataque ao aspecto mais sensível de um fenômeno penetrante, organizado pelo Estado em todos os países. Um programa político que não reconheça explicitamente a necessidade de desescolarização não é revolucionário; está demagogicamente pedindo mais escolarização. Todo programa político importante da década de setenta deveria ser avaliado pela seguinte medida: com que precisão afirma a necessidade de desescolarização e com que precisão traça as linhas mestras da qualidade educacional para a sociedade que preconiza?
2.11 – Desescolarizar significa abolir o poder de uma pessoa de obrigar outra a frequentar uma reunião. Também significa o direito de qualquer pessoa, de qualquer idade ou sexo, convocar uma reunião. Esse direito foi drasticamente diminuído pela institucionalização das reuniões. «Reunião» significa originalmente o ato individual de juntar-se. Agora, significa o produto institucional de alguma agência.
2.12 – Numa sociedade desescolarizada, os profissionais já não poderão exigir a confiança de seus clientes, baseados em seu diploma, ou confirmar sua reputação remetendo simplesmente seus clientes a outros profissionais que certifiquem a escolarização dos primeiros. Em vez de confiar em profissionais, deveria ser possível, a qualquer tempo e para qualquer cliente potencial, consultar outros clientes de determinado profissional para ver se estavam satis feitos com ele. Isto poderia ser feito através de outra rede de parceiros, facilmente estabelecida por um computador ou por outros meios. Essas redes poderiam ser consideradas serviços públicos, nos quais os estudantes pudessem escolher seus professores e os pacientes seus doutores.
2.13 – A educação desescolarizada vai incrementar — em vez de sufocar — a procura de pessoas com conhecimentos práticos que estejam dispostas a amparar o novato em sua aventura educacional. Se os mestres em suas especialidades deixarem de reivindicar que são informantes ou modelos de habilidades superiores, então suas reivindicações de sabedoria superior começarão a soar verdadeiras.
O estudante inteligente há de procurar, periodicamente, conselho profissional: assistência para fixar novo objetivo, esclarecimento para dificuldades encontradas, escolha entre possíveis métodos. Mesmo agora, a maioria das pessoas admitiria que os serviços importantes a eles prestados pelos professores foram os de orientação e conselho, seja em encontros ocasionais ou em consultas particulares. Também os educadores, num mundo desescolarizado, poderão realizar-se e fazer aquilo que professores frustrados tentam hoje conseguir.
2.14 – Mesmo em nossa sociedade, para se confiar numa verdadeira liderança intelectual, é necessário que as pessoas dotadas desejem oferecê-la; mas não é ainda possível pôr isto em prática. Precisamos antes construir uma sociedade em que os próprios atos pessoais readquiram um valor mais elevado do que o de fazer coisas e manipular pessoas. Em tal sociedade o ensino baseado na pesquisa, inventivo e criativo estará, logicamente, entre as formas mais cobiçadas de «desemprego» ocioso. Não precisamos, no entanto, esperar até o advento da utopia. Mesmo agora, uma das mais importantes consequências da desescolarização e do estabelecimento das facilidades de encontro de parceiros será a iniciativa que os «mestres» poderão tomar para reunir discípulos que tenham os mesmos interesses. Dará também aos discípulos potenciais, como já vimos, ampla oportunidade de compartilhar informações e selecionar um mestre.
2.15 – Muitos estudantes, especialmente os mais pobres, percebem intuitivamente o que a escola faz por eles. Ela os escolariza para confundir processo com substância. Alcançado isto, uma nova lógica entra em jogo: quanto mais longa a escolaridade, melhores os resultados; ou, então, a graduação leva ao sucesso. O aluno é, desse modo, «escolarizado» a confundir ensino com aprendizagem, obtenção de graus com educação, diploma com competência, fluência no falar com capacidade de dizer algo novo. Sua imaginação é «escolarizada» a aceitar serviço em vez de valor. Identifica erroneamente cuidar da saúde com tratamento médico, melhoria da vida comunitária com assistência social, segurança com proteção policial, segurança nacional com aparato militar, trabalho produtivo com concorrência desleal. Saúde, aprendizagem, dignidade, independência e faculdade criativa são definidas como sendo um pouquinho mais que o produto das instituições que dizem servir a estes fins; e sua promoção está em conceder maiores recursos para a administração de hospitais, escolas e outras instituições semelhantes.
2.16 – Não apenas a educação, mas também a própria realidade social tornou-se escolarizada. Dá quase na mesma escolarizar pobres e ricos nas mesmas dependências. O gasto anual por aluno seja numa favela ou em rico subúrbio de qualquer cidade dos Estados Unidos está na mesma proporção, sendo às vezes favorável às favelas.
2.17 – A convicção de que a escolarização universal é absolutamente necessária, mantém-se mais firmemente nos países em que menos pessoas foram e serão servidas por escolas. Na América Latina a maioria dos pais e crianças ainda podem tomar diferentes rumos em relação à educação. As somas governamentais investidas nas escolas e professores podem ser proporcionalmente mais elevadas do que nos países ricos, mas esses investimentos são totalmente insuficientes para atender a maioria, nem mesmo para possibilitar quatro anos de frequência escolar. Fidel Castro fala como se intencionasse caminhar para a desescolarização quando promete que, por volta de 1980, Cuba estará em condições de acabar com sua Universidade, uma vez que toda a vida em Cuba será uma experiência educacional. Ao nível da escola primária e secundária, porém, Cuba — como qualquer outro país latino-americano — age como se a passagem por um período definido como «idade escolar» fosse um objetivo inquestionável para todos, retardado apenas por uma carência temporária de recursos.
2.18 – A dupla decepção da intensa escolaridade, como se verifica nos Estados Unidos — e como é prometida na América Latina — complementa-se uma à outra. Os norte-americanos pobres estão sendo desmantelados pelos doze anos de escolaridade cuja falta estigmatiza os latino-americanos pobres como irremediavelmente atrasados. Nem na América do Norte nem na América Latina obtêm os pobres a igualdade através da escolarização obrigatória. Mas em ambas as regiões a simples existência de escolas desencoraja e incapacita os pobres de assumirem o controle da própria aprendizagem. Em todo o mundo a escola tem um efeito anti-educacional sobre a sociedade: reconhece-se a escola como a instituição especializada em educação. Os fracassos da escola são tidos, pela maioria, como prova de que a educação é tarefa muito dispendiosa, muito complexa, sempre misteriosa e muitas vezes quase impossível.
2.19 – A escolarização obrigatória polariza inevitavelmente uma sociedade; e também hierarquiza as nações do mundo de acordo com um sistema internacional de castas. Países cuja dignidade educacional é determinada pela média de anos-aula de seus habitantes estão sendo classificados em castas, classificação que está intimamente relacionada com o produto nacional bruto e é muito mais dolorosa que esta última.
2.20 – Os Estados Unidos estão provando ao mundo que nenhum país pode ser suficientemente rico para manter um sistema escolar que satisfaça as demandas que este mesmo sistema cria pelo simples fato de existir; porque um sistema escolar bem sucedido escolariza pais e alunos para o supremo valor de uma demanda e se tornam mais escassos.
2.21 – Para separar competência de currículo, as investigações sobre o histórico da escolaridade de uma pessoa deveriam ser proibidas, da mesma forma como o são sobre credo político, frequência à igreja, linhagem, hábitos sexuais ou «background» racial. Leis devem ser promulgadas que proíbam a discriminação baseada na escolaridade prévia. Obviamente, as leis não podem acabar com os preconceitos contra os não-escolarizados, nem pretendem forçar alguém a casar- se com um autodidata, mas podem desencorajar a discriminação injustificada.
2.22 – O certificado constitui uma forma de manipulação mercadológica e é plausível apenas a uma mente escolarizada.
2.23 – A escola é ainda menos eficiente na concatenação das circunstâncias que incentivam o uso franco e explorador das habilidades adquiridas, para o qual reservo o termo «educação liberal». A principal razão disso é que a escola obrigatória e a escolarização tornam-se um fim em si mesmo: uma estada forçada na companhia de professores, que paga o duvidoso privilégio de poder continuar nessa companhia. Assim como o ensino de habilidades deve ser liberto de cerceamentos curriculares, assim deve a educação liberal estar dissociada da frequência obrigatória. Tanto a aprendizagem de habilidades quanto a educação do senso inventivo e criativo podem ser favorecidos por disposições institucionais, mas são de natureza diversa e muitas vezes oposta.
2.24 – O maior obstáculo para chegar a uma sociedade que realmente eduque foi muito bem definido por um amigo meu, negro, em Chicago. Disse-me que nossa imaginação estava «totalmente escolarizada». Permitimos que o Estado ausculte as deficiências educacionais universais de seus cidadãos e crie uma repartição especializada para tratá-las. Partilhamos, portanto, da ilusão de que é possível distinguir entre o que é educação necessária para os outros e o que não é; exatamente como as gerações passadas que faziam leis para definir o que era sagrado e o que era profano.
Durkheim dizia que o fato de se dividir a realidade social em dois campos foi a verdadeira essência da religião antiga. Há, dizia ele, religiões sem o sobrenatural e religiões sem deuses, mas nenhuma que não subdivida o mundo em coisas, tempos e pessoas que são sagrados e outros que, consequentemente, são profanos. A constatação de Durkheim pode ser aplicada à sociologia de educação, pois a escola é, também, numa perspectiva bem semelhante, absolutamente divisória.
A simples existência da escolaridade obrigatória divide qualquer sociedade em dois campos: certos períodos de tempo, processos, serviços e profissões são «acadêmicos» ou «pedagógicos», outros não. O poder de a escola dividir a realidade social não tem limites: a educação torna-se não-do-mundo e o mundo torna-se não-educativo.
2.25 – O universitário foi escolarizado para desempenhar funções seletas entre os ricos do mundo. Conquanto manifeste solidariedade com o Terceiro Mundo, qualquer americano formado por uma Universidade custou cinco vezes mais que a receita vital média da metade da humanidade. Um estudante latino-americano que quiser entrar nessa fraternidade exclusiva gastará, em sua educação, 350 vezes mais dinheiro dos cofres públicos do que o gasto na educação do seu concidadão de renda média. Com raríssimas exceções, o licenciado universitário de um país pobre sente-se mais à vontade entre seus colegas norte-americanos e europeus do que entre seus compatriotas não-escolarizados. Todos os estudantes passam por um processo acadêmico tal que apenas se sentem felizes quando na companhia de companheiros que consomem os mesmos produtos da maquinaria educacional.
2.26 – A existência de escolas produz a demanda pela escolarização. Uma vez que aprendemos a necessitar da escola, todas as nossas atividades vão assumir a forma de relações de cliente com outras instituições especializadas. Uma vez que o autodidata foi desacreditado, toda atividade não profissional será suspeita. Aprendemos na escola que toda aprendizagem profícua é resultado da frequência, que o valor da aprendizagem aumenta com a quantidade de insumo (input) e, finalmente, que este valor pode ser mensurado e documentado por títulos e certificados.
2.27 – As pessoas que foram escolarizadas até atingirem o tamanho previsto deixam fugir de suas mãos uma experiência incomensurável. Para elas, tudo o que não puder ser medido torna-se secundário, ameaçador. Não é preciso que se lhes roube a criatividade. Sob o jugo da instrução, desaprenderam a tomar suas iniciativas e a ser elas mesmas. Valorizam apenas o que já foi feito ou o que lhes é permitido fazer.
Quando as pessoas têm escolarizado na cabeça que os valores podem ser produzidos e mensurados, dispõem-se a aceitar qualquer espécie de hierarquização. Há uma escala para o desenvolvimento das nações, outra para a inteligência dos bebês; até mesmo o progresso em prol da paz pode ser calculado pelo número de mortos. Num mundo escolarizado o caminho da felicidade está pavimentado com o índice de consumo.
2.28 – A guerra do Vietnã serve como exemplo ao nosso raciocínio. Seu sucesso é calculado pelo número de pessoas efetivamente servidas por balas baratas, entregues a um preço elevado. E este cálculo brutal é desavergonhadamente chamado «contagem de corpos». Assim como negócios são negócios — um não acabar de acumulação de dinheiro — assim a guerra é matar — um não acabar de acumulação de cadáveres. De maneira semelhante, a educação é escolarização; e este interminável processo é quantificado em horas- aluno. Todos esses processos são irreversíveis e autojustificáveis. Pelos padrões econômicos, o país se torna sempre mais rico. Pelos padrões de contagem de cadáveres, a nação continua vencendo sua guerra eternamente. E pelos padrões escolares a população torna-se sempre mais instruída.
2.29 – Os programas escolares estão famintos de sempre mais instrução; mas, embora a fome leve à absorção constante, jamais proporciona a alegria de conhecer algo cabalmente. Cada matéria vem numa embalagem com a instrução de que se continue a consumir uma «oferta» atrás da outra; a embalagem do ano anterior é sempre obsoleta para o consumidor deste ano. O comércio dos livros didáticos cria esta demanda. Os re formadores educacionais prometem a cada nova geração dar-lhe o melhor e o mais recente. E o público está escolarizado para demandar o que eles oferecem. Tanto o que abandonou a carreira — que sempre é lembrado daquilo que perdeu —, quanto o bacharel — que é levado a sentir-se inferiorizado perante a nova geração de estudantes — conhecem muito bem sua posição no ritual das crescentes decepções e continuam a apoiar uma sociedade que, eufemisticamente, chama de «revolução de expectativas crescentes» o abismo sempre mais profundo da frustração.
2.30 – Como diz Arnold Toynbee, a decadência de uma grande cultura vem geralmente acompanhada do surgimento de uma nova Igreja Universal que dá esperanças ao proletariado doméstico e ao mesmo tempo satisfaz as necessidades de uma nova classe guerreira. A escola tem todas as características para ser a Igreja Universal de nossa decadente cultura. Nenhuma outra instituição conseguiria esconder tão bem de seus participantes a profunda discrepância entre os princípios sociais e a realidade social do mundo de hoje. Secular, científica, nega a morte: identifica-se com as aspirações modernas. Sua fachada clássica e crítica faz com que se pareça pluralista ou até antirreligiosa. Seu currículo define ciência e, ao mesmo tempo, é definido pela assim chamada pesquisa científica. Ninguém nunca termina sua escolarização — ainda. A escola nunca fecha suas portas para alguém sem antes oferecer-lhe mais uma chance: estágios de recuperação, atualização, etc.
2.31 – A escola se presta efetivamente ao papel de criadora e sustentadora do mito social por causa de sua estrutura que funciona como um jogo ritual de promoções gradativas. É muito mais importante a introdução neste ritual do que averiguar -se como ou o que é ensinado. É o próprio jogo que escolariza; ele entra no sangue e torna-se hábito.
2.32 – Em qualquer parte, todas as crianças sabem que tiveram uma oportunidade — ainda que desigual — numa loteria obrigatória. E a presumida igualdade dos padrões internacionais elabora um acordo entre sua pobreza original e a discriminação auto infligida e aceita por aqueles que abandonaram a escola. Foram escolarizados a ponto de acreditarem nas expectativas crescentes e podem agora racionalizar sua progressiva frustração, fora da escola, aceitando sua rejeição das graças escolásticas. Foram excluídos do céu, porque, batizados, não foram à igreja. Nascidos com pecado original, são batizados na 1ª série, mas vão para a «gehena» (em hebraico, lugar dos cadáveres e da cinza) por causa de suas faltas pessoais. Assim como Max Weber traçou os efeitos sociais causados pela crença de que a salvação era reservada aos que haviam acumulado riquezas, assim podemos observar agora que a graça é reservada àqueles que acumulam anos de escola.
2.33 – Todos estamos envolvidos na escolarização, seja pelo lado da produção, seja pelo lado do consumo. Estamos supersticiosamente convencidos que uma boa aprendizagem pode e deve ser produzida em nós e que nós podemos produzi-la nos outros. Nossa tentativa de afastar-nos do conceito de escola revelará a resistência que em nós acharemos quando tentarmos renunciar ao consumo ilimitado e à difundida presunção de que os outros podem ser manipulados para seu próprio bem. No processo escolar, ninguém está totalmente livre de ser explorado pelos outros.
2.34 – A crescente politização e o culto à eficiência convergiam no crescimento da escola pública nos Estados Unidos. A orientação vocacional e a escola pré-secundária foram dois importantes resultados desse modo de pensar.
Parece, portanto, que a tentativa de produzir mudanças específicas de comportamento que podem ser mensuradas e pelas quais é responsável o processador é apenas um lado da moeda. O outro é a pacificação da nova geração dentro de encraves especialmente projetados que vão atraí-la para o mundo de sonhos de seus antepassados. Esses pacificados na sociedade são bem descritos por Dewey que deseja que «façamos de cada uma de nossas escolas uma vida comunitária em embrião, tendo atividades típicas que reflitam a vida da grande sociedade e permeadas com o espírito de arte, história e ciência». Nessa perspectiva histórica, seria grave erro interpretar a atual controvérsia trilateral entre o estabelecimento escolar, os técnicos de educação e as escolas livres como prelúdio para uma revolução na educação. Essa controvérsia reflete antes um estágio de uma tentativa para transformar um velho sonho numa realidade e, finalmente, fazer de toda aprendizagem valiosa o resultado do ensino profissional. A maioria das alternativas educacionais propostas convergem para metas imanentes à produção do homem cooperativo cujas necessidades individuais são satisfeitas de acordo com a sua especialização no sistema americano. Elas estão orientadas para aquilo que — por falta de melhor termo — chamo de sociedade escolarizada. Mesmo os críticos aparentemente radicais do sistema escolar não se dispõem a abandonar a ideia de que têm uma obrigação para com os jovens e, especialmente, para com os pobres, uma obrigação de prepará-los — pelo amor ou pelo medo — para uma sociedade que necessita disciplinada especialização tanto de seus produtores quanto dos consumidores e de seu pleno engajamento na ideologia que coloca o crescimento econômico em primeiro lugar.
As dissidências encobrem as contradições inerentes ao próprio conceito de escola. Os sindicatos de professores, os feiticeiros da técnica e o movimento de libertação educacional reforçou o engajamento da sociedade toda nos axiomas fundamentais do mundo escolarizado; algo semelhante ao que acontece com muitos movimentos de paz e protesto que reforçam a convicção de seus membros — negros, mulheres, crianças ou pobres — de procurar justiça no aumento da renda nacional bruta.
2.35 – Em qualquer lugar do mundo o secreto currículo da escolarização inicia o cidadão no mito de que as burocracias guiadas pelo conhecimento científico são eficientes e benévolas. Em qualquer parte do mundo este mesmo currículo instila no aluno o mito de que maior produção vai trazer vida melhor. E em qualquer parte do mundo desenvolve o hábito de um consumo contraproducente de serviços e de produção alienante, com a tolerância da dependência institucional e o reconhecimento das hierarquias institucionais. O secreto currículo faz tudo isso apesar dos esforços em contrário dos professores, não importando a ideologia que prevaleça.
Em outras palavras, as escolas são fundamentalmente semelhantes em todos os países, sejam fascistas, democráticos ou socialistas, pequenos ou grandes, ricos ou pobres. Esta identidade do sistema escolar nos força a reconhecer a profunda identidade universal do mito, o modo de produção e o método de controle social, apesar da grande variedade de mitologias em que o mito é expresso.
Em vista dessa identidade, é ilusório dizer que as escolas são, num sentido mais profundo, variáveis dependentes. Isto significa que também é ilusão esperar que a mudança fundamental no sistema escolar ocorra como consequência da mudança econômica ou social convencional. Ao contrário, esta ilusão concede à escola — o órgão reprodutor de uma sociedade de consumo — uma imunidade quase inquestionável.
2.36 – Numa sociedade escolarizada chegamos a confiar sempre mais no julgamento profissional de educadores sobre o efeito de seus próprios trabalhos para, então, decidir em quais podemos ou não confiar. Vamos ao médico, advogado ou psicólogo porque confiamos que qualquer pessoa com tanto tratamento educacional especializado, requerido por outros colegas, merece nossa confiança.
2.37 – Nossa revisão das instituições educacionais leva a uma revisão da imagem que temos do homem. As criaturas de que necessitam as escolas como clientes não têm autonomia nem motivação para se desenvolverem por si mesmas. Podemos dizer que a escolarização universal é a culminância de uma empresa de Prometeu e que a alternativa é um mundo feito para o homem epimeteu. Enquanto dizemos que a alternativa para os funis escolásticos é um mundo tornado transparente pelas verdadeiras teias de comunicação e enquanto sabemos exatamente como poderiam funcionar, só podemos esperar que a natureza epimetéia do homem reapareça; não podemos planejá-la, muito menos produzi-la.
3 – ENSINO
3.1 – Muitos estudantes, especialmente os mais pobres, percebem intuitivamente o que a escola faz por eles. Ela os escolariza para confundir processo com substância. Alcançado isto, uma nova lógica entra em jogo: quanto mais longa a escolaridade, melhores os resultados; ou, então, a graduação leva ao sucesso. O aluno é, desse modo, «escolarizado» a confundir ensino com aprendizagem, obtenção de graus com educação, diploma com competência, fluência no falar com capacidade de dizer algo novo. Sua imaginação é «escolarizada» a aceitar serviço em vez de valor.
3.2 – O sistema escolar repousa ainda sobre uma segunda grande ilusão, de que a maioria do que se aprende é resultado do ensino. O ensino, é verdade, pode contribuir para determinadas espécies de aprendizagem sob certas circunstâncias. Mas a maioria das pessoas adquire a maior parte de seus conhecimentos fora da escola; na escola, apenas enquanto esta se tornou, em alguns países ricos, um lugar de confinamento durante um período sempre maior de sua vida.
A maior parte da aprendizagem ocorre casualmente e, mesmo, a maior parte da aprendizagem intencional não é resultado de uma instrução programada. As crianças normais aprendem sua primeira língua casualmente, ainda que mais rapidamente quando seus pais se interessam. A maioria das pessoas que aprendem bem outra língua conseguem-no por causa de circunstâncias especiais e não de aprendizagem sequencial. Vão passar algum tempo com seus avós, viajam ou se enamoram de um estrangeiro. A fluência na leitura é também, quase sempre, resultado dessas atividades extracurriculares. A maioria das pessoas que lê muito e com prazer crê que aprendeu isso na escola; quando conscientizadas, facilmente abandonam esta ilusão.
3.3 – A instrução livre e competitiva é uma blasfêmia subversiva para o educador ortodoxo. Dissocia a aquisição de habilidades da educação «humana» que as escolas associam intimamente e por isso favorece uma aprendizagem não-licenciada, bem como um ensino não- licenciado, por motivos inexprimíveis.
3.4 – Algumas palavras tornam-se tão flexíveis que deixam de ser úteis. «Escola» e «ensino» são palavras desse tipo. Elas se ajustam dentro de qualquer interstício da linguagem como uma ameba.
3.5 – Professores e alunos — Por definição, as crianças são alunos. A demanda do meio infantil cria um ilimitado mercado para professores registrados. A escola é uma instituição baseada no axioma de que a aprendizagem é o resultado do ensino. E a sabedoria institucionalizada continua a aceitar este axioma, apesar da evidência em contrário.
A maior parte dos nossos conhecimentos adquirimo-los fora da escola. Os alunos realizam a maior parte de sua aprendizagem sem os, ou muitas vezes, apesar dos professores. Mais trágico ainda é o fato de que a maioria das pessoas recebe o ensino da escola, sem nunca ir à escola.
3.6 – O homem viciado em receber ensinamentos busca sua segurança no ensino compulsivo. A mulher que experimenta seu conhecimento como resultado de um processo quer reproduzi-lo nos outros.
3.7 – Muitos revolucionários, que o são a seu modo, são vítimas da escola. Consideram a própria libertação como produto de um processo institucional. Somente o libertar-se da escola dissipará essas ilusões. A descoberta de que a maioria da aprendizagem não requer ensino jamais poderá ser manipulada ou planejada. Cada um é pessoa lmente responsável por sua própria desescolarização; unicamente nós temos o poder de fazê-lo. Ninguém será desculpado se não conseguir se libertar da escolarização. As pessoas não conseguiram libertar-se da Coroa até que, ao menos alguns, se libertaram da Igreja estabelecida. Não conseguirão libertar-se do consumo progressivo a menos que se libertem da obrigatoriedade escolar.
3.8 – A tecnologia está à disposição ou da independência e da aprendizagem ou, então, da burocracia e do ensino.
3.9 – Os certificados tendem a abolir a liberdade de educação, convertendo o direito civil de partilhar um conhecimento em privilégio da liberdade acadêmica, conferido apenas aos empregados das escolas. Para garantir acesso a um efetivo intercâmbio de habilidades, precisamos de uma legislação que generalize a liberdade acadêmica. O direito de ensinar qualquer habilidade deveria cair sob a proteção da liberdade de falar. Uma vez removidas as restrições do ensino, serão também e logo removidas da aprendizagem.
4 – CURRÍCULO OBRIGATÓRIO E CURRÍCULO OCULTO DA ESCOLARIZAÇÃO
4.1 – A desescolarização da sociedade implica um reconhecimento da dupla natureza da aprendizagem. Insistir apenas na instrução prática seria um desastre; igual ênfase deve ser posta em outras espécies de aprendizagem. Se as escolas são o lugar errado para se aprender uma habilidade, são o lugar mais errado ainda para se obter educação. A escola realiza mal ambas as tarefas; em parte porque não sabe distinguir as duas. A escola é ineficiente no ensino de habilidades, principalmente, porque é curricular. Na maioria das escolas, um programa que vise a fomentar uma habilidade está sempre vinculado a outra tarefa que é irrelevante. A história está ligada ao progresso na matemática; e a assistência às aulas, ao direito de usar o campo de jogos.
A escola é ainda menos eficiente na concatenação das circunstâncias que incentivam o uso franco e explorador das habilidades adquiridas, para o qual reservo o termo «educação liberal». A principal razão disso é que a escola obrigatória e a escolarização tornam-se um fim em si mesmo: uma estada forçada na companhia de professores, que paga o duvidoso privilégio de poder continuar nessa companhia. Assim como o ensino de habilidades deve ser liberto de cerceamentos curriculares, assim deve a educação liberal estar dissociada da frequência obrigatória. Tanto a aprendizagem de habilidades quanto a educação do senso inventivo e criativo podem ser favorecidos por disposições institucionais, mas são de natureza diversa e muitas vezes oposta.
A maior parte das habilidades são adquiridas e aperfeiçoadas por exercícios práticos, porque implica o domínio de um proceder definido e previsto. O ensino de habilidades pode basear -se, por isso, na simulação de circunstâncias em que será usada. Mas a educação do uso das habilidades criativas e inventivas não pode basear -se em exercícios práticos. A educação pode ser o resultado de uma instrução, mas de um tipo de instrução totalmente distinto de treino prático. Deriva de uma relação entre colegas que já possuem algumas das chaves que dão acesso à informação memorizada e acumulada ria e pela comunidade. Baseia -se no esforço crítico de todos os que usam estas memórias criativamente. Baseia-se na surpresa da pergunta inesperada que abre novas portas para o pesquisador e seu colega.
4.2 – A igualdade de oportunidades na educação é meta desejável e realizável, mas confundi-la com obrigatoriedade escolar é confundir salvação com igreja. A escola tornou-se a religião universal do proletariado modernizado, e faz promessas férteis de salvação aos pobres da era tecnológica. O Estado-nação adotou-a, moldando todos os cidadãos num currículo hierarquizado, à base de diplomas sucessivos, algo parecido com os ritos de iniciação e promoções hieráticas de outrora. O Estado moderno assumiu a obrigação de impor os ditames de seus educadores por meio de inspetores bem intencionados e de exigências empregatícias; mais ou menos como o fizeram os reis espanhóis que impunham os ditames de seus teólogos pelos conquistadores e pela Inquisição.
4.3 – O currículo sempre foi usado para consignar um posto social. Às vezes podia ser pré-natal: o karma lhe determina uma casta e a linhagem o insere na aristocracia. Podia tomar também a forma de um ritual, de uma sequência hierarquizada de ordenações sacras; ou consistia numa sucessão de feitos na guerra ou caça; e posteriormente podia até depender de uma série escalonada de favores do príncipe. A escolaridade universal visava a separar a atribuição de funções da história pessoal individual. Visava a dar a cada um igual oportunidade para qualquer emprego. Ainda hoje em dia há pessoas que erroneamente creem que a escola faz depender a confiança pública das realizações relevantes da aprendizagem. Contudo, ao invés de igualar as oportunidades, o sistema escolar monopolizou sua distribuição.
Para separar competência de currículo, as investigações sobre o histórico da escolaridade de uma pessoa deveriam ser proibidas, da mesma forma como o são sobre credo político, frequência à igreja, linhagem, hábitos sexuais ou «background» racial. Leis devem ser promulgadas que proíbam a discriminação baseada na escolaridade prévia. Obviamente, as leis não podem acabar com os preconceitos contra os não-escolarizados, nem pretendem forçar alguém a casar- se com um autodidata, mas podem desencorajar a discriminação injustificada.
4.4 – Se abrirmos o «mercado», as oportunidades de aprendizagem- treino podem ser vastamente multiplicadas. Isso depende de conjugar o professor certo com o aluno certo quando bem motivado por um programa inteligente, sem o constrangimento de um currículo.
4.5 – Os «encontros educacionais» entre pessoas que foram devidamente escolarizadas é outro assunto, mas os que não precisam dessa ajuda são minoria, mesmo dentre os leitores de jornais sérios. A maioria não poderá e nem deverá reunir-se para discutir um «slogan», uma palavra em um quadro. A idéia, porém, é a mesma: poderão reunir-se em torno a um problema escolhido e definido por eles mesmos. A aprendizagem criativa e pesquisadora requer que os participantes todos estejam igualmente perplexos perante os mesmos termos ou problemas. Grandes universidades tentam inutilmente alcançar esta aprendizagem multiplicando os cursos; mas geralmente fracassam porque estão presos a currículos, estruturas de curso e administração burocrática. Nas escolas, inclusive nas universidades, gasta -se a maioria dos recursos tentando comprar o tempo e a motivação de um número limitado de pessoas para que elas assumam determinados problemas e os resolvam segundo um programa ritualmente definido. A mais radical alternativa para a escola seria uma rede ou um sistema de serviços que desse a cada homem a mesma oportunidade de partilhar seus interesses com outros motivados pelos mesmos interesses.
4.6 – A secularização da fé cristã depende da dedicação que a ela têm os cristãos enraizados na Igreja. De forma algo semelhante, a desescolarização da educação depende da liderança dos que foram criados nas escolas. Não podem servir-se do currículo como álibi para a tarefa: cada um de nós permanece responsável pelo que foi feito dele, mesmo que nada mais possa fazer do que aceitar sua responsabilidade e servir como advertência aos outros.
4.7 – Definirei, para tanto, a «escola» como um processo que requer assistência de tempo integral a um currículo obrigatório, em certa idade e com a presença de um professor. Para entender o que isso significa para a desescolarização da sociedade e não apenas para a reforma dos estabelecimentos de ensino, precisamos, agora, abordar o secreto currículo escolar. Não estamos interessados aqui, diretamente, no secreto currículo que marca os pobres nas ruas de um gueto, nem no secreto currículo das salas de aula luxuosas que beneficia o rico. Estamos interessados, sim, em chamar a atenção para fato de que o cerimonial ou ritual da própria escolarização constitui semelhante currículo. Nem o melhor dos professores consegue dele resguardar totalmente seus alunos. Inevitavelmente, este secreto currículo da escolarização ajunta preconceitos e culpa à discriminação que a sociedade pratica contra alguns de seus membros e concede aos privilegiados um novo título de condescenderem com a maioria. Também de maneira inevitável, este secreto currículo presta-se como rito de iniciação para uma sociedade de consumo, orientada para o progresso, tanto para ricos como para pobres.
4.8 – A universidade moderna confere o privilégio de discordar apenas aos que foram testados e classificados como potenciais homens de dinheiro ou detentores de poder. Ninguém recebe um centavo dos fundos fiscais para formar-se nas horas vagas ou para educar outros, a não ser que possa comprová-lo por um certificado. As escolas escolhem para os estágios seguintes aqueles que, nos primeiros estágios do jogo, provaram ser bons investimentos para a ordem estabelecida. Tendo o monopólio, tanto dos recursos de aprendizagem, quanto da atribuição de funções sociais, a universidade escolhe o descobridor e o dissidente potencial. Todo título sempre deixa uma indelével etiqueta no currículo de seu consumidor. Os formados por universidade se enquadram apenas num mundo que coloca etiquetas comerciais em suas cabeças, dando-lhes, assim, a faculdade de definir o grau de expectativa na sua sociedade. Em todos os países, a quantidade consumida pelos formados em universidades fixa o padrão dos demais. Se quiserem parecer civilizados, devem aspirar ao estilo de vida dos formados em universidades.
4.9 – Mas o crescimento pessoal não é coisa mensurável. É crescimento em discordância disciplinada que não pode ser medido nem pelo metro nem por um currículo, nem mesmo comparado com as realizações de qualquer outra pessoa. Neste tipo de aprendizagem pode alguém rivalizar com os outros apenas em esforço imaginativo, seguir seus passos, mas nunca imitar seu procedimento. A aprendizagem que eu prezo é recriação imensurável.
4.10 – A escola pretende fragmentar a aprendizagem em «matérias», construir dentro do aluno um currículo feito desses blocos prefabricados e avaliar o resultado em âmbito internacional. As pessoas que se submetem ao padrão dos outros para medir seu crescimento pessoal próprio, cedo aplicarão a mesma pauta a si próprios. Não mais precisarão ser colocadas em seu lugar, elas mesmas se colocarão nos cantinhos indicados; tanto se espremerão até caberem no nicho que lhes foi ensinado a procurar e, neste mesmo processo, colocarão seus companheiros também em seus lugares, até que tudo e todos estejam acomodados.
4.11 – A escola vende currículo — um monte de bens de consumo feitos pelo mesmo processo e tendo a mesma estrutura que outras mercadorias. A produção do currículo começa, na maioria das escolas, com uma pretensa pesquisa científica na qual os engenheiros educacionais se baseiam para predizer a demanda futura e as ferramentas da linha de montagem, dentro dos limites traçados pelo orçamento e pelos tabus. O professor-distribuidor entrega o produto acabado ao aluno-consumidor cujas reações são cuidadosamente analisadas e tabuladas a fim de haver dados de pesquisa para a preparação do próximo modelo que poderá dominar -se «não- graduado», «destinado ao estudante», «estudo dinâmico», «complementado visualmente» ou «centrado na matéria».
O resultado do processo de produção curricular assemelha-se ao de qualquer outro processo mercadológico moderno. É uma embalagem de significados planejados, um pacote de valores, um bem de consumo cuja «propaganda dirigida» faz com que se torne vendável a um número suficientemente grande de pessoas para justificar o custo de produção. Ensina-se aos alunos-consumidores que adaptem seus desejos aos valores à venda. São levados a sentirem-se culpados caso não ajam de acordo com as predições da pesquisa de consumo, recebendo os graus e certificados que os colocarão na categoria de trabalho pela qual foram motivados a esperar.
Os educadores podem justificar currículos mais dispendiosos baseando-se em suas observações de que as dificuldades na aprendizagem aumentam proporcionalmente ao custo do currículo. É uma aplicação da Lei de Parkinson, segundo a qual o trabalho aumenta com os recursos disponíveis para realizá-lo. Esta lei pode ser constatada em todos os níveis da escola. Na França, por exemplo, as dificuldades de leitura aumentaram desde que os gastos «per capita» atingiram os níveis dos Estados Unidos de 1950 — época em que as dificuldades de leitura haviam-se tornado problema agudo nas escolas deste país.
4.12 – Como diz Arnold Toynbee, a decadência de uma grande cultura vem geralmente acompanhada do surgimento de uma nova Igreja Universal que dá esperanças ao proletariado doméstico e ao mesmo tempo satisfaz as necessidades de uma nova classe guerreira. A escola tem todas as características para ser a Igreja Universal de nossa decadente cultura. Nenhuma outra instituição conseguiria esconder tão bem de seus participantes a profunda discrepância entre os princípios sociais e a realidade social do mundo de hoje. Secular, científica, nega a morte: identifica-se com as aspirações modernas. Sua fachada clássica e crítica faz com que se pareça pluralista ou até anti-religiosa. Seu currículo define ciência e, ao mesmo tempo, é definido pela assim chamada pesquisa científica. Ninguém nunca termina sua escolarização — ainda. A escola nunca fecha suas portas para alguém sem antes oferecer-lhe mais uma chance: estágios de recuperação, atualização, etc.
4.13 – A escola tornou-se problema social; é atacada por todos os lados. Cidadãos particulares e seus governos financiam experiências não-convencionais em todo o mundo. Recorrem a artifícios estatísticos incomuns para manter a crença e salvar a aparência. O ânimo de alguns educadores é semelhante ao dos bispos católicos após o Concílio Vaticano II. Os currículos das chamadas «escolas livres» se assemelham à liturgia das missas acompanhadas de músicas folclóricas ou de rock. As reivindicações dos estudantes do nível secundário, no sentido de terem voz na escola de seus professores, são tão estridentes quanto as reivindicações dos paroquianos exigindo participação na escolha de seus pastores. Mas, para a sociedade, a parada é bem maior quando uma significante minoria perde sua fé na escolarização. Isto poria em perigo não só a sobrevivência da ordem econômica, construída sobre a co-produção de bens e demandas, mas também, da ordem política, construída sobre o Estado-nação, ao qual a escola entrega seus alunos.
4.14 – Os estudantes… tendem a sentir-se paranoicos quando seriamente submetidos a um currículo.
4.15 – Basicamente, as escolas deixaram de ser dependentes da ideologia professada por determinado governo ou organização mercantil. Outras instituições básicas diferem de país para país: família, partido, igreja ou imprensa. Mas o sistema escolar tem sempre a mesma estrutura em qualquer parte e seu currículo secreto tem o mesmo efeito. Invariavelmente, bitola o consumidor que valoriza as mercadorias institucionais mais do que a contribuição não-profissional de um vizinho.
Em qualquer lugar do mundo o secreto currículo da escolarização inicia o cidadão no mito de que as burocracias guiadas pelo conhecimento científico são eficientes e benévolas. Em qualquer parte do mundo este mesmo currículo instila no aluno o mito de que maior produção vai trazer vida melhor. E em qualquer parte do mundo desenvolve o hábito de um consumo contraproducente de serviços e de produção alienante, com a tolerância da dependência institucional e o reconhecimento das hierarquias institucionais. O secreto currículo faz tudo isso apesar dos esforços em contrário dos professores, não importando a ideologia que prevaleça.
Em outras palavras, as escolas são fundamentalmente semelhantes em todos os países, sejam fascistas, democráticos ou socialistas, pequenos ou grandes, ricos ou pobres. Esta identidade do sistema escolar nos força a reconhecer a profunda identidade universal do mito, o modo de produção e o método de controle social, apesar da grande variedade de mitologias em que o mito é expresso.
Em vista dessa identidade, é ilusório dizer que as escolas são, num sentido mais profundo, variáveis dependentes. Isto significa que também é ilusão esperar que a mudança fundamental no sistema escolar ocorra como conseqüência da mudança econômica ou social convencional. Ao contrário, esta ilusão concede à escola — o órgão reprodutor de uma sociedade de consumo — uma imunidade quase inquestionável.
4.16 – Os aprendizes não deveriam ser forçados a um currículo obrigatório ou à discriminação baseada em terem um diploma ou certificado.
4.17 – O professor é cioso do livro-texto que ele define como seu instrumento de trabalho. O estudante pode chegar a odiar o laboratório porque o associa com as tarefas escolares. O administrador racionaliza sua atitude protetora para com a biblioteca como uma defesa do dispendioso equipamento público contra os que gostariam de brincar com ela em vez de aprender. Nesta atmosfera o estudante muitíssimas vezes usa o mapa, o laboratório, a enciclopédia ou o microscópio só nos raros momentos em que o currículo o obriga a tal. Mesmo os grandes clássicos tornam-se parte do «segundo ano de faculdade» quando deveriam marcar uma nova oportunidade na vida de uma pessoa. A escolta tira as coisas do uso cotidiano e as rotula como instrumentos educacionais.
Se quisermos desescolarizar, devemos inverter ambas as tendências. O meio-ambiente físico geral deve tornar-se acessível e os recursos físicos de aprendizagem que foram reduzidos a instrumentos de ensino devem tornar -se disponíveis a todos para a aprendizagem autodirigida. Usar as coisas apenas como parte de um currículo pode ter um efeito pior do que simplesmente removê-las do meio-ambiente em geral. Isto pode corromper o procedimento dos alunos.
5 – CERTIFICADOS E DIPLOMAS
5.1 – Os instrutores tornam-se escassos por causa da crença no valor dos registros. O certificado constitui uma forma de manipulação mercadológica e é plausível apenas a uma mente escolarizada. A maioria dos professores de artes e comércio são menos hábeis, menos inventivos e menos comunicativos que os melhores artesãos e comerciantes. A maioria dos professores de espanhol e francês que lecionam no secundário não falam a língua tão bem quanto seus alunos o fariam depois de meio ano de adequado treinamento. Experiências feitas por Angel Quintero, em Porto Rico, mostram que muitos adolescentes, se tiverem incentivos adequados, programas e acesso a instrumentos, são muito mais eficientes para introduzir seus colegas nas explorações científicas das plantas, estrelas, matéria e na descoberta de como e por que um motor ou rádio funciona do que a maioria dos professores escolares.
5.2 – A escola nos ensina que a instrução produz aprendizagem. A existência de escolas produz a demanda pela escolarização. Uma vez que aprendemos a necessitar da escola, todas as nossas atividades vão assumir a forma de relações de cliente com outras instituições especializadas. Uma vez que o autodidata foi desacreditado, toda atividade não profissional será suspeita. Aprendemos na escola que toda aprendizagem profícua é resultado da frequência, que o valor da aprendizagem aumenta com a quantidade de insumo (input) e, finalmente, que este valor pode ser mensurado e documentado por títulos e certificados.
5.3 – O resultado do processo de produção curricular assemelha-se ao de qualquer outro processo mercadológico moderno. É uma embalagem de significados planejados, um pacote de valores, um bem de consumo cuja «propaganda dirigida» faz com que se torne vendável a um número suficientemente grande de pessoas para justificar o custo de produção. Ensina-se aos alunos-consumidores que adaptem seus desejos aos valores à venda. São levados a sentirem-se culpados caso não ajam de acordo com as predições da pesquisa de consumo, recebendo os graus e certificados que os colocarão na categoria de trabalho pela qual foram motivados a esperar.
5.4 – Outra maneira de manter escassas as habilidades é insistir no certificado dos professores. Se as enfermeiras fossem incentivadas a treinar mulheres para serem também enfermeiras, e se as enfermeiras fossem contratadas à base de sua comprovada habilidade em aplicar injeções, preencher fichas, ministrar remédios, etc., cedo desapareceria a falta de enfermeiras treinadas. Os certificados tendem a abolir a liberdade de educação, convertendo o direito civil de partilhar um conhecimento em privilégio da liberdade acadêmica, conferido apenas aos empregados das escolas. Para garantir acesso a um efetivo intercâmbio de habilidades, precisamos de uma legislação que generalize a liberdade acadêmica. O direito de ensinar qualquer habilidade deveria cair sob a proteção da liberdade de falar. Uma vez removidas as restrições do ensino, serão também e logo removidas da aprendizagem.
Todos aprendemos o como viver sem o auxílio da escola. Aprendemos a falar, pensar, amar, sentir, brincar, praguejar, fazer política e trabalhar sem interferência de professor algum. Mesmo as crianças que estão sob os cuidados, dia e noite, de um professor não constituem exceção. Os órfãos, os excepcionais e os filhos de professores escolares adquirem a maioria de seus conhecimentos fora do processo «educacional» planejado para eles. Os professores deram uma fracassada demonstração quando tentaram incrementar a aprendizagem dos pobres. Os pais pobres que desejam que seus filhos frequentem a escola não se interessam tanto pelo que vão aprender quanto pelo certificado e pelo dinheiro que irão ganhar. E os pais da classe média confiam seus filhos aos cuidados de um professor para resguardá -los de aprender o que os pobres aprendem na rua. As pesquisas educacionais vêm, crescentemente, demonstrando que as crianças aprendem a maior parte do que os professores pretendem ensinar-lhes dos seus grupos de amigos, das histórias em quadrinhos, de observações fortuitas e, sobretudo, da mera participação no ritual escolar. Os professores, na maioria dos casos, obstaculizam esta aprendizagem de assuntos pelo modo como eles os apresentam na escola.
5.5 – A universidade moderna confere o privilégio de discordar apenas aos que foram testados e classificados como potenciais homens de dinheiro ou detentores de poder. Ninguém recebe um centavo dos fundos fiscais para formar-se nas horas vagas ou para educar outros, a não ser que possa comprová-lo por um certificado. As escolas escolhem para os estágios seguintes aqueles que, nos primeiros estágios do jogo, provaram ser bons investimentos para a ordem estabelecida. Tendo o monopólio, tanto dos recursos de aprendizagem, quanto da atribuição de funções sociais, a universidade escolhe o descobridor e o dissidente potencial. Todo título sempre deixa uma indelével etiqueta no currículo de seu consumidor. Os formados por universidade se enquadram apenas num mundo que coloca etiquetas comerciais em suas cabeças, dando-lhes, assim, a faculdade de definir o grau de expectativa na sua sociedade. Em todos os países, a quantidade consumida pelos formados em universidades fixa o padrão dos demais. Se quiserem parecer civilizados, devem aspirar ao estilo de vida dos formados em universidades.
5.6 – A existência de escolas produz a demanda pela escolarização. Uma vez que aprendemos a necessitar da escola, todas as nossas atividades vão assumir a forma de relações de cliente com outras instituições especializadas. Uma vez que o autodidata foi desacreditado, toda atividade não profissional será suspeita. Aprendemos na escola que toda aprendizagem profícua é resultado da frequência, que o valor da aprendizagem aumenta com a quantidade de insumo (input) e, finalmente, que este valor pode ser mensurado e documentado por títulos e certificados.
5.7 – Os aprendizes não deveriam ser forçados a um currículo obrigatório ou à discriminação baseada em terem um diploma ou certificado.
5.8 – Um estudante bem motivado que não trabalhe em condições muito adversas não precisa, em geral, de outra assistência humana que a de alguém que possa mostrar como fazer aquilo que o aprendiz deseja fazer. A exigência de que as pessoas com alguma habilidade, antes de demonstrá-la, devam ter um certificado de “mestres” é resultado da insistência de que as pessoas aprendem o que não querem saber ou de que todas as pessoas — mesmo as que se encontram em situações muito adversas — aprendem certas coisas num dado momento de sua vida, e, de preferência, em circunstâncias específicas.
5.9 – O que torna raras as habilidades no mercado educacional de hoje é a seguinte exigência institucional: os que poderiam demonstrá-las não o podem fazer sem terem recebido a confiança pública através de um certificado.
5.10 – Outra maneira de manter escassas as habilidades é insistir no certificado dos professores. Se as enfermeiras fossem incentivadas a treinar mulheres para serem também enfermeiras, e se as enfermeiras fossem contratadas à base de sua comprovada habilidade em aplicar injeções, preencher fichas, ministrar remédios, etc., cedo desapareceria a falta de enfermeiras treinadas. Os certificados tendem a abolir a liberdade de educação, convertendo o direito civil de partilhar um conhecimento em privilégio da liberdade acadêmica, conferido apenas aos empregados das escolas. Para garantir acesso a um efetivo intercâmbio de habilidades, precisamos de uma legislação que generalize a liberdade acadêmica. O direito de ensinar qualquer habilidade deveria cair sob a proteção da liberdade de falar. Uma vez removidas as restrições do ensino, serão também e logo removidas da aprendizagem.
5.11 – Muitos estudantes, especialmente os mais pobres, percebem intuitivamente o que a escola faz por eles. Ela os escolariza para confundir processo com substância. Alcançado isto, uma nova lógica entra em jogo: quanto mais longa a escolaridade, melhores os resultados; ou, então, a graduação leva ao sucesso. O aluno é, desse modo, «escolarizado» a confundir ensino com aprendizagem, obtenção de graus com educação, diploma com competência, fluência no falar com capacidade de dizer algo novo. Sua imaginação é «escolarizada» a aceitar serviço em vez de valor. Identifica erroneamente cuidar da saúde com tratamento médico, melhoria da vida comunitária com assistência social, segurança com proteção policial, segurança nacional com aparato militar, trabalho produtivo com concorrência desleal. Saúde, aprendizagem, dignidade, independência e faculdade criativa são definidas como sendo um pouquinho mais que o produto das instituições que dizem servir a estes fins; e sua promoção está em conceder maiores recursos para a administração de hospitais, escolas e outras instituições semelhantes.
A igualdade de oportunidades na educação é meta desejável e realizável, mas confundi-la com obrigatoriedade escolar é confundir salvação com igreja. A escola tornou-se a religião universal do proletariado modernizado, e faz promessas férteis de salvação aos pobres da era tecnológica. O Estado-nação adotou-a, moldando todos os cidadãos num currículo hierarquizado, à base de diplomas sucessivos, algo parecido com os ritos de iniciação e promoções hieráticas de outrora. O Estado moderno assumiu a obrigação de impor os ditames de seus educadores por meio de inspetores bem intencionados e de exigências empregatícias; mais ou menos como o fizeram os reis espanhóis que impunham os ditames de seus teólogos pelos conquistadores e pela Inquisição.
5.12 – Para isto, precisamos de uma lei que proíba toda discriminação na contratação empregatícia, nas eleições, na admissão a centros de aprendizagem baseados na prévia frequência a determinado curso. Isto não excluiria a aplicação de testes de qualificação para o exercício de algum papel ou função, mas eliminaria a absurda discriminação atual em favor das pessoas que obtiveram determinada habilidade às custas de maiores somas do erário público, ou — caso bastante semelhante — que conseguiram um diploma que não tem relação nenhuma com qualquer emprego ou trabalho concreto. Somente resguardando as pessoas de serem desqualificadas por qualquer coisa em sua carreira escolar, pode a abolição constitucional da escola tornar-se psicologicamente efetiva.
5.13 – A escolaridade não promove nem a aprendizagem e nem a justiça, porque os educadores insistem em embrulhar a instrução com diplomas. Misturam-se, na escola, aprendizagem e atribuição de funções sociais. Aprender significa adquirir nova habilidade ou compreensão, enquanto que a promoção depende da opinião formada de outros. A aprendizagem é, muitas vezes, resultado de instrução, ao passo que a escolha para uma função ou categoria no mercado de trabalho depende, sempre mais, do número de anos de frequência à escola.
5.14 – A promoção com vistas ao diploma ajeita o estudante para ocupar um lugar na mesma pirâmide internacional do contingente humano qualificado; não importa quem dirija a escola.
5.15 – Os terapeutas pedagógicos doparão sempre mais seus alunos com a finalidade de ensiná-los melhor; os estudantes tomarão mais drogas para se aliviarem das pressões dos professores e da corrida para os diplomas.
5.16 – [Dentre] as queixas comuns que se ouvem contra as escolas… uma delas é a que vem mencionada num recente levantamento da Comissão Carnegie: na escola, alunos matriculados se submetem a professores diplomados para obter também eles diplomas; ambos são frustrados e ambos responsabilizam a insuficiência de recursos — dinheiro, tempo e instalações — por sua frustração mútua.
Numa sociedade desescolarizada, os profissionais já não poderão exigir a confiança de seus clientes, baseados em seu diploma, ou confirmar sua reputação remetendo simplesmente seus clientes a outros profissionais que certifiquem a escolarização dos primeiros. Em vez de confiar em profissionais, deveria ser possível, a qualquer tempo e para qualquer cliente potencial, consultar outros clientes de determinado profissional para ver se estavam satis feitos com ele. Isto poderia ser feito através de outra rede de parceiros, facilmente estabelecida por um computador ou por outros meios. Essas redes poderiam ser consideradas serviços públicos, nos quais os estudantes pudessem escolher seus professores e os pacientes seus doutores.
5.17 – Os charlatães, demagogos, proselitistas, mestres corruptos, sacerdotes simoníacos, embusteiros, milagreiros e messias provaram ser capazes de assumir papel de liderança e, assim, mostraram os perigos que existem numa dependência aluno-mestre. Diversas sociedades tornaram distintas medidas para defender-se contra esses falsos professores. Os hindus se firmam nas castas; os judeus orientais no discipulado espiritual dos rabinos; o cristianismo dos tempos antigos baseava-se na vida exemplar da virtude monástica e o de outros tempos na ordem hierárquica. Nossa sociedade confia nos diplomas expedidos pelas escolas. É duvidoso que este procedimento faça melhor triagem, mas se alguém afirmar que realmente faz, então poderá objetar-se que o faz à custa do quase desaparecimento do discipulado pessoal.
6 – PROFESSOR
6.1 – Não há dúvida de que tanto o professor como o tipógrafo e o farmacêutico protegem seu comércio mediante a ilusão pública de que seu treinamento é muito caro.
6.2 – As escolas criam empregos para seus professores, não importa o que os alunos aprendem deles.
6.3 – Não importa que o professor seja um tradicional ou uma equipe de homens com uniforme branco. Não importa que tenham êxito ou fracassem no ensinar as matérias relacionadas no programa. O professor profissional cria um meio sagrado.
6.4 – A sabedoria institucionalizada das escolas diz aos pais, alunos e educadores que o professor que quer ensinar deve exercer sua autoridade num recinto sagrado. Isso também vale para professores cujos alunos passam a maior parte de seu tempo escolar numa sala de aula sem paredes.
A escola, por sua própria natureza, tende a exigir o tempo integral e todas as energias de seus frequentadores. Isso, por sua vez, transforma o professor em guardião, pregador e terapeuta.
Ao representar esses diferentes papéis o professor baseia sua autoridade em diferentes exigências.
O professor-guardião atua como mestre de cerimônias que dirige seus alunos através de um ritual labirinticamente traçado. É árbitro da observância das normas e ministra as intrincadas rubricas de iniciação à vida. No melhor dos casos, coloca os fundamentos para a aquisição de alguma habilidade, à semelhança daquela que os professores sempre possuem. Sem pretensões de conduzir a uma aprendizagem profunda, treina seus alunos em algumas rotinas básicas.
O professor-moralista substitui os pais, Deus ou o Estado. Doutrina os alunos sobre o que é certo e o que é falso, não apenas na escola, mas também na grande sociedade. Está in loco parentis para cada um dos alunos e, assim, garante que todos se sintam crianças da mesma nação.
O professor-terapeuta julga-se autorizado a investigar a vida particular de seus alunos a fim de ajudá-los a tornarem-se pessoas. Quando esta função é exercida por um guardião ou pregador, normalmente significa que persuade o aluno a domesticar sua visão do verdadeiro e seu senso do que é correto.
Dizer que a sociedade liberal pode apoiar-se na escola moderna é paradoxo. A salvaguarda da liberdade individual fica suspensa no relacionamento de um professor com seu aluno. Quando o professor reúne em sua pessoa as funções de juiz, ideólogo e médico perverte-se o estilo fundamental da sociedade pelo mesmo processo que deveria preparar para a vida. Um professor que reúne esses três poderes contribui muito mais para a distorção da criança do que as leis que determinam sua minoridade legal e econômica, ou que restringem seu direito à livre reunião e residência.
Os professores não são os únicos profissionais que oferecem terapia. Os psiquiatras educacionais, os orientadores vocacionais e mesmo os advogados ajudam seus clientes a decidir, a desenvolver sua personalidade e a aprender. Mas o sentimento comum diz ao cliente que esses profissionais se abstêm de impor sua opinião sobre o certo e o errado ou de forçar alguém a seguir seus conselhos. Os professores e os padres são os únicos profissionais que se acham autorizados a imiscuir-se nos assuntos privados de seus clientes, ao mesmo tempo que pregam para uma audiência cativa.
As crianças não têm a proteção nem do primeiro e nem do quinto mandamento quando estão diante desse padre secular, o professor. A criança se defronta com um homem que usa uma invisível tríplice coroa, semelhante à tiara papal, o símbolo da tríplice autoridade, reunida numa só pessoa. Para a criança, o professor pontifica como pastor, profeta e sacerdote; ele é, ao mesmo tempo, guia, professor e ministro do sagrado ritual. Reúne as pretensões dos papas medievais numa sociedade que garante que essas pretensões nunca serão exercidas juntas, por uma instituição estabelecida e obrigatória, seja Igreja ou Estado. A definição das crianças como alunos de tempo integral permite ao professor exercer uma espécie de poder que é muito menos limitado por restrições constitucionais e consuetudinárias do que o poder exercido por guardiães de outras áreas sociais. A idade cronológica desqualifica as crianças das salvaguardas que são rotina para os adultos num asilo moderno, seja manicômio, mosteiro ou prisão.
Sob o olhar autoritário do professor, diversas ordens de valores confundem-se numa só. A distinção entre moralidade, legalidade e valor pessoal torna-se confusa e é, eventualmente, eliminada. Toda transgressão torna-se uma ofensa múltipla. Espera-se que o transgressor sinta que violou uma norma, que agiu imoralmente e que traiu a si mesmo. Diz-se a um aluno que obteve ajuda irregular num exame que ele é um fora da lei, moralmente corrupto e sem dignidade pessoal.
A frequência escolar preserva as crianças do mundo cotidiano da cultura ocidental e as mergulha num ambiente bem mais primitivo, mágico e muito sério. A escola não poderia criar tal ambiente em que as normas da realidade comum ficam suspensas, a não ser mediante o encarceramento dos jovens em recinto sagrado durante muitos anos sucessivos. A lei da frequência obrigatória possibilita à sala de aula servir de ventre mágico, donde a criança é libertada periodicamente, ao final do dia ou ao findar do ano escolar, até que seja, finalmente, expelida para a vida adulta. A infância universal e a atmosfera carregada das salas de aula não poderiam existir sem a escola.
6.5 – A escola tornou-se problema social; é atacada por todos os lados. Cidadãos particulares e seus governos financiam experiências não-convencionais em todo o mundo. Recorrem a artifícios estatísticos incomuns para manter a crença e salvar a aparência. O ânimo de alguns educadores é semelhante ao dos bispos católicos após o Concílio Vaticano II. Os currículos das chamadas «escolas livres» se assemelham à liturgia das missas acompanhadas de músicas folclóricas ou de rock. As reivindicações dos estudantes do nível secundário, no sentido de terem voz na escola de seus professores, são tão estridentes quanto as reivindicações dos paroquianos exigindo participação na escolha de seus pastores. Mas, para a sociedade, a parada é bem maior quando uma significante minoria perde sua fé na escolarização. Isto poria em perigo não só a sobrevivência da ordem econômica, construída sobre a co -produção de bens e demandas, mas também, da ordem política, construída sobre o Estado-nação, ao qual a escola entrega seus alunos.
6.6 – Os terapeutas pedagógicos doparão sempre mais seus alunos com a finalidade de ensiná-los melhor; os estudantes tomarão mais drogas para se aliviarem das pressões dos professores e da corrida para os diplomas. Número crescente de burocratas vai arvorar-se em professores. A linguagem do homem de escola já foi escolhida pelo publicitário. Numa sociedade escolarizada, a guerra e a repressão civil encontram uma justificativa educacional.
6.7 – Os sindicatos de professores, os feiticeiros da técnica e o movimento de libertação educacional reforçou o engajamento da sociedade toda nos axiomas fundamentais do mundo escolarizado; algo semelhante ao que acontece com muitos movimentos de paz e protesto que reforçam a convicção de seus membros — negros, mulheres, crianças ou pobres — de procurar justiça no aumento da renda nacional bruta.
6.8 – Nossas atuais instituições educacionais estão a serviço dos objetivos do professor. As estruturas relacionais que precisamos são as que capacitam todo homem a definir-se a si mesmo pela aprendizagem e pela contribuição à aprendizagem dos outros.
6.9 – Se as escolas deixarem de ser compulsivas, os professores que encontram satisfação no exercício da autoridade pedagógica na classe serão deixados apenas com os alunos que se sintam atraídos por esse estilo. A desinstalação de nossa atual estrutura profissional poderia começar pela evasão dos professores escolares.
7 – REDES (TEIAS) DE APRENDIZAGEM
1 – Num capítulo anterior apresentei as queixas comuns que se ouvem contra as escolas; uma delas é a que vem mencionada num recente levantamento da Comissão Carnegie: na escola, alunos matriculados se submetem a professores diplomados para obter também eles diplomas; ambos são frustrados e ambos responsabilizam a insuficiência de recursos — dinheiro, tempo e instalações — por sua frustração mútua.
2 – Essa crítica leva muitas pessoas a perguntarem se existe outra possibilidade de aprendizagem. Paradoxalmente as mesmas pessoas, quando pressionadas a especificar como adquiriram o que sabem e valorizam, prontamente admitem que o aprenderam, as mais das vezes, fora e não dentro da escola. Seu conhecimento dos fatos, sua compreensão da vida e do trabalho lhes adveio pela amizade ou pelo amor, enquanto assistiam televisão ou liam, pelo exemplo de colegas ou por uma dissensão resultante de um encontro na rua. Ou talvez tenham aprendido o que sabem num noviciado ritual que precedeu à sua admissão num grupo de bairro; pela admissão em um hospital, no parque gráfico de um jornal, na oficina de um bombeiro ou no escritório de uma companhia de seguros. A alternativa para nossa dependência das escolas não é o uso dos recursos públicos para algum novo propósito que «faça» as pessoas aprenderem; é antes a criação de um novo estilo de relacionamento educacional entre o homem e o seu meio-ambiente. Concomitantemente com a promoção desse estilo devem mudar as atitudes para com o crescimento, os instrumentos da aprendizagem, a qualidade e estrutura da vida cotidiana.
3 – As atitudes já estão mudando. A orgulhosa dependência da escola desapareceu. A resistência do consumidor aumenta na indústria do conhecimento. Muitos professores e alunos, contribuintes fiscais e empregadores, economistas e policiais prefeririam não mais depender de escolas. O que impede que sua frustração modele novas instituições não é apenas falta de imaginação mas também de linguagem adequada e auto-interesse esclarecido. Não conseguem visualizar uma sociedade desescolarizada ou instituições educacionais numa sociedade que desinstalou a escola.
4 – Neste capítulo pretendo mostrar que o inverso da escola é possível: de que podemos depender de aprendizagem automotivada em vez de contratar professores para subornar ou compelir o estudante a encontrar tempo e vontade para aprender; de que podemos fornecer ao aprendiz novas relações com o mundo, em vez de continuar canalizando todos os programas educacionais através do professor. Abordarei algumas características gerais que distinguem escolarização de aprendizagem e apresentarei quatro grandes categorias de instituições educacionais que podem chamar a atenção não só de muitas pessoas individuais, mas também de muitos grupos de interesse.
UMA OBJEÇÃO: QUEM PODE SERVIR-SE DE PONTES QUE NÃO CONDUZEM A LUGAR ALGUM?
5 – Estamos habituados a considerar a escola uma variável dependente da estrutura política e econômica. Se conseguirmos mudar o estilo da liderança política, promover os interesses de uma ou outra classe, transferir a propriedade dos meios de produção do domínio privado para o domínio público, supomos que também mude o sistema escolar. As instituições educacionais que desejo propor estão concebidas para servir uma sociedade que ainda não existe, se bem que a frustração atual no tocante às escolas seja grande força potencial para impulsionar a mudança que permita novos arranjos sociais. Uma objeção óbvia foi levantada contra essa abordagem: por que canalizar energias para construir pontes que não levam a lugar algum, em vez de orientá-las primeiro para mudar o sistema político e econômico e não as escolas?
6 – Esta objeção, contudo, subestima a natureza econômica e política fundamental do próprio sistema escolar, bem como o potencial político inerente a qualquer desafio que se faça a este sistema.
7 – Basicamente, as escolas deixaram de ser dependentes da ideologia professada por determinado governo ou organização mercantil. Outras instituições básicas diferem de país para país: família, partido, igreja ou imprensa. Mas o sistema escolar tem sempre a mesma estrutura em qualquer parte e seu currículo secreto tem o mesmo efeito.
8 – Invariavelmente, bitola o consumidor que valoriza as mercadorias institucionais mais do que a contribuição não-profissional de um vizinho.
9 – Em qualquer lugar do mundo o secreto currículo da escolarização inicia o cidadão no mito de que as burocracias guiadas pelo conhecimento científico são eficientes e benévolas. Em qualquer parte do mundo este mesmo currículo instila no aluno o mito de que maior produção vai trazer vida melhor. E em qualquer parte do mundo desenvolve o hábito de um consumo contraproducente de serviços e de produção alienante, com a tolerância da dependência institucional e o reconhecimento das hierarquias institucionais. O secreto currículo faz tudo isso apesar dos esforços em contrário dos professores, não importando a ideologia que prevaleça.
10 – Em outras palavras, as escolas são fundamentalmente semelhantes em todos os países, sejam fascistas, democráticos ou socialistas, pequenos ou grandes, ricos ou pobres. Esta identidade do sistema escolar nos força a reconhecer a profunda identidade universal do mito, o modo de produção e o método de controle social, apesar da grande variedade de mitologias em que o mito é expresso.
11 – Em vista dessa identidade, é ilusório dizer que as escolas são, num sentido mais profundo, variáveis dependentes. Isto significa que também é ilusão esperar que a mudança fundamental no sistema escolar ocorra como conseqüência da mudança econômica ou social convencional. Ao contrário, esta ilusão concede à escola — o órgão reprodutor de uma sociedade de consumo — uma imunidade quase inquestionável.
12 – É neste ponto que o exemplo da China torna-se importante. Por três milênios a China protegeu o estudo superior através de um total divórcio entre o processo de aprendizagem e o privilégio do mandarim de proceder aos exames. Para tornar-se uma potência mundial e uma nação moderna, a China teve que adotar o estilo internacional de escolarização. Somente a retrospecção nos fará descobrir se a Grande Revolução Cultural acabou sendo a primeira tentativa bem sucedida de desescolarizar as instituições da sociedade.
13 – Mesmo a criação lenta de novas agências educacionais que fossem o inverso da escola seria um ataque ao aspecto mais sensível de um fenômeno penetrante, organizado pelo Estado em todos os países. Um programa político que não reconheça explicitamente a necessidade de desescolarização não é revolucionário; está demagogicamente pedindo mais escolarização. Todo programa político importante da década de setenta deveria ser avaliado pela seguinte medida: com que precisão afirma a necessidade de desescolarização e com que precisão traça as linhas mestras da qualidade educacional para a sociedade que preconiza?
14 – A luta contra a dominação exercida pelo mercado mundial e pela política das grandes potências pode estar além das forças de comunidades ou países pobres, mas esta fraqueza é outra r azão para enfatizar a importância de libertar toda sociedade por meio de uma inversão de suas estruturas educacionais — uma mudança que não está além dos meios de qualquer sociedade.
CARACTERÍSTICAS GERAIS DE NOVAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS E FORMAIS
15 – Um bom sistema educacional deve ter três propósitos: dar a todos que queiram aprender acesso aos recursos disponíveis, em qualquer época de sua vida; capacitar a todos os que queiram partilhar o que sabem a encontrar os que queiram aprender algo deles e, finalmente, dar oportunidade a todos os que queiram tornar público um assunto a que tenham possibilidade de que seu desafio seja conhecido. Tal sistema requer a aplicação de garantias constitucionais à educação. Os aprendizes não deveriam ser forçados a um currículo obrigatório ou à discriminação baseada em terem um diploma ou certificado. Nem deveria o povo ser forçado a manter, através de tributação regressiva, um imenso aparato profissional de educadores e edifícios que, de fato, restringe as chances de aprendizagem do povo aos serviços que aquela profissão deseja colocar no mercado. E preciso usar a tecnologia moderna para tornar a liberdade de expressão, de reunião e imprensa verdadeiramente universal e, portanto, plenamente educativa.
16 – As escolas estão baseadas na suposição de que há um segredo para tudo nesta vida; de que a qualidade da vida depende do conhecimento desse segredo; de que os segredos só podem ser conhecidos em passos sucessivos e ordenados; de que apenas os professores sabem revelar corretamente esses segredos. Um indivíduo de mentalidade escolarizada concebe o mundo como uma pirâmide, composta de pacotes classificados; a eles só têm acesso os que possuem os rótulos adequados. As novas instituições educacionais quebrarão esta pirâmide. Seu objetivo deve ser facilitar o acesso ao aprendiz: se não puder entrar pela porta, permitir-lhe que, pela janela, olhe para dentro da sala de controle ou do parlamento. Ainda mais, essas novas instituições devem ser canais aos quais o aprendiz tenha acesso sem credenciais ou linhagem — logradouros públicos em que colegas e pessoas mais idosas, fora de um horizonte imediato, tornem-se disponíveis.
17 – Acredito que apenas quatro — possivelmente três — «canais» diferentes ou intercâmbios de aprendizagem poderiam conter todos os recursos necessários para uma real aprendizagem. A criança se desenvolve num mundo de coisas, rodeada por pessoas que lhe servem de modelo das habilidades e valores. Encontra colegas que a desafiam a interrogar, competir, cooperar e compreender; e, se a criança tiver sorte, estará exposta a confrontações e críticas feitas por um adulto experiente e que realmente se interessa por sua formação. Coisas, modelos, colegas e adultos são quatro recursos; cada um deles requer um diferente tipo de tratamento para assegurar que todos tenham o maior acesso possível a eles.
18 – Usarei o termo «teia de oportunidades» em vez de «rede» para designar modalidades específicas de acesso a cada um dos quatro conjuntos de recursos. A palavra «rede» é muitas vezes usada erroneamente para designar os canais reservados ao material selecionado por outros para doutrinação, instrução e diversão. Mas também pode ser usada para os serviços telefônicos e postais que são principalmente utilizados pelos indivíduos que desejam enviar mensagens uns aos outros. Oxalá tivéssemos outra palavra com menos conotações de armadilha, menos batida pelo uso corrente e mais sugestiva pelo fato de incluir aspectos legais, organizacionais e técnicos. Não encontrando tal palavra, tentarei redimir a que está disponível, usando-a como sinônimo de «teia educacional».
19 – O que é preciso são novas redes, imediatamente disponíveis ao público em geral e elaboradas de forma a darem igual oportunidade para a aprendizagem e o ensino.
20 – Tomemos um exemplo: o mesmo nível tecnológico é empregado na TV e nos gravadores. Todos os países latino-americanos já introduziram a TV. Na Bolívia, o governo financiou uma estação de TV, construída há seis anos atrás, e não existem mais do que sete mil televisores para os quatro milhões de habitantes. O dinheiro que foi empregado nas instalações de TV em toda a América Latina é tanto que poderia ter fornecido a uma pessoa entre cinco um gravador. E mais, o dinheiro teria dado também para fazer uma biblioteca quase completa de fitas gravadas, bem como um grande estoque de fitas virgens.
21 – Esta rede de gravadores seria bem diferente da atual rede de TV. Daria oportunidade para a livre expressão: letrados e iletrados poderiam igualmente gravar, guardar, difundir e repetir suas opiniões. O atual investimento na TV, porém, fornece aos burocratas, sejam eles políticos ou educadores, poder para salpicar o continente com programas institucionalmente produzidos que eles — ou seus patrocinadores — acham ser bons para o público ou que são por ele demandados.
22 – A tecnologia está à disposição ou da independência e da aprendizagem ou, então, da burocracia e do ensino.
QUATRO REDES
23 – O planejamento de novas instituições educacionais não deve começar com as metas administrativas de um príncipe ou presidente, nem com as metas de ensino de um educador profissional e nem com as metas de aprendizagem de alguma classe hipotética de pessoas. Não deve começar com a pergunta: «O que deve alguém aprender?», mas com a pergunta: «Com que espécie de pessoas e coisas gostariam os aprendizes de entrar em contacto para aprender?»
24 – Alguém que deseja aprender sabe que precisa da informação e da crítica dos outros. A informação pode ser armazenada nas coisas e nas pessoas. Num bom sistema educacional, o acesso às coisas deve estar disponível ao simples aceno do aprendiz, enquanto o acesso aos informantes requer, ainda, o consentimento de outros. As críticas podem provir de dois lados: de colegas ou de pessoas mais adultas, isto é, de aprendizes cujos interesses imediatos coincidem com os meus, ou daqueles que desejam partilhar comigo suas experiências mais amplas. Os colegas podem ser pessoas do mesmo nível com as quais se discute um assunto, companheiros de leituras amenas e agradáveis (ou árduas) ou de passeios, adversários em qualquer tipo de jogo. As pessoas mais idosas podem ser consultores sobre que espécie de aptidão aprender, que método seguir, que tipo de companheiros procurar em dada época; podem ser guias para indicar questões que devem ser discutidas entre os companheiros e para cobrir as deficiências das respostas dadas. A maioria desses recursos existe em abundância. Mas não são comumente percebidos como recursos educativos, nem é fácil ter acesso a eles para fins de aprendizagem, sobretudo se o aprendiz for pobre. Devemos pensar em novas estruturas relacionais, intencionalmente montadas, para facilitar o acesso a esses recursos de todos os que queiram procurá- los para melhorar sua formação. Devem ser tomadas as providências administrativas, técnicas e, sobretudo, legais para estabelecer essas estruturas tipo «teia».
25 – Os recursos educacionais são geralmente rotulados de acordo com as metas curriculares dos educadores. Proponho fazer o contrário, rotular quatro diferentes abordagens que permitam ao estudante ter acesso a todo e qualquer recurso educacional que poderá ajudá-lo a definir e obter suas próprias metas:
1°) Serviço de consultas a objetos educacionais — que facilitem o acesso a coisas ou processos que concorrem para a aprendizagem formal. Algumas coisas podem ser totalmente reservadas para este fim, armazenadas em bibliotecas, agências de aluguéis, laboratórios e locais de exposição tais como museus e teatros; outras podem estar em uso diário nas fábricas, aeroportos ou fazendas, mas devem estar à disposição dos estudantes, seja durante o trabalho ou nas horas vagas.
2°) Intercâmbio de habilidades — que permite as pessoas relacionarem suas aptidões, dar as condições mediante as quais estão dispostas a servir de modelo para outras que desejem aprender essas aptidões e o endereço em que podem ser encontradas.
3°) Encontro de colegas — uma rede de comunicações que possibilite as pessoas descreverem a atividade de aprendizagem em que desejam engajar-se, na esperança de encontrar um parceiro para essa pesquisa.
4°) Serviço de consultas a educadores em geral — que podem ser relacionados num diretório dando o endereço e a autodescrição de profissionais, não-profissionais, «free-lancers», juntamente com as condições para ter acesso a seus serviços. Tais educadores, como veremos, podem ser escolhidos por votação ou consultando seus clientes anteriores.
SERVIÇO DE CONSULTAS A OBJETOS EDUCACIONAIS
26 – As coisas são recursos básicos para a aprendizagem. A qualidade do meio-ambiente e o relacionamento de uma pessoa com ele irá determinar o quanto ela aprenderá incidentalmente. A aprendizagem formal requer acesso especial a coisas comuns, por um lado, e acesso fácil e seguro a coisas especiais, feitas para fins educativos, por outro. Exemplo do primeiro caso é a licença especial de operar ou desmontar uma máquina. Exemplo do segundo caso é a licença geral de usar um ábaco, um computador, um livro, um jardim botânico ou uma máquina retirada do uso e colocada à inteira disposição dos estudantes.
27 – Atualmente, a atenção está voltada para a disparidade entre as crianças ricas e pobres no que diz respeito a seu acesso às coisas e à maneira em que podem aprender. A OEO (Office of Economic Opportunity) e outras agências, seguindo esta orientação, concentraram sua atenção na igualdade de oportunidades, tentando providenciar mais material educativo para os pobres. Um ponto de partida mais radical seria reconhecer que, nas cidades, pobres e ricos são artificialmente mantidos longe das coisas que os rodeiam. As crianças nascidas na era dos plásticos e dos peritos devem vencer duas barreiras que impedem sua compreensão: uma inerente às coisas e a outra ligada às instituições. O esquema industrial cria um mundo de coisas que resistem à introspecção em sua natureza; e as escolas impedem a entrada do aprendiz no mundo das coisas, em sua estrutura significativa.
28 – Após curta visita a Nova York, uma senhora de aldeia mexicana contou-me que estava impressionada com o fato de as lojas venderem «apenas mercadorias altamente misturadas com cosméticos». No fundo, ela queria dizer que os produtos industriais «falam» a seus consumidores pelas aparências e não por sua natureza. A indústria cercou as pessoas com artefatos cujo segredo íntimo apenas os especialistas podem conhecer. O não-especialista é desencorajado a descobrir porque o relógio faz tic-tac, porque o telefone toca, porque a máquina de escrever elétrica trabalha, pois sempre há um aviso dizendo que o aparelho pode estragar-se. Pode ser ensinado por que o rádio transistor funciona, mas não pode descobri-lo por si mesmo. Esse tipo de procedimento tende a reforçar a existência de uma sociedade não-inventiva em que os peritos acham mais fácil esconder-se atrás de suas perícias e a salvo da avaliação.
29 – O meio-ambiente criado pelo homem tornou-se tão imperscrutável quanto o é a natureza para os povos primitivos. Ao mesmo tempo, o material educativo foi monopolizado pelas escolas. Os simples objetos educativos foram dispendiosamente empacotados pela indústria do conhecimento. Tornaram-se instrumentos especializados para educadores profissionais e seus custos foram inflacionados forçando-os a estimularem os meios-ambientes ou os professores.
30 – O professor é cioso do livro-texto que ele define como seu instrumento de trabalho. O estudante pode chegar a odiar o laboratório porque o associa com as tarefas escolares. O administrador racionaliza sua atitude protetora para com a biblioteca como uma defesa do dispendioso equipamento público contra os que gostariam de brincar com ela em vez de aprender. Nesta atmosfera o estudante muitíssimas vezes usa o mapa, o laboratório, a enciclopédia ou o microscópio só nos raros momentos em que o currículo o obriga a tal. Mesmo os grandes clássicos tornam-se parte do «segundo ano de faculdade» quando deveriam marcar uma nova oportunidade na vida de uma pessoa. A escolta tira as coisas do uso cotidiano e as rotula como instrumentos educacionais.
31 – Se quisermos desescolarizar, devemos inverter ambas as tendências. O meio-ambiente físico geral deve tornar-se acessível e os recursos físicos de aprendizagem que foram reduzidos a instrumentos de ensino devem tornar -se disponíveis a todos para a aprendizagem autodirigida. Usar as coisas apenas como parte de um currículo pode ter um efeito pior do que simplesmente removê-las do meio-ambiente em geral. Isto pode corromper o procedimento dos alunos.
32 – Os jogos são um bom exemplo. Não falo dos «jogos» do departamento de educação física (futebol ou basquete) que as escolas usam para obter rendas e prestígio e nos quais fizeram um grande investimento de capital. Como os próprios atletas bem o sabem, esses empreendimentos que tomam a forma de torneios bélicos minaram o espírito esportivo e são usados para reforçar a natureza competitiva das escolas. Refiro-me antes aos jogos educativos que podem oferecer -nos a única maneira de penetrar os sistemas formais. A teoria dos conjuntos, a lingüística, a lógica proposicional, a geometria, a física e mesmo a química revelam-se com relativo pouco esforço a determinadas pessoas que praticam esses jogos. Um amigo meu foi a um mercado mexicano com um jogo chamado «Wff’n Proof» que consiste num jogo de dados em que estão impressos doze símbolos lógicos. Mostrou às crianças como duas ou três combinações constituíam uma sentença. Intuitivamente, no espaço de uma hora alguns observadores compreenderam o funcionamento. Em poucas horas de provas lógicas formais apresentadas por um jogo, algumas crianças eram capazes de ensinar a outras as provas fundamentais da lógica proposicional. Outros desistiram.
33 – Para algumas crianças tais jogos são uma forma especial de educação libertadora, pois aumentam sua consciência de que os sistemas formais estão baseados em axiomas mutáveis e que as operações conceptuais têm uma natureza lúdica. São também simples, baratos, e, em grande parte, podem ser organizados pelos próprios jogadores. Usados fora do currículo, são excelente oportunidade para descobrir e desenvolver talentos especiais; ao passo que os orientadores educacionais ou o serviço psicológico da escola classificará, muitas vezes, os que possuem esses talentos como estando em perigo de se tornarem anti-sociais, doentes ou desequilibrados. Nas escolas, quando realizados sob a forma de torneio, os jogos são tirados da esfera do lazer e tornam-se, muitas vezes, instrumentos para transformar a ludicidade em competição, uma falta de raciocínio abstrato em sinal de inferioridade. Um exercício libertador para pessoas com certo temperamento converte- se em camisa de força para outras.
34 – O controle escolar sobre o material educativo tem ainda outro efeito. Aumenta consideravelmente o custo desse material barato. Uma vez que seu uso é restrito a horas programadas, há profissionais pagos para supervisionar sua aquisição, conservação e uso. Depois, os alunos descarregam seu descontentamento com a escola sobre o material que, então, precisa ser comprado novamente.
35 – A intocabilidade do material escolar é comparável à impenetrabilidade da moderna sucata. Na década de trinta qualquer rapaz que se prezava sabia consertar um automóvel, mas, agora, os fabricantes de carros complicam o funcionamento, acrescentando sempre mais fios, e restringem apenas aos mecânicos especializados o acesso aos manuais. Antigamente, um rádio continha suficientes bobinas e condensadores para se construir um transmissor que fazia chiar todos os rádios da vizinhança. Os rádios transistores são mais facilmente portáveis, mas ninguém se atreve a desmontá-los. Mudar essa situação nos países altamente industrializados será muito difícil, mas, ao menos no Terceiro Mundo, devemos insistir para que se introduzam nas coisas qualidades educativas.
36 – À guisa de ilustração, tomemos um exemplo: com um gasto de dez milhões de dólares é possível conectar 40 mil aldeias num país como o Peru, construindo uma rede de estradas de dois metros de largura, mantê-la e ainda dar ao país 200.000 «mulas mecânicas» de três rodas, uma média de cinco para cada aldeia. Poucos são os países, do tamanho do Peru, que gastam anualmente menos do que esta quantia em carros e rodovias; ambos esses bens estão restritos ao uso dos ricos e de seus empregados, enquanto as pessoas pobres permanecem isoladas em suas aldeias. Cada um desses veículos, simples mas duráveis, custaria US$125 — a metade dessa soma seria para pagar a transmissão e um motor de 6 HP. A «mula» poderia fazer 25 quilômetros por hora e carregar 425 quilos (isto é, a maioria das coisas, fora toras e barras de aço, que é geralmente transportada).
37 – O valor político de um tal sistema de transporte para os camponeses é óbvio. Igualmente óbvia é a razão por que aqueles que têm o poder — e com isso automaticamente possuem um carro — não estão interessados em gastar dinheiro com estradas e ter rodovias cheias de «mulas mecânicas». A introdução da «mula mecânica» em âmbito geral só poderia funcionar se os dirigentes de uma nação se dispusessem a impor um limite nacional de velocidade, digamos, de 40km/hora e adaptar suas instituições públicas a isso. Este modelo não funcionaria se fosse considerado apenas um subterfúgio.
38 – Não é oportuno discutir agora a viabilidade política, social, econômica e financeira desse modelo. Quero apenas frisar que as considerações educativas devem ocupar primazia quando se escolhe uma alternativa desse tipo para o transporte. Aumentando o custo unitário por «mula» em 20%, seria possível planejar a produção de todas as suas peças de tal forma que todo proprietário, na medida do possível, gastasse um mês ou dois montando e estudando sua máquina e, depois, fosse capaz de consertá -la. Com este custo adicional seria possível também descentralizar a produção para diversas fábricas. Outros benefícios, que não apenas a inclusão dos custos educacionais no processo construtivo, resultariam daí. Um motor durável que praticamente qualquer um poderia aprender a consertar e que poderia ser usado como arado ou bomba por quem o soubesse traria maiores benefícios educacionais do que as ininteligíveis máquinas dos países desenvolvidos.
39 – Não só a sucata, mas também os logradouros públicos das modernas cidades tornaram-se impenetráveis. Na sociedade americana, as crianças são proibidas de aproximarem-se da maioria das coisas e lugares porque são propriedade privada. Mas até nas sociedades que declararam o fim da propriedade privada as crianças são afastadas desses mesmos lugares e coisas porque são considerados domínio especial de profissionais e perigosos para os não-iniciados. Desde a geração passada, a estação ferroviária tornou- se tão inacessível quanto o quartel de bombeiros. Com um pouco de imaginação não seria difícil zelar pela segurança em tais lugares. Desescolarizar os artefatos educativos significa tornar disponíveis os artefatos e os processos e reconhecer seu valor educativo. Certamente, alguns trabalhadores considerarão inconveniente estar à disposição dos aprendizes; mas esta inconveniência deve ser contrabalançada com os proveitos educacionais.
40 – Os carros particulares poderiam ser proscritos de Manhattan. Há cinco anos teria sido inimaginável. Agora certas ruas de Nova York ficam interditadas ao tráfego em certas horas e a tendência provavelmente continuará. Na verdade, a maioria das ruas transversais deveria ser fechada ao tráfego e o estacionamento proibido em qualquer lugar. Numa cidade aberta ao povo, o material de ensino que está atualmente trancado em depósitos e laboratórios poderia ser exposto em locais adequados para que as crianças e adultos pudessem vê-lo sem perigo de serem atropelados.
41 – Se as metas de aprendizagem não mais fossem dominadas pelas escolas e professores escolares, o mercado para os aprendizes seria bem mais variado e a definição de «artefatos educativos» seria menos restritiva. Poderia haver lojas de utensílios, bibliotecas, laboratórios e salões de jogos. Os laboratórios fotográficos e as impressoras «offset» permitiriam o florescimento de jornais da vizinhança. Alguns desses centros educativos poderiam ter cabinas de televisão de circuito fechado; outros poderiam projetar equipamento de escritório para seu uso e conserto próprio. Os toca-discos e os toca-fitas seriam lugares-comuns. Alguns se especializariam em música clássica, outros em músicas populares internacionais e outros ainda em jazz. Os clubes de cinema competiriam entre si e com a televisão comercial. As saídas dos museus poderiam ser redes de exposições circulantes de obras de arte, antigas e novas, originais e reproduções, talvez administradas pelos museus metropolitanos.
42 – O pessoal necessário para esta rede deveria ser constituído de guardas, guias de museu e bibliotecários, mas não professores. Uma loja de biologia, situada numa esquina qualquer, poderia encaminhar os visitantes interessados a uma coleção de conchas no museu ou indicar a próxima apresentação de videotapes em determinada cabina de televisão. Poderiam fornecer guias para controle de pestes, dietas e outras espécies de medicina preventiva. Poderiam encaminhar pessoas necessitadas de aconselhamento a «adultos» que estariam capacitados a proporcioná-lo.
43 – Pode haver duas modalidades de financiar uma rede de «objetos de aprendizagem». Uma comunidade poderia determinar um orçamento máximo para este fim e fazer com que todas as part es da rede estivessem abertas a todos os visitantes em horário razoável. Ou a comunidade poderia dar aos cidadãos limitado número de bilhetes, de acordo com sua faixa de idade, para que tivessem acesso especial a certos materiais mais caros e mais raros, deixando o material mais comum acessível a todos.
44 – Encontrar recursos para material especificamente educativo é apenas um — e talvez o menos difícil — aspecto da construção de um mundo educacional. O dinheiro atualmente gasto nos sagrados acessórios do ritual escolar poderia ser empregado em dar a todos os cidadãos maior acesso à verdadeira vida da cidade. Incentivos fiscais poderiam ser dados aos que empregassem menores entre 8 e 14 anos por algumas horas diárias, isto se as condições de emprego fossem humanas. Deveríamos voltar à tradição do bar mitzvah ou confirmação. Com isso quero dizer que deveríamos, primeiro, restringir e, depois, eliminar a privação de direitos civis dos jovens e permitir que um rapaz de doze anos venha a tornar-se um homem inteiramente responsável pela sua participação na vida da comunidade. Muitas pessoas “em idade escolar” sabem mais a respeito da sua vizinhança do que os assistentes sociais ou vereadores. Evidentemente, também fazem perguntas mais embaraçosas e apresentam soluções que ameaçam a burocracia.
45 – Deveríamos permitir que atingissem a maioridade de forma que pudessem pôr em ação seus conhecimentos e sua habilidade de descobrir fatos, a serviço de um governo popular.
46 – Até há pouco tempo os perigos da escola eram facilmente subestimados em comparação com os perigos da aprendizagem na polícia, no corpo de bombeiros ou na indústria de diversões. Era fácil justificar as escolas ao menos como meio de proteger a juventude. Este argumento, muitas vezes, já não encontra validade. Recentemente visitei uma igreja metodista no Harlem ocupada por um grupo armado de Young Lords em protesto contra a morte de Julio Rodan, um jovem porto-riquenho enforcado na cela da prisão. Eu conhecia os líderes do grupo que haviam passado um semestre em Cuernavaca. Quando perguntei por que Juan, que era um deles, não estava, recebi, surpreso, a resposta de que havia «voltado para a heroína e para a Universidade do Estado».
47 – O planejamento, os incentivos e a legislação podem ser usados para liberar o potencial educativo, encerrado no enorme investimento feito pela sociedade em instalações e equipamentos. Não haverá pleno acesso aos objetos educacionais enquanto as firmas comerciais tiverem a permissão de combinar as proteções legais que a Declaração dos Direitos do Homem reserva à vida privada dos indivíduos com o poder econômico, conferido a elas por seus milhões de consumidores, milhares de empregados, acionistas e fornecedores. A maior parte do «know-how» mundial, dos processos de produção e equipamento está encerrada dentro das paredes das firmas comerciais, inacessível a seus consumidores, empregados e acionistas bem como ao público em geral, cujas leis e facilidades permitem que elas funcionem. O dinheiro atualmente gasto em publicidade nos países capitalistas poderia ser reorientado para a educação na e pela General Eletric, cadeia de televisão NBC ou cervejaria Budweiser. Isto é, as instalações e escritórios deveriam ser reorganizados de modo que suas operações diárias pudessem ser mais acessíveis ao público a fim de tornar possível a aprendizagem; e deveriam ser encontradas formas de pagar as empresas pela aprendizagem que as pessoas obtivessem delas.
48 – Até pouco tempo atrás a ciência era um fórum que funcionava como sonho de anarquista. Toda pessoa capaz de fazer pesquisa tinha mais ou menos igual oportunidade de acesso a seus instrumentos e a uma audiência de grupo de colegas. Hoje, a burocratização e a organização colocaram a maior parte da ciência para além do alcance público. O que costumava ser uma rede internacional de informação científica fraccionou-se numa arena de equipes rivais. Os membros e os artefatos da comunidade científica foram encerrados em programas nacionais e corporativos, orientados para realizações práticas e para o empobrecimento radical dos homens que sustentam essas nações e corporações.
49 – Num mundo controlado e possuído por nações e corporações, sempre haverá apenas um acesso limitado aos objetos educacionais. Mas, se o acesso a esses objetos — que podem ser partilhados com fins educativos — aumentar, ele nos pode esclarecer suficientemente para rompermos essas últimas barreiras políticas. As escolas públicas transferem o controle do uso dos objetos educacionais, tirando-o dos particulares e passando-o para mãos profissionais. A inversão institucional das escolas poderia autorizar o indivíduo a reclamar o direito de usá-los para a educação. Poderia surgir uma espécie de verdadeiro domínio público se o controle privado ou corporativo sobre o aspecto educacional das «coisas» fosse levado até o desaparecimento.
INTERCÂMBIO DE HABILIDADES
50 – Diferentemente de uma guitarra, um professor de guitarra não pode estar exposto num museu, nem ser propriedade pública e nem ser alugado. Professores e habilidades pertencem a uma categoria de recursos diferente daquela a que pertencem os objetos necessários para aprender uma habilidade. Isto não significa que sejam sempre indispensáveis. Posso tomar emprestado não só uma guitarra, mas também lições gravadas em disco ou fitas magnéticas, guias práticos ilustrados, e com isso posso aprender perfeitamente a tocar guitarra. Isto pode ter suas vantagens: se as gravações disponíveis são melhores que os professores disponíveis, se o único tempo que tenho para aprender é à alta noite, se as melodias que desejo tocar são desconhecidas em meu país, se for tímido e preferir «arranhar» sozinho.
51 – Os professores que ensinam certas habilidades devem estar registrados e ser localizados por vias diferentes das dos objetos. Um objeto está disponível — ou deveria estar — a pedido do usuário, ao passo que uma pessoa torna-se formalmente um recurso para aprender uma habilidade unicamente quando consentir em sê-lo, e pode ainda delimitar o tempo, lugar e método.
52 – Esses professores devem ser distinguidos dos companheiros dos quais se pode aprender alguma coisa. Companheiros que desejam fazer uma pesquisa em comum devem partir de interesses e habilidades comuns; juntam-se para desenvolver ou exercitar uma habilidade que compartilhem: basquete, danças, construção de um lugar de acampamentos, discussão das próximas eleições. O primeiro ato de uma transmissão de habilidades, no entanto, requer o encontro de alguém que possua a habilidade e de alguém que não possua, mas deseja adquiri-la.
53 – Um «modelo» é uma pessoa que tenha uma habilidade e está disposta a demonstrá-la na prática. Uma demonstração dessa natureza é muitas vezes recurso necessário para um aprendiz em potencial. As invenções modernas permitem gravar essa demonstração numa fita, num filme ou num cartaz; muitos creem, porém, que a demonstração pessoal será sempre solicitada, sobretudo em se tratando de habilidades de comunicação. Perto de 10 mil adultos aprendem espanhol em nosso Centro de Cuernavaca. Eram, na maioria, pessoas altamente motivadas, as quais pretendiam adquirir uma fluência bem próxima à do povo do lugar. Quando se viam diante da alternativa de escolher entre instrução cuidadosamente programada num laboratório ou entre sessões práticas com dois outros estudantes e uma pessoa do lugar, seguindo rotina preestabelecida, escolhiam em geral a segunda.
54 – Para amplo compartilhamento de habilidades, o único recurso humano que sempre precisamos e teremos é uma pessoa que demonstre esta habilidade. Seja no falar ou pilotar, no cozinhar ou no uso de aparelhos de comunicação, mal nos damos conta que existe uma aprendizagem e instrução formal, especialmente depois de nossa primeira experiência com os materiais em questão. Não vejo por que outras habilidades complexas, tais como os aspectos mecânicos da cirurgia, tocar um violino, ler ou usar diretórios e catálogos, não possam ser aprendidos da mesma forma.
55 – Um estudante bem motivado que não trabalhe em condições muito adversas não precisa, em geral, de outra assistência humana que a de alguém que possa mostrar como fazer aquilo que o aprendiz deseja fazer. A exigência de que as pessoas com alguma habilidade, antes de demonstrá-la, devam ter um certificado de “mestres” é resultado da insistência de que as pessoas aprendem o que não querem saber ou de que todas as pessoas — mesmo as que se encontram em situações muito adversas — aprendem certas coisas num dado momento de sua vida, e, de preferência, em circunstâncias específicas.
56 – O que torna raras as habilidades no mercado educacional de hoje é a seguinte exigência institucional: os que poderiam demonstrá -las não o podem fazer sem terem recebido a confiança pública através de um certificado. Volto a frisar: os que ajudam outros a adquirir uma habilidade devem também saber diagnosticar as dificuldades de aprendizagem e ser capazes de motivar as pessoas a aprender uma habilidade. Em resumo, exigimos que sejam «mestres». Haverá em abundância pessoas que saibam demonstrar habilidades se aprendermos a reconhecê-las fora da profissão de ensinar.
57 – É compreensível — ainda que não defensável por muito tempo — a insistência dos pais de que, quando se trata de ensino a principezinhos, seja uma só pessoa o professor e o que ensina as habilidades. Mas é utópico que todos os pais queiram ter um Aristóteles para o seu Alexandre. É tão raro encontrar e tão difícil de reconhecer uma pessoa que saiba, ao mesmo tempo, influenciar estudantes e demonstrar alguma habilidade que até os principezinhos, as mais das vezes, se tornam sofistas em vez de verdadeiros filósofos.
58 – A demanda por certas habilidades raras pode ser rapidamente satisfeita, mesmo que haja poucas pessoas para demonstrá-las; só que essas pessoas têm que estar facilmente disponíveis. Na década de 40, os consertadores de rádios — a maioria com nenhuma aprendizagem escolar em seu ofício — só ficaram dois anos atrasados em relação à própria chegada dos aparelhos no interior da América Latina. Lá ficaram até que os rádios transistores, fáceis de comprar e impossíveis de consertar, puseram-nos fora de ação. As escolas técnicas de hoje fracassam em conseguir o que os consertadores daqueles rádios tão bons e mais duráveis faziam normalmente.
59 – Auto-interesses convergentes conspiram agora para impedir que uma pessoa partilhe com outra suas habilidades. Quem possui uma habilidade tira proveito de sua escassez e não de sua reprodução. O professor que se especializa em transmitir determinada habilidade tira proveito do fato de o artesão não querer difundir largamente aquilo que aprendeu. O público em geral foi doutrinado para acreditar que as habilidades são valiosas e de confiança unicamente se forem resultado de escolarização formal. O mercado de trabalho depende de tornar as habilidades escassas e conservá-las assim, seja proscrevendo seu uso ou transmissão não-autorizados, seja fabricando coisas que só podem ser manejadas ou consertadas por aqueles que têm acesso a ferramentas e informações especiais, estas sempre escassas.
60 – As escolas produzem deficitariamente pessoas com alguma habilidade. Bom exemplo disso é a diminuição do número de enfermeiras nos Estados Unidos, devido à exigência de 4 anos de ensino superior. As mulheres de famílias mais pobres que se teriam matriculado num curso de dois ou três anos estão, agora, totalmente ausentes da profissão de enfermeira.
61 – Outra maneira de manter escassas as habilidades é insistir no certificado dos professores. Se as enfermeiras fossem incentivadas a treinar mulheres para serem também enfermeiras, e se as enfermeiras fossem contratadas à base de sua comprovada habilidade em aplicar injeções, preencher fichas, ministrar remédios, etc., cedo desapareceria a falta de enfermeiras treinadas. Os certificados tendem a abolir a liberdade de educação, convertendo o direito civil de partilhar um conhecimento em privilégio da liberdade acadêmica, conferido apenas aos empregados das escolas. Para garantir acesso a um efetivo intercâmbio de habilidades, precisamos de uma legislação que generalize a liberdade acadêmica. O direito de ensinar qualquer habilidade deveria cair sob a proteção da liberdade de falar. Uma vez removidas as restrições do ensino, serão também e logo removidas da aprendizagem.
62 – O professor de habilidades precisa de certa garantia para poder oferecer seus serviços aos alunos. Existem ao menos duas formas bem simples de canalizar fundos públicos para professores sem certificados. Uma seria institucionalizar o intercâmbio de habilidades, criando centros livres, abertos ao público. Tais centros poderiam e deveriam ser instalados em áreas industriais quando certas habilidades ali aprendidas fossem requisitos fundamentais do setor industrial: leitura, datilografia, contabilidade, línguas estrangeiras, programação de computadores, leitura de linguagens especiais como circuitos elétricos, manejo de certas máquinas, etc. Outra forma seria dar a certos grupos vales educativos para que participassem de centros de habilidades, onde outros clientes pagassem taxas comerciais.
63 – Uma forma bem mais radical seria criar um «banco» para intercâmbio de habilidades. Cada cidadão receberia um crédito básico para aquisição de habilidades fundamentais. Além desse mínimo, ulteriores créditos iriam para aqueles que os ganhassem ensinando, seja servindo de modelos num centro organizado, seja ensinando em casa ou num campo de esportes. Somente os que tivessem ensinado outros por um período de tempo teriam direito a reclamar o tempo equivalente de professores mais adiantados. Surgiria uma elite totalmente nova, uma elite que obteria sua educação partilhando-a.
64 – Teriam os pais direito a créditos de habilidades para seus filhos? Isso traria maiores vantagens às classes privilegiadas, mas poderia ser compensado mediante um crédito mais amplo aos menos privilegiados. O funcionamento do intercâmbio de habilidades dependerá da existência de agências que facilitem a circulação e uso gratuito de diretórios informativos. Tais agências poderiam também oferecer serviços suplementares de testes e comprovações, influenciar na legislação para dissolver e impedir que se formem monopólios.
65 – É fundamental que a liberdade de intercâmbio universal de habilidades seja garantida por leis que permitam a discriminação baseada unicamente em habilidades comprovadas e não em linhagem educacional. Esta garantia requer forçosamente controle público sobre testes que serão usados na qualificação das pessoas para o mercado de trabalho. Caso contrário, haveria quem, sub- repticiamente, reintroduzisse uma série complexa de testes, no próprio local de trabalho, e que serviria para uma seleção social. Há muitas modalidades de tornar objetivo o teste de habilidades, por exemplo, deixando que apenas seja testado o manejo de máquinas ou sistemas específicos. Os testes de datilografia (velocidade, número de erros, capacidade de datilografar um ditado), de contabilidade, de manejo de registros hidráulicos, de motorista, de codificação em COBOL, etc., podem facilmente ser objetivos.
66 – Muitas habilidades inatas que são de importância prática podem ser assim testadas. Para fins de controle de mão-de-obra é mais útil um teste de nível usual de habilidade do que a informação de que 20 anos atrás uma pessoa satisfez seu professor num curso em que se ensinava datilografia, esteno grafia e contabilidade. A própria necessidade de testes oficiais de habilidades pode ser questionada. Pessoalmente creio que o direito de não ser individualmente ferido em sua reputação por algum rótulo será mais bem garantido ao homem pela restrição e não pela proibição de testes.
ENCONTRO DE PARCEIROS
67 – No pior dos casos, as escolas reúnem os condiscípulos na mesma sala e os submetem ao mesmo tratamento sequencial nas matemáticas, na educação moral e cívica e na alfabetização. No melhor dos casos, permitem ao estudante escolher, dentro de um limitado número de cursos, um deles. Em ambos os casos, formam- se grupos de parceiros ao redor das metas de professores. Um sistema educacional proveitoso deixaria cada um definir a atividade para a qual procuraria um parceiro.
68 – A escola oferece às crianças oportunidade de fugir de casa e fazer novos amigos. Mas, ao mesmo tempo, este processo inculca nas crianças a ideia de que deveriam escolher seus amigos dentre aqueles com os quais foram juntados. Fazendo com que os jovens, desde a mais tenra idade, procurem se encontrar, avaliar e procurar os outros, vai interessá-los a procurar, a vida inteira, novos parceiros para novos empreendimentos.
69 – Um bom enxadrista fica sempre feliz ao encontrar um bom adversário, da mesma forma um noviço ao encontrar outro. Os clubes servem a esta finalidade. As pessoas que desejam discutir determinados livros ou artigos, provavelmente pagariam para encontrar parceiros. As pessoas que desejam jogar, fazer excursões, construir tanques de peixes ou motorizar bicicletas andariam grandes distâncias para encontrar parceiros. Sua recompensa pelo esforço será encontrar esses parceiros. As boas escolas tentam descobrir os interesses comuns de seus alunos matriculados no mesmo curso. O contrário de escola seria uma instituição que aumentasse as chances de as pessoas que, em dado momento, compartilharam o mesmo interesse específico, pudessem encontrar-se — não importa o que mais tenham em comum.
70 – O ensino de habilidades não proporciona os mesmos benefícios para ambas as partes, como é o caso do encontro de parceiros. O professor de habilidade, como já frisei, deve receber outro incentivo além da remuneração pelo ensino. O ensino de habilidades é uma repetição contínua de exercícios e é tremendamente monótono para os alunos que mais o necessitam. O intercâmbio de habilidades precisa de dinheiro, crédito ou outros incentivos palpáveis para funcionar, mesmo que para isso tenha que produzir uma moeda própria. O sistema de encontro de parceiros não precisa desses incentivos, precisa apenas de uma rede de comunicação. Em muitos casos, fitas, sistemas eletrônicos de informação, instrução programada, reprodução de formas e sons reduzem a necessidade de recorrer a professores humanos; aumentam a eficiência dos professores e o número de habilidades que alguém pode aprender durante a vida. Paralelamente, surge maior necessidade de encontrar pessoas interessadas em deleitar-se na habilidade recentemente adquirida. Uma estudante que houvesse aprendido grego antes das férias gostaria de discutir, quando voltasse, a política de Creta, em grego. Um mexicano em Nova York quer encontrar outros leitores do jornal Siempre ou de Los Agachados, o livro cômico mais popular. Outro gostaria de encontrar parceiros que, como ele, desejassem aumentar seus conhecimentos sobre a obra de James Baldwin ou de Bolívar.
71 – O funcionamento de uma rede de encontros de parceiros seria simples, como já foi esboçado no capítulo 1. O candidato se identificaria, dando nome e endereço, e descreveria a atividade para a qual procura um parceiro. Um computador lhe remeteria os nomes e endereços de todos os que tivessem dado a mesma descrição. É interessante que este processo tão simples nunca tenha sido usado, em larga escala, para alguma atividade pública de valor.
72 – Em sua forma mais rudimentar, a comunicação entre o cliente e o computador seria feita por resposta postal. Nas grandes cidades, os telex poderiam dar resposta imediata. A única maneira de obter um nome e endereço do computador seria inserir a descrição de uma atividade para a qual se procura um parceiro. As pessoas que usassem este sistema só ficariam conhecidas por seus parceiros potenciais.
73 – Um complemento do computador poderia ser uma rede de boletins informativos ou anúncios classificados de jornais, enumerando as atividades para as quais o computador não conseguisse arranjar um encontro. Não se precisaria de nomes. Leitores interessados poderiam, então, inserir seus nomes no sistema. Uma rede de encontros de parceiros, publicamente mantida, seria a única maneira de garantir o direito à livre reunião e de treinar o povo no exercício dessa atividade cívica mais fundamental.
74 – O direito à livre reunião foi politicamente reconhecido e culturalmente aceito. Compreendemos agora que este direito está restringido por leis que tornam algumas formas de reunião obrigatórias. É principalmente o caso de instituições que recrutam seus elementos de acordo com a idade, classe ou sexo e exigem grande gasto de tempo. O exército é um exemplo. Outro exemplo, ainda mais típico, é a escola.
75 – Desescolarizar significa abolir o poder de uma pessoa de obrigar outra a frequentar uma reunião. Também significa o direito de qualquer pessoa, de qualquer idade ou sexo, convocar uma reunião. Esse direito foi drasticamente diminuído pela institucionalização das reuniões. «Reunião» significa originalmente o ato individual de juntar-se. Agora, significa o produto institucional de alguma agência.
76 – A sagacidade das instituições de serviço para adquirir clientes superou de longe a sagacidade dos indivíduos de serem ouvidos independentemente dos meios institucionais que respondem aos indivíduos somente se forem notícias vendáveis. A facilidade de encontro de parceiros deveria ser tão grande para os que desejam reunir pessoas, como o sino do povoado que, a um simples chamado, reúne os moradores para o conselho. Os prédios escolares — de duvidoso valor para conversão em outros usos — poderiam muitas vezes prestar-se a esta finalidade.
77 – O sistema escolar vai em breve defrontar-se com o mesmo problema que tiveram as igrejas : o que fazer com a sobra de espaço, após a deserção dos fiéis. É tão difícil vender uma escola quanto um templo. Maneira prática de conseguir que continuem a ser usadas é franqueá-las às pessoas da vizinhança. Cada qual poderia marcar o que deseja fazer na sala de aula, e quando; um quadro mural informaria aos interessados quais os programas disponíveis. O acesso à «sala de aula» seria franco ou comprado com comprovantes educacionais. O «professor» seria pago conforme o número de alunos que conseguisse atrair para um período integral de duas horas. Imagino que os líderes bem jovens e os grandes educadores serão as figuras mais proeminentes neste sistema. O mesmo procedimento poderia ser adotado na educação de nível superior. Os estudantes receberiam comprovantes educacionais que lhes dariam direito a dez horas anuais de consulta particular com o professor de sua escolha; o restante de sua aprendizagem dependeria de bibliotecas, encontro de parceiros e aprendizados.
78 – Devemos reconhecer, obviamente, a probabilidade que esses instrumentos de reuniões públicas serão aproveitados abusivamente para fins exploradores e imorais, da mesma forma como aconteceu com os telefones e o correio. A semelhança desses, deverá haver um regulamento de proteção. Já falei de um sistema de encontros que só permitiria informação impressa pertinente, mais o nome e endereço do interessado. Seria um sistema virtualmente à prova de abusos. Outras modalidades poderiam ainda incluir algum livro, filme, programa de TV ou demais itens constantes de um catálogo especial. Os possíveis perigos do sistema não nos levam a perder de vista os maiores benefícios que poderá trazer.
79 – Certas pessoas que partilham meu ponto de vista sobre a liberdade de expressão e reunião dirão que o encontro de parceiros é um meio artificial de reunir as pessoas, e que não será usado pelos pobres — os que mais necessitam dele. Há pessoas que ficam verdadeiramente agitadas quando alguém sugere promover encontros ad hoc que não estejam arraigados na vida da comunidade local. Outras reagem à sugestão de usar -se um computador para classificar e combinar os interesses dos clientes. Não se pode reunir pessoas de forma tão impessoal, dizem elas. O interesse comum deve estar fundado numa história de experiências partilhadas em muitos níveis e deve nascer dessas experiências como, por exemplo, o desenvolvimento de instituições de vizinhança.
80 – Simpatizo com essas objeções mas creio que não atingem minha posição nem mesmo a delas. Em primeiro lugar, a volta à vida de vizinhança como centro primário da expressão criadora poderia realmente prejudicar o restabelecimento da vizinhança como unidade política. Centrar a demanda na vizinhança pode, de fato, negligenciar um importante aspecto libertador da vida urbana: a capacidade de uma pessoa participar simultaneamente de diversos grupos. Há que considerar também que muitas pessoas que nunca viveram juntas numa comunidade física podem ter, casualmente, muito mais experiências a compartilhar do que as pessoas que se conheceram desde a infância. As grandes religiões sempre reconheceram a importância de encontros de pessoas distantes, e os fiéis sempre encontraram libertação neles; as peregrinações, o monaquismo, a manutenção conjunta de templos e santuários são provas disso. O encontro de parceiros poderia ajudar muito a tornar explícitas as inúmeras comunidades potenciais, mas abafadas, da cidade.
81 – As comunidades locais são valiosas. São também uma realidade em desaparecimento, uma vez que os homens deixam que as instituições de serviço definam, progressivamente, os círculos de seu relacionamento social. Em seu mais recente livro, Milton Kotler mostrou que o imperialismo dos «centros urbanos» destitui a vizinhança de seu significado político. A tentativa protecionista de ressuscitar a vizinhança como unidade cultural é simples apoio a este imperialismo burocrático. Longe de remover artificialmente as pessoas de seus contextos locais para juntá-las com grupos abstratos, o encontro de parceiros vai encorajar a restauração da vida local nas cidades das quais está, agora, desaparecendo. Alguém que recupere sua iniciativa de convocar seus colegas para uma proveitosa conversa também deixará de acomodar-se ao fato de ser deles separado por protocolos oficiais ou etiquetas suburbanas. Tendo-se uma vez convencido de que realizar algo em conjunto depende apenas de decisão para assim proceder, as pessoas insistirão que suas comunidades locais se tornem mais abertas ao intercâmbio político criativo.
82 – Devemos reconhecer que a vida da cidade tende a ser muitíssimo cara, uma vez que os moradores das cidades precisam ser ensinados a confiar, para cada uma de suas necessidades, em complexos serviços institucionais. É extremamente dispendioso manter uma vida apenas digna. O encontro de parceiros na cidade poderia ser um primeiro passo para romper a dependência dos cidadãos dos burocráticos serviços cívicos.
83 – Seria também um passo essencial na procura de novos meios para firmar a confiança pública. Numa sociedade escolarizada chegamos a confiar sempre mais no julgamento profissional de educadores sobre o efeito de seus próprios trabalhos para, então, decidir em quais podemos ou não confiar. Vamos ao médico, advogado ou psicólogo porque confiamos que qualquer pessoa com tanto tratamento educacional especializado, requerido por outros colegas, merece nossa confiança.
84 – Numa sociedade desescolarizada, os profissionais já não poderão exigir a confiança de seus clientes, baseados em seu diploma, ou confirmar sua reputação remetendo simplesmente seus clientes a outros profissionais que certifiquem a escolarização dos primeiros. Em vez de confiar em profissionais, deveria ser possível, a qualquer tempo e para qualquer cliente potencial, consultar outros clientes de determinado profissional para ver se estavam satis feitos com ele. Isto poderia ser feito através de outra rede de parceiros, facilmente estabelecida por um computador ou por outros meios. Essas redes poderiam ser consideradas serviços públicos, nos quais os estudantes pudessem escolher seus professores e os pacientes seus doutores.
EDUCADORES PROFISSIONAIS
85 – Se os cidadãos tiverem novas escolhas, novas oportunidades para aprender, sua vontade de procurar lideranças vai aumentar. Podemos esperar que sentirão mais profundamente tanto a própria independência qu anto a necessidade de orientação. Libertados da manipulação por outros, aprenderão a tirar proveito da disciplina que outros adquiriram durante a vida. A educação desescolarizada vai incrementar — em vez de sufocar — a procura de pessoas com conhecimentos práticos que estejam dispostas a amparar o novato em sua aventura educacional. Se os mestres em suas especialidades deixarem de reivindicar que são informantes ou modelos de habilidades superiores, então suas reivindicações de sabedoria superior começarão a soar verdadeiras.
86 – Com a crescente demanda por mestres, seu suprimento também crescerá. A medida que vai desaparecendo o mestre -escola, surgem condições que farão aparecer a vocação do educador independente. Isto pode quase parecer uma contradição nos termos, tão estritamente se tornaram complementares as escolas e os professores. O florescimento de educadores independentes será o que há de sobrevir se desenvolvermos os três primeiros intercâmbios educacionais e o que for necessário para seu pleno funcionamento, pois tanto os pais quanto «outros educadores» precisam de orientação, os autodidatas precisam de assistência e as redes precisam de pessoas para operá -las.
87 – Os pais precisam de orientação para dirigir seus filhos no caminho que leva para a independência educacional responsável. Os aprendizes precisam de líderes experientes quando encontram terreno árido. Essas duas necessidades são bastante distintas: a primeira é a necessidade de pedagogia; a segunda, de liderança intelectual em todos os demais campos do saber. A primeira necessita de conhecimentos sobre a aprendizagem humana e sobre recursos educacionais; a segunda, de conhecimentos baseados na experiência em qualquer tipo de pesquisa. Ambas as espécies de experiência são indispensáveis para um efetivo esforço educacional. As escolas embrulham essas funções em uma só e tornam o exercício independente de qualquer uma delas, se não vergonhoso, ao menos suspeito.
88 – Pode-se distinguir, de fato, três tipos de competência educativa especial: criar e manejar as espécies de intercâmbios educacionais ou redes aqui descritos; orientar estudantes e pais no uso dessas redes; agir como primos inter pares ao empreender jornadas exploratórias intelectualmente difíceis. Somente os dois primeiros podem ser concebidos como ramos de uma profissão independente: administradores educacionais e conselheiros pedagógicos. Para planejar e manejar as redes que descrevi antes não são necessárias muitas pessoas, mas isto requer pessoas com a mais profunda compreensão de educação e administração, numa perspectiva bem diferente e mesmo oposta à das escolas.
89 – Uma profissão educacional independente dessa espécie há de receber com satisfação muitas pessoas que as escolas rejeitaram, mas também rejeitará muitas pessoas que foram qualificadas pelas escolas. A instalação e o manejo de redes educacionais exigirão alguns planejadores e administradores, mas não em tal quantidade e do tipo requerido pela administração escolar. Disciplina estudantil, relações públicas, salários, supervisão e dispensa de professores nunca terão lugar nem contrapartida nas redes que descrevi. Nem terão vez a elaboração de currículos, a venda de livros-texto, a manutenção de terrenos e materiais ou a supervisão de competições atléticas interescolares. Também não figurarão no manejo das redes educacionais o cuidado com crianças, plano de aula, registro de presenças, que consomem tanto tempo dos professores. Ao invés, o manejo de teias de aprendizagem exigirá algumas das habilidades e atitudes que se espera encontrar num «staff» de museu, biblioteca, agência de empregos ou num maitre d’hotel.
90 – Os administradores educacionais de hoje estão empenhados em controlar professores e alunos para satisfazer outros: membros do conselho diretor, legislaturas e executivos de empresas. Os construtores e planejadores de redes deverão ter a capacidade de não imiscuir-se e não deixar que outros se imiscuam nas atividades das pessoas, capacidade para facilitar encontros de jovens, de modelos de habilidades, líderes educacionais e objetos educativos. Muitas pessoas atualmente atraídas para o magistério são profundamente autoritárias e não têm competência para assumir esta tarefa. Montar intercâmbios educacionais significa facilitar às pessoas — especialmente aos jovens — perseguir objetivos que podem entrar em contradição com os ideais de algumas pessoas que, ao regular o tráfico tornam possível seu exercício.
91 – Se as redes que descrevi acima puderem emergir, cada estudante seguirá seu próprio caminho educativo e apenas retrospectivamente esse caminho assumirá as características de um programa determinado. O estudante inteligente há de procurar, periodicamente, conselho profissional: assistência para fixar novo objetivo, esclarecimento para dificuldades encontradas, escolha entre possíveis métodos. Mesmo agora, a maioria das pessoas admitiria que os serviços importantes a eles prestados pelos professores foram os de orientação e conselho, seja em encontros ocasionais ou em consultas particulares. Também os educadores, num mundo desescolarizado, poderão realizar-se e fazer aquilo que professores frustrados tentam hoje conseguir.
92 – Enquanto os administradores das redes estarão voltados sobretudo em assegurar aos estudantes as vias de acesso aos recursos educativos, o pedagogo ajudará o estudante a encontrar o caminho que mais rapidamente o levará à meta. Se um estudante quisesse aprender cantonês com um vizinho chinês, o pedagogo estaria pronto a julgar a eficiência de ambos, ajudá-los a escolher o livro-texto e os métodos mais indicados a seus talentos, caráter e tempo disponível para o estudo. Poderia aconselhar o aspirante a mecânico de aviação a encontrar os melhores lugares de aprendizagem. Poderia recomendar livros a alguém que quisesse encontrar colegas para discutir a História da África. Tanto o administrador da rede, quanto o conselheiro pedagógico devem considerar-se educadores profissionais. Os indivíduos poderiam valer- se de bolsas de estudo para ter acesso tanto a um quanto a outro.
93 – O papel de iniciador ou líder educacional, do mestre ou do «verdadeiro» líder, é algo mais indefinível do que o do administrador profissional ou do pedagogo. Isto porque é difícil definir a própria liderança. Na prática, alguém é um líder se as pessoas seguirem suas iniciativas e tornarem-se aprendizes de suas progressivas descobertas. Isto envolve, freqüentemente, uma visão profética de padrões totalmente novos — aliás quase incompreensíveis hoje — em que o «errado» de hoje transforma-se no «certo» de amanhã. Uma sociedade que respeitasse o direito de convocar reuniões através do encontro de parceiros, a capacidade de tomar iniciativas educacionais num determinado assunto seria tão ampla quanto o acesso à própria aprendizagem. Mas é claro que há grande diferença entre a iniciativa tomada por alguém de convocar um proveitoso encontro para discutir este ensaio e a sagacidade de alguém de assumir a liderança para exploração sistemática das implicações nele contidas.
94 – A liderança não depende de estar ela certa. Diz Thomas Kuhn que numa época de constantes mudanças de paradigmas a maioria dos destacados líderes estão sujeitos a serem considerados falsos pela análise a posteriori. A liderança intelectual depende de disciplina intelectual superior, de imaginação e de querer associar-se com outros em seu exercício. Um aprendiz, por exemplo, pode achar que existe analogia entre o movimento abolicionista norte-americano ou a revolução cubana e o que está acontecendo no Harlem. O educador — no caso um historiador — pode mostrar a esse aprendiz como analisar as imperfeições de tal analogia. Poderá voltar sobre seus próprios passos como historiador, ou: poderá convidar o aprendiz a participar de sua própria pesquisa. Em ambos os casos vai introduzir o aluno na arte de crítica — muito rara nas escolas — que não pode ser comprada por dinheiro ou por qualquer espécie de favores.
95 – O relacionamento de mestre e aluno não está restrito. à disciplina intelectual. Tem sua contrapartida nas artes, na física, religião, psicanálise e pedagogia. Cabe também no alpinismo, ourivesaria, política, carpintaria e administração de pessoal. O que é comum a todo verdadeiro relacionamento mestre-aluno é a certeza de ambos que seu relacionamento é literalmente incalculável e, de maneiras bem diversas, um privilégio para ambos.
96 – Os charlatães, demagogos, proselitistas, mestres corruptos, sacerdotes simoníacos, embusteiros, milagreiros e messias provaram ser capazes de assumir papel de liderança e, assim, mostraram os perigos que existem numa dependência aluno -mestre. Diversas sociedades tornaram distintas medidas para defender-se contra esses falsos professores. Os hindus se firmam nas castas; os judeus orientais no discipulado espiritual dos rabinos; o cristianismo dos tempos antigos baseava-se na vida exemplar da virtude monástica e o de outros tempos na ordem hierárquica. Nossa sociedade confia nos diplomas expedidos pelas escolas. É duvidoso que este procedimento faça melhor triagem, mas se alguém afirmar que realmente faz, então poderá objetar-se que o faz à custa do quase desaparecimento do discipulado pessoal.
97 – Na prática sempre haverá uma linha divisória imprecisa entre o professor de habilidades e os líderes educacionais acima identificados. Não existem razões concretas por que o acesso a alguns líderes não possa ser obtido mediante o descobrimento do «mestre», no professor de exercícios que inicia os estudantes na sua disciplina.
98 – Por outro lado, o que caracteriza o verdadeiro relacionamento mestre-aluno é seu caráter não mercantil. Aristóteles se refere a ele como «um tipo moral de amizade que não possui termos fixos: dá um presente, ou faz qualquer coisa como se o fizesse a um amigo». Tomás de Aquino fala dessa espécie de ensino como sendo, inevitavelmente, um ato de amor e caridade. Esta forma de ensino é sempre um luxo para o professor e uma forma de lazer (em grego «schole») para ele e seu aluno: uma proveitosa atividade para ambos, não tendo interesses ulteriores.
99 – Mesmo em nossa sociedade, para se confiar numa verdadeira liderança intelectual, é necessário que as pessoas dotadas desejem oferecê-la; mas não é ainda possível pôr isto em prática. Precisamos antes construir uma sociedade em que os próprios atos pessoais readquiram um valor mais elevado do que o de fazer coisas e manipular pessoas. Em tal sociedade o ensino baseado na pesquisa, inventivo e criativo estará, logicamente, entre as formas mais cobiçadas de «desemprego» ocioso. Não precisamos, no entanto, esperar até o advento da utopia. Mesmo agora, uma das mais importantes conseqüências da desescolarização e do estabelecimento das facilidades de encontro de parceiros será a iniciativa que os «mestres» poderão tomar para reunir discípulos que tenham os mesmos interesses. Dará também aos discípulos potenciais, como já vimos, ampla oportunidade de compartilhar informações e selecionar um mestre.
100 – As escolas são as únicas instituições que pervertem profissões empacotando as funções de cada uma. Os hospitais tornam os cuidados caseiros impossíveis e, então, justificam a hospitalização como um benefício para o doente. Ao mesmo tempo, a legitimação e capacidade do médico de trabalhar dependem sempre mais de sua vinculação a um hospital, ainda que seja bem menos dependente dele do que os professores da escola. O mesmo vale das cortes de justiça que sobrecarregam suas agendas à medida que novas transações adquirem solenidade legal, e, assim, retardam a justiça. É o caso também das igrejas que fazem de uma vocação livre uma profissão cativa. O resultado disso tudo é menos serviço a um maior custo e maiores proventos para os membros menos competentes da profissão.
101 – Enquanto as profissões mais antigas monopolizarem as rendas mais altas e o prestígio, é difícil reformá-las. A profissão do professor escolar seria mais fácil de reformar, não só por ser de origem mais recente. A profissão educacional exige atualmente um monopólio compreensivo; reclama a exclusiva competência de iniciar não apenas seus próprios noviços mas também os de outras profissões. Este âmbito excessivo torna-se vulnerável a qualquer profissão que queira reclamar o direito de ensinar seus próprios aprendizes. Os professores escolares são tremendamente mal pagos e frustrados pelo rígido controle do sistema escolar. Os mais empreendedores e dotados certamente encontrarão outro trabalho adequado, mais independência e até maiores rendas especializando-se como modelos de habilidades, administradores de redes de comunicação ou especialistas em orientação.
102 – Finalmente, a dependência de um estudante matriculado com um professor titular pode ser mais facilmente rompida que a dependência com outros profissionais, por exemplo, o doente hospitalizado com relação a seu médico. Se as escolas deixarem de ser compulsivas, os professores que encontram satisfação no exercício da autoridade pedagógica na classe serão deixados apenas com os alunos que se sintam atraídos por esse estilo. A desinstalação de nossa atual estrutura profissional poderia começar pela evasão dos professores escolares.
103 – A desinstalação das escolas se dará inevitavelmente e acontecerá muito em breve. Não pode ser retardada por muito tempo. É necessário promove-la vigorosamente, pois já começou a ocorrer. O que vale é tentar orientá-la numa direção promissora, pois ela pode encaminhar-se para duas direções diametralmente opostas.
104 – A primeira poderia ser a expansão do mandato do pedagogo e seu controle sempre maior sobre a sociedade, mesmo fora da escola. Com as melhores intenções e com a simples expansão da retórica atualmente empregada nas escolas, a presente crise poderia ser usada pelos educadores como desculpa para colocar todas as vias de comunicação social à disposição das mensagens que têm para nós e para nosso próprio bem. A desescolarização, que é impossível deter, poderia significar o advento de um «corajoso mundo novo», dominado por administradores bem intencionados de instrução programada.
105 – Por outro lado, a crescente certeza por parte dos governantes, empregadores, contribuintes fiscais, esclarecidos pedagogos e administradores escolares que o ensino curricular para obtenção de certificados tornou-se prejudicial poderia oferecer a grandes massas populares uma extraordinária oportunidade: a de preservar o direito de igual acesso aos instrumentos de aprendizagem e de partilhar com outros o que sabem ou em que acreditam. Mas isto exigiria que a revolução educacional fosse orientada por certos objetivos:
1°) Liberar o acesso às coisas, abolindo o controle que pessoas e instituições agora exercem sobre seus valores educacionais.
2°) Liberar a partilha de habilidades, garantindo a liberdade de ensiná-las ou exercê-las quando solicitado.
3°) Liberar os recursos críticos e criativos das pessoas, devolvendo aos indivíduos a capacidade de convocar e fazer reuniões — capacidade esta sempre mais monopolizada por instituições que dizem falar em nome do povo.
4°) Liberar o indivíduo da obrigação de modelar suas expectativas pelos serviços oferecidos por uma profissão estabelecida qualquer — oferecendo-lhe a oportunidade de aproveitar a experiência de seus parceiros e confiar-se ao professor, orientador, conselheiro ou curador de sua escolha. A desescolarização da sociedade inevitavelmente tornará imprecisa a distinção entre economia, educação e política sobre a qual repousa a estabilidade da atual ordem do mundo e a estabilidade das nações.
106 – Nossa revisão das instituições educacionais leva a uma revisão da imagem que temos do homem. As criaturas de que necessitam as escolas como clientes não têm autonomia nem motivação para se desenvolverem por si mesmas. Podemos dizer que a escolarização universal é a culminância de uma empresa de Prometeu e que a alternativa é um mundo feito para o homem epimeteu. Enquanto dizemos que a alternativa para os funis escolásticos é um mundo tornado transparente pelas verdadeiras teias de comunicação e enquanto sabemos exatamente como poderiam funcionar, só podemos esperar que a natureza epimetéia do homem reapareça; não podemos planejá-la, muito menos produzi-la.
QUESTÕES SOBRE O TEXTO DE ILLICH
01 – Em que medida o livro de Illich sobre a desescolarização da sociedade nos ajuda a reinventar a educação e não apenas reformá-la? a) Podemos dizer que não ajuda muito. Illich é radical demais e seria uma loucura colocar suas ideias em prática (de vez que ele mesmo reconhece que está fazendo propostas para uma sociedade que ainda não existe). b) Ajuda muito pouco, na medida em que existem exemplos à farta (sendo a Coreia do Sul e a Finlândia, os mais destacados) de que só um bom sistema escolar, apoiado em políticas públicas de priorização da educação, é capaz de catapultar o desenvolvimento dos países. c) Illich levanta os pontos críticos fundamentais para uma reinvenção da educação (e não uma simples reforma, que mais não faria senão reproduzir a sociedade escolarizada): a distinção entre ensino e aprendizagem (com o desmascaramento “da grande ilusão de que a maioria do que se aprende é resultado do ensino”); o reconhecimento de que “em todo mundo a escola tem um efeito anti-educacional sobre a sociedade”; a separação que deveria ser feita entre competência e currículo; a antevisão do alter-didatismo (a possibilidade de impulsionar a aprendizagem pelas relações entre pessoas, baseadas “no esforço crítico de todos os que usam suas memórias criativamente… e na surpresa da pergunta inesperada que abre novas portas”); a separação de aprendizagem do controle social; o papel deseducativo do ensino obrigatório e do currículo obrigatório; a desastrosa valorização do diploma; o caráter sacerdotal (e, portanto, hierárquico) do professor; a ilusão de superar a crise da educação propondo novas escolas; e – dentre muitos outros – a sua proposta central de redes (teias) de aprendizagem. Qual (ou quais) alternativa(s) acima você escolheria e por que?
02 – Das afirmações abaixo de Ivan Illich, em Sociedade sem escolas (Deschooling Society), qual – na sua opinião – caracteriza melhor sua crítica à educação escolarizada? a) “Não apenas a educação, mas também a própria realidade social tornou-se escolarizada… Em toda parte, não apenas a educação, mas a sociedade como um todo precisa ser desescolarizada”. b) “A simples existência de escolas desencoraja e incapacita os pobres de assumir o controle da própria aprendizagem. Em todo o mundo a escola tem um efeito anti-educacional sobre a sociedade”. c) “A escalada das escolas é tão destrutiva quanto a escalada armamentista, apenas que menos visível. Em toda parte do mundo os custos escolares aumentaram mais rapidamente que as matrículas e que o PIB… e nenhum país pode ser suficientemente rico para manter um sistema escolar que satisfaça as demandas que este mesmo sistema cria pelo simples fato de existir: porque um sistema escolar bem sucedido escolariza pais e alunos para o supremo valor de um sistema escolar mais amplo cujo custo aumenta desproporcionalmente quando graus mais elevados estão em demanda e se tornam mais escassos”. d) “A escolaridade não promove nem a aprendizagem e nem a justiça, porque os educadores insistem em embrulhar a instrução com diplomas. Misturam-se, na escola, aprendizagem e atribuição de funções sociais… A escola fornece instrução, mas não aprendizagem para essas funções. Isso… não é libertador ou educacional porque a escola reserva a instrução para aqueles cujos passos na aprendizagem se ajustam a medidas previamente aprovados de controle social”. e) “A simples existência da escolaridade obrigatória divide qualquer sociedade em dois campos: certos períodos de tempo, processos, serviços e profissões são “acadêmicos” ou “pedagógicos”, outros não. O poder de a escola dividir a realidade social não tem limites: a educação torna-se não-do-mundo e o mundo torna-se não-educativo”. f) “A escola é uma instituição baseada no axioma de que a aprendizagem é o resultado do ensino. E a sabedoria institucionalizada continua a aceitar este axioma, apesar da evidência em contrário. A maior parte dos nossos conhecimentos adquirimo-los fora da escola. Os alunos realizam a maior parte de sua aprendizagem sem os, ou muitas vezes, apesar dos professores. Mais trágico ainda é o fato de que a maioria das pessoas recebe o ensino da escola, sem nunca ir à escola”. g) Para a desescolarização da sociedade e não apenas para a reforma dos estabelecimentos de ensino, precisamos abordar o secreto currículo escolar… o cerimonial ou ritual da própria escolarização constitui semelhante currículo…” Você acha que todas as afirmações acima são igualmente importantes pois fazem parte da mesma visão crítica de Illich à escolarização da sociedade? Ou não?
03 – Examine a seguinte afirmação de Ivan Illich sobre as escolas: “As escolas estão baseadas na suposição de que há um segredo para tudo nesta vida; de que a qualidade da vida depende do conhecimento desse segredo; de que os segredos só podem ser conhecidos em passos sucessivos e ordenados; de que apenas os professores sabem revelar corretamente esses segredos. Um indivíduo de mentalidade escolarizada concebe o mundo como uma pirâmide, composta de pacotes classificados; a eles só têm acesso os que possuem os rótulos adequados”. Podemos então afirmar que: a) É uma crítica ácida a um tipo de escola tradicional (que ainda existia há meio século e que hoje não constitui mais um único modelo, diante das várias escolas alternativas, participativas, democráticas e libertárias que surgiram). b) É uma crítica ao processo de escolarização da sociedade que produz continuamente o mesmo tipo de escola. c) Trata-se da definição illichiana de escola (qualquer escola) como uma burocracia (hierarquia) sacerdotal do conhecimento (confundido com ensinamento): um aprisionamento do conhecimento ao qual só se pode ter acesso percorrendo um caminho pré-traçado, submetendo-se a uma espécie de cerimonial ou ritual (que constitui o currículo oculto da escolarização) presidido por um sacerdote do conhecimento-ensinamento (o professor) ao qual se deve obedecer para ascender na hierarquia (a pirâmide) do conhecimento (e da vida social em geral). Qual (ou quais) alternativa(s) acima você escolheria e por que?
04 – Qual a proposta central de Illich, em Sociedade sem escolas (Deschooling Society)? a) Fazer uma reforma radical na educação, adaptando a escola (que ainda era, em parte, medieval) aos novos tempos. b) Empreender uma reforma profunda das escolas com a criação de novos tipos de escola que não sejam órgãos reprodutores de uma sociedade de consumo. c) Simplesmente desescolarizar a sociedade em vez de propor novas escolas. E como ele genialmente escreve: “Desescolarizar significa abolir o poder de uma pessoa de obrigar outra a frequentar uma reunião”. Qual (ou quais) alternativa(s) acima você escolheria e por que?
05 – Por que, para Illich, a escolarização é estruturante de uma sociedade hierárquica e de controle? a) Porque ela cria a hierarquização e a discriminação na sociedade, tanto internamente a um país, pelo consumo maior ou menor de escolarização de maior ou menor qualidade, como entre os países, cujas populações são mais ou menos escolarizadas. b) Porque, independente do conteúdo que apresente, leva a sociedade a confundir valor com serviço em todos os setores: a confundir ensino com aprendizagem, saúde com atendimento médico, segurança com proteção policial etc. c) Porque, quando valores e necessidades humanas fundamentais são convertidos em prestação de serviço exclusivo de instituições burocrático-hierárquicas (estatais ou corporativas), diminui progressivamente a capacidade das pessoas realizarem-nas e atendê-las autônoma e livremente. À medida que cresce o grau de dependência das pessoas em relação aos grandes sistemas de controle, maior a necessidade (percebida) de ampliar sua abrangência até torná-la universal. Cria-se com isto um ciclo autorreforçante de dependência, aumento de estruturas burocrático-hierárquicas, legitimação do controle e desligitimação das alternativas autônomas. d) Porque sua obrigatoriedade torna suspeita toda iniciativa independente em termos de aprendizagem. e) Porque as instituições escolares, em vez de igualar as oportunidades, monopolizam sua distribuição. f) Porque os investimentos em educação são insuficientes, não permitindo que se ofereça educação de igual qualidade a toda a população. Qual (ou quais) alternativa(s) acima você escolheria e por que?
06 – Illich identifica diferenças substanciais entre a educação escolar e a aprendizagem criativa. Quais dessas diferenças são inconciliáveis? a) A escolarização consiste, entre outras coisas, em um treinamento para fornecer respostas-padrão X A aprendizagem criativa consiste no encontro com pares aprendizes para investigação de temas (ou intercâmbio de habilidades) que sejam social, emocional e intelectualmente importantes para as pessoas envolvidas. b) A instrução escolar depende de assistência para facilitar os encontros: espaço, horário, e restrições (idade, pré-requisitos etc.) X A aprendizagem livre é fruto de uma iniciativa dos próprios parceiros, que reúnem seus materiais e articulam livremente seus encontros e sua interação. Nenhum participante fica obrigado a permanecer em companhia de seus parceiros mais tempo do que deseja ou pode, nem é afastado por motivos pedagógicos ou burocráticos dos parceiros que encontrou e com quem iniciou uma discussão que todos desejam continuar. c) A escolarização obrigatória tem o objetivo de oferecer educação para todos, e organiza-se como educação de um (professor / instituição) para muitos (alunos, sociedade) X O intercâmbio de habilidades e o encontro entre aprendizes estão baseados na ideia de educação por todos. d) A instrução institucionalizada determina que apenas detentores de certificados ou registros podem instruir outras pessoas X Direito igual de cada pessoa de exercer sua competência para aprender a instruir-se. e) Rotina preparada, reprodução planejada e mensurável X Aprendizagem criativa e inesperada, re-criação imensurável. f) Educação separada do trabalho e do lazer, separada da vida X Todos os aspectos da convivência social são oportunidades de aprendizagem não dissociadas da vida. g) Participação como simulação X Interação real. h) Transferência da responsabilidade sobre a própria aprendizagem a terceiros (professor, instituição) X Redes de aprendizagem, reunião autônoma de recursos sob o controle pessoal de cada aprendiz. i) Instituições educacionais a serviço de objetivos exteriores à aprendizagem X Estruturas relacionais que capacitam todo homem a definir-se a si mesmo pela aprendizagem e por sua contribuição à aprendizagem dos outros.
HOLT
HOLT, John (1989). Aprendendo o tempo todo. Campinas: Verus Editora, 2006.
APRENDENDO O TEMPO TODO
Leitura e confiança
1 – Certa ocasião visitei uma família cuja filha mais nova, então com uns 5 anos, já havia algum tempo que eu não encontrava. Depois de medir-me de alto a baixo, por algum tempo e de longe, e tendo decidido que estava tudo bem comigo, aproximou-se e perguntou-me se eu podia “ajudá-la a ler”. Sem saber exatamente o que ela queria, respondi que sim. Ela pegou seu livro, um exemplar de Hop on Pop, do dr. Seuss, levou-me até o sofá e, quando eu já estava sentado, sentou-se também, aconchegou-se e começou lentamente a ler em voz alta. Aparentemente, a primeira coisa que ela tinha de fazer, antes que nosso trabalho começasse, era pôr-se em aconchegante contato físico comigo.
2 – Quero realçar aqui que a confiança teve de vir antes do toque. Tocar ou pegar uma criança que ainda não se tenha decidido a confiar em nós só pode fazer dela um ser mais arredio.
3 – A sala de aula típica — com outras crianças sempre prontas a apontar, corrigir e achincalhar cada erro cometido, e com professores que, voluntária ou involuntariamente, acabam também fazendo a seu modo o que os alunos fazem — é o pior lugar possível para uma criança começar.
4 – As crianças, como os adultos, leem se quiserem, o que quiserem, com quem quiserem e tanto quanto quiserem.
Descobrindo as letras
5 – Todo esse conhecimento de formas e números, ele o construiu para si a partir de sua própria experiência, por suas próprias razões. Ele realmente sabe disso e nunca o esquecerá. Isso é tão parte dele agora como o são seus braços e pernas. Ele não aprendeu isso para agradar a mim, embora o ato de mostrar-me que sabe possa agradar-lhe, tanto quando o soube como agora. Com grande, mas paciente curiosidade, espero pela próxima vez em que ele decida mostrar-me algo mais que aprendeu, neste escritório cheio de ocupações que ele é livre para explorar.
Explorando palavras
6 – Aprender a ler é fácil. E a maior parte das crianças o fará mais rápido, melhor e com mais prazer se cada uma puder fazê-lo por si mesma, sem ensino, sem ser testada e sendo auxiliada apenas se e quando pedir.
7 – Se uma criança me pedisse para lê-lo em voz alta, eu o faria, talvez passando o dedo sob as palavras enquanto as lesse. Embora, pensando bem, suspeite que algumas crianças tomariam isso por ensino e me fariam parar de fazê-lo. Se a criança perguntasse sobre essa ou aquela palavra, eu responderia. Caso contrário, deixaria a criança e o livro a sós.
Prontos para ler
8 – Uma analogia apropriada, e frequentemente verdadeira, pode ser encontrada no processo pelo qual crianças aprendem a falar, esse extraordinário desafio que todos nós vencemos antes que os adultos tivessem metido na cabeça a ideia de que poderiam nos “ensinar”. Crianças preparam-se para falar ouvindo falas ao redor. Um aspecto importante dessas falas é o fato de que os adultos, em sua maioria, não conversam com o propósito de dar às crianças um modelo. Eles conversam entre si porque têm coisas a dizer uns aos outros. Assim, a primeira coisa que o bebê intui e compreende sobre a fala dos adultos é que ela é séria. Adultos falam para fazer as coisas acontecerem. Eles falam e as coisas realmente acontecem. O bebê pensa e sente que se trata de uma atividade realmente séria, que vale a pena dominar.
9 – Quando era criança, ensinei a mim mesmo a ler, como muitas crianças fazem. Ninguém me ensinou e, tanto quanto sou capaz de me lembrar, ninguém me ajudou muito nem leu em voz alta para mim. Quando éramos um pouco mais velhos, uma avó lia alto para mim e para minha irmã, mas, então, já éramos exímios leitores. Ela lia os livros do dr. Dolittle, escritos por Hugh Lofting. Sentarmo-nos no sofá, ao lado dela, era um motivo de grande alegria para nós, principalmente porque ela lia aquelas histórias com grande seriedade, sem toques de sentimentalismo barato ou de condescendência com as crianças que éramos. E percebíamos isso porque ela lia sem quaisquer inflexões “engraçadinhas” e melosas na voz.
10 – […] assim percebi logo que, para entender o que significavam aquelas imagens, eu teria de ler os livros. Tratei logo de aprender.
11 – Além disso, sugeriria que se espalhassem no ambiente visual das crianças, tanto na escola como fora dela – e não somente nos anos que precedem a capacidade de leitura, mas também algum tempo após a aquisição desta -, todos os tipos de materiais escritos do mundo adulto. […] Em resumo, muitas daquelas “coisas do mundo adulto, onde aquela gente grande faz todas aquelas coisas misteriosas e interessantes”.
Inventando a roda
12 – Muitas crianças além de Paul— não tenho ideia de quantas — parecem ir da escrita para a leitura, não o contrário. Gnys at Wrk é o primeiro livro que li sobre as grafias inventadas pelas crianças.
13 – Organizando suas próprias tarefas, Paul era capaz de mantê-las em um nível desafiador. Ele não estava nunca contente em simplesmente repetir suas conquistas, mas espontaneamente avançava na direção de tarefas mais difíceis. […] Ele programou para si mesmo uma progressão de tarefas em níveis crescentes de dificuldade, como muitas outras crianças espontaneamente fazem.
14 – Isso é o que todas as crianças fazem quando crescem, até o momento em que vão para a escola. O que muito frequentemente acontece a todas é que, vendo os desafios das escolas como ameaças, o que, na maioria das vezes, de fato são — se as crianças falham na realização deles, correm o risco de ser humilhadas e mesmo castigadas fisicamente —, elas se afastam mais e mais do hábito de estimular a si mesmas, inclusive quando estão fora da escola: “As práticas inventivas de grafar palavras começam a partir do fato de que elas assumem que podem descobrir coisas por si próprias. Talvez seja por isso que muitas delas aprendem a ler antes da instrução formal”.
15 – Esse é exatamente o argumento central de Seymour Papert em Mindstorms. Quando crianças trabalhando com computadores cometem um “erro” — isto é, obtêm resultados diferentes dos que procuravam —, tendem a dizer, se são recém-chegadas da escola: “Está tudo errado”. E querem começar tudo do começo. Papert as encoraja a ver que não está tudo errado, que se trata de apenas uma coisa em particular que está errada. Utilizando a linguagem de computação, podemos dizer que existe um bug ou um passo errado no programa, e a tarefa consiste em fazer o de-bug, isto é, descobrir o passo errado, eliminá-lo e substituí-lo pelo passo correto.
Palavras em contexto
16 – A maior parte das pessoas não sabe como os dicionários são feitos. Cada novo dicionário começa do zero. As editoras que produzem dicionários empregam milhares de “editores”, e a cada um deles dão uma lista de palavras. O trabalho dos editores é coletar tantas ocorrências quantas forem possíveis dos diferentes modos pelos quais as palavras são realmente usadas. Eles procuram pelas palavras em livros, revistas, jornais, enfim, em todo tipo de material escrito. E, a cada vez que as encontram, recortam ou copiam aquele exemplo particular, construindo um arquivo de contextos nos quais a palavra tenha sido usada. É então, lendo esses arquivos, que eles decidem, a partir do contexto, o que o escritor em cada caso quis significar com a palavra. Só então constroem as acepções de cada uma. Um dicionário, em outras palavras, é uma coleção de opiniões de algumas pessoas sobre o que as palavras significam quando outras pessoas as usam.
17 – Para crianças — e também para adultos — que leem, o mais importante não é entenderem tudo que estão lendo. Ninguém entende: o que apreendemos de um trecho de leitura depende em grande parte da experiência que temos daquilo sobre o que estamos lendo. O importante é que as crianças curtam a leitura o bastante para quererem ler mais. A outra coisa importante é que elas deveriam se tornar cada vez mais capazes de extrair sentidos do contexto, porque essa é a suprema habilidade de um bom leitor. O problema em contar para as crianças o que as palavras significam, ou em pedir-lhes que procurem no dicionário, é que elas perdem a chance de imaginar o sentido da palavra. Descobrir o que não se sabe ou aquilo de que não se tem certeza é a maior de todas as habilidades intelectuais.
Fonologia concreta
18 – Também muitos anos atrás, antes que o lugar se tornasse chique e badalado, meus pais viveram em Puerto Vallarta, no México. Então, como agora, eles costumavam visitar uma pequena escola de ensino fundamental não muito distante de onde viviam. A professora ensinava leitura cantando. A escola era pobre. Agora está provavelmente cinco vezes mais rica, têm todos os mais recentes materiais disponíveis ao ensino de leitura e, provavelmente, cinco vezes mais problemas com leitura. A professora escrevia no quadro as palavras de uma canção — às vezes uma canção que todos conheciam, às vezes uma nova, há pouco ensinada—, e, à medida que ela ia apontando as palavras, as crianças cantavam-nas e, assim, aprendiam a ler.
19 – Mas dizer para as crianças coisas que não fazem sentido como se elas fizessem é estúpido. E causará uma grande e desnecessária confusão para a maioria delas.
20 – Essas duas pequenas coisas sem sentido e talvez não tão prejudiciais, assim como outras muito maiores e talvez mais prejudiciais de que falarei mais adiante, não foram inventadas por pais ensinando seus filhos. Foram inventadas por pessoas que tentaram transformar um ato cotidiano, natural e informal em uma “ciência” e um mistério.
21 – Não é necessário que as crianças sejam capazes de dizer essas regras para que possam compreendê-las e para que sejam capazes de usá-las. Nem é uma boa ideia tentar ensinar tais regras a elas, enunciando-as e tentando explicá-las. O meio de ensiná-las — desde que se insista em ensinar às crianças — é demonstrá-las por meio de exemplos simples e diretos.
22 – Tudo que temos a fazer é expor às crianças as duas ideias básicas da Fonologia: que as letras correspondem a sons e “produzem” sons; e que a ordem das letras corresponde á ordem com que são pronunciados os sons que formam as palavras.
23 – Não é assim que as crianças aprendem. Elas têm de conviver com uma ideia ou uma intuição por um certo tempo, deixar que ela passeie em alguma parte de sua mente, antes que possam, realmente, descobri-la, dizendo “Sim, agora entendo” e tornando posse dela por si mesmas. A menos que aprendam assim, a ideia nunca será mais que aprendizado de papagaio, superficial. E elas nunca serão capazes de fazer uso dela.
24 – Em todo caso, dificilmente alguma criança vai querer gastar muito tempo com coisas que se pareçam materiais instrucionais. Elas preferirão ocupar-se da leitura (e escrita) de palavras reais, palavras em um contexto vivencial e significativo. Não é necessário falar aqui sobre os modos de fazer isso. As pessoas que leem este texto agora certamente terão ideias próprias sobre como fazê-lo. Se lemos e escrevemos, as crianças também vão querer fazer essas coisas; se não fazemos essas coisas, elas também não vão querer fazer.
Como não aprender a escrever com o Big Bird
25 – De outras formas ainda poderíamos deixar claro para as crianças que escrever é uma extensão de poderes que elas já têm e que adquiriram por si mesmas, isto é, os poderes da fala. Deveríamos constantemente lhes recordar que elas descobriram sozinhas como entender os adultos a seu redor e como falar com eles, e que aprender a escrever e a ler textos escritos é fácil. Escrever é uma espécie de magia ou de Fala congelada, que o escritor pode usar, dia após dia, para dizer, a todos que olharem para ela, qualquer coisa que ele queira dizer. É uma extensão da voz do falante. A partir do momento em que as crianças percebem sua pequenez e desejam ser maiores e mais poderosas, a ideia de que, por meio da escrita, elas podem fazer suas vozes atingirem lugares muito distantes daquele em que se encontram pode ser muito estimulante para elas.
(Orto)grafando
26 – Ao longo de toda a minha carreira de professor, nada que eu tenha feito para ajudar foi tão efetivo quanto não fazer coisa alguma, exceto dizer-lhes para não se preocuparem com isso e seguirem lendo e escrevendo.
Quebra-cabeças
27 – As crianças nascem apaixonadamente ansiosas por compreender tanto quanto puderem as coisas ao seu redor. O processo pelo qual elas transformam experiência em conhecimento é exatamente igual, ponto a ponto, ao processo pelo qual aqueles que chamamos de cientistas produzem o conhecimento científico. As crianças observam, imaginam, especulam e fazem perguntas a si mesmas. Conjeturam passíveis respostas, constroem hipóteses e teorias. Depois testam as teorias Formulando questões, fazendo observações posteriores, fazendo novos experimentos e lendo coisas novas sobre o que julgavam já saber. Então, modificam as teorias conforme a necessidade ou as rejeitam. E o processo continua. Isso é o que na vida “adulta’ chama-se de Método Científico, com M e C maiúsculos. E é precisamente isso que esses pequeninos seres começam a fazer tão logo nascem.
28 – Se tentarmos controlar, manipular ou desviar esse processo, nós o atrapalharemos. Se insistirmos por muito tempo em interferir, o processo estanca. O cientista independente que existe na criança, então, desaparece.
Produzindo nossas próprias conexões
29 – Isso não quer dizer que as crianças tenham de descobrir tudo sem nenhuma ajuda. Podemos ajudá-las de várias formas. Podemos, por exemplo, dispor organizadamente materiais diante delas, de forma a aumentar-lhes a possibilidade de descobertas. A verdadeira aprendizagem é um processo de descoberta, e, se quisermos que ela aconteça, devemos criar as condições típicas nas quais as descobertas ocorrem. Sabemos quais são. Elas incluem tempo, lazer, liberdade e ausência de pressão.
Pondo sentido no mundo
30 – Crianças não passam da ignorância ao conhecimento sobre um dado assunto num estalo, como uma lâmpada apagada que, de repente, se acende. Porque elas não adquirem conhecimento, mas o constroem. Como eu já disse anteriormente, elas criam conhecimento como os cientistas o fazem, observando, interrogando-se, teorizando e, depois, testando e revisando suas teorias. Ir da elaboração de uma teoria ao ponto de estar seguro de que ela seja verdadeira muitas vezes lhes toma muito tempo. Normalmente as crianças não têm consciência dos processos e dos métodos científicos que estão continuamente usando; não sabem que estão observando, teorizando, testando e revisando teorias. E ficariam surpresas e espantadas se lhes dissessem que estão fazendo essas coisas. Em algum momento do crescimento, suas mentes estão cheias de teorias sobre vários aspectos do mundo a seu redor incluindo a linguagem — que estão constantemente testando. Mas, a não ser por meio de sua própria existência e de seu comportamento, elas não são capazes de nos dizer o que são essas teorias. Não podemos ajudar esses processos do inconsciente, interferindo neles. Mesmo quando estamos nos esforçando ao máximo para sermos úteis, dando assistência e tentando melhorá-los, nós só podemos prejudicá-los.
31 – Devido ao fato de Jean Piaget — que sem dúvida foi um pensador brilhante e original — não ter compreendido isso, tanto o método que usou para aprender sobre o pensamento infantil como as conclusões que dele extraiu estavam errados. Em experiências com crianças, os psicólogos estão descobrindo cada vez mais que, quando são dados a elas meios para demonstrarem — com ações, e não com palavras o que sabem, os resultados dos experimentos de Piaget são invalidados, e as crianças mostram ser de fato capazes de fazer coisas as quais ele dizia que elas não podiam fazer. Crianças de não mais que 2 anos têm mostrado ser capazes de fazer exatamente o tipo de raciocínio formal e lógico que Piaget declarara impossível nessa idade.
32 – O que esquecemos facilmente, em nosso apaixonado caso de amor com o pensamento abstrato, típico do século XX, é que, para fazer uma abstração de alguma parte da realidade, devemos extrair algum sentido dessa realidade. Isso torna, para nós, muito mais fáceis os atos de pensar, manipular, medir, pôr em números e processar qualquer coisa com o computador, do que o que tendemos a fazer mais frequentemente, isto é, pensar em nossa abstração como algo maior e mais real que a própria realidade — da qual ela é, na verdade apenas uma pequena parte — e ignorar a realidade que jogamos fora para construir nossa abstração. Pensamos que tudo que não podemos contar não conta. Por exemplo, escolas contam crianças ou coisas contáveis que elas estimulam as crianças a fazer, e assim, como um mau pastor, tais escolas começam a pensar que esses números são mais reais que as próprias crianças. Logo esquecem de olhar para elas. Esquecem até como se olha para crianças. As crianças resistem a essa abstração continua, porque seu principal negócio na vida é encontrar e construir sentido, pôr sentido em um mundo que a princípio lhes parece inteiramente sem sentido. Elas estão muito mais apaixonadamente interessadas na realidade e no sentido do que nós mesmos. E lutam para preservá-los, encontrá-los e inventá-los, onde e como puderem.
Suzuki
33 – O insight fundamental de Suzuki, o coração pulsante de seu método, é que, exatamente como as crianças aprendem a falar — no início, muito desajeitadamente—, experimentando produzir alguma fala a partir das falas de adultos que ouvem a seu redor, da mesma maneira elas podem aprender música de modo mais eficaz tentando tocar algumas melodias que já ouviram muitas vezes e que, por isso, já conhecem.
34 – As crianças tornam-se membros de uma comunidade musical. Em uma arte performática, como é a música, realmente faz sentido o currículo uniforme, que as escolas tão equivocadamente insistem em utilizar em outras áreas, onde ele não faz sentido algum. Onde quer que estejam, as crianças que aprendem pelo método e que estejam em um mesmo nível de aprendizagem conhecerão as mesmas músicas, o que lhes permitirá tocar juntas. Isso é muito divertido para elas, além de ser, em música, a principal alegria que se pode ter.
35 – O recital não começou com as crianças menores para depois ir subindo na escala de idade e virtuosismo. Em vez disso, misturaram alunos iniciantes e alunos experientes, mais ou menos ao acaso. Não havia ali estrelismo ou competição; tratava-se apenas de um grupo de crianças juntas fazendo música, para seu próprio prazer e para o prazer de seus pais e de outros que quisessem ouvi-las.
36 – Em resumo, devemos ficar atentos para o fato de que a exploração, a descoberta, a aventura e, sobretudo, a alegria e a excitação que acompanham a música são os meios para sua aprendizagem. E é preciso lembrar que a instrução formal e o método rígido podem matar a capacidade de aprender música.
Ensino “pinguinizado”
37 – O que os adultos podem fazer pelas crianças é tornar este mundo e as pessoas que o habitam mais e mais acessíveis e transparentes para elas. A palavra-chave é acesso: ás pessoas, aos lugares, ás experiências, aos locais de trabalho e a outros lugares aonde vamos: cidades, países, ruas, construções. Podemos também oferecer brinquedos, livros, discos, ferramentas e outros recursos. Em geral, as crianças têm maior interesse nas coisas que os adultos realmente usam do que nas pequenas coisas que compramos para elas. Quero dizer que qualquer um de nós que tenha visto crianças na cozinha sabe que elas prefeririam brincar com as panelas e os potes do que com as miniaturas de brinquedo.
38 – Podemos também auxiliar as crianças respondendo às perguntas que fazem. No entanto, todos nós, adultos, precisamos tomar cuidado aqui, porque temos a tendência de responder muito mais do que as crianças realmente perguntam. “Aha!”, pensamos, “agora tenho chance de ensinar alguma coisa.” E então despejamos uma tese de quinze minutos para uma simples perguntinha. Existe uma história muito conhecida de uma criança à qual se passou a tarefa de ler um livro sobre pinguins e escrever um relatório sobre ele. Seu relatório de leitura trazia o cabeçalho convencional: nome, série, escola, classe, assunto e, finalmente, o texto do relatório, em que se lia: “Esse livro fala muito mais sobre pinguins do que eu quero saber”.
39 – Sempre que uma criança pergunta algo, existe o perigo de, digamos assim, pinguinizar. Ouvi uma história semelhante de uma criança que perguntou algo á mãe, que estava cansada, distraída ou talvez sentia que não soubesse o bastante e respondeu: “Por que você não pergunta a seu pai?” A criança respondeu: “Não precisa, eu não quero mesmo saber isso”. Se as crianças quiserem mais, elas pedirão mais. O melhor que podemos fazer é simplesmente responder ã questão especifica que nos foi dirigida ou, se não soubermos responder, dizer que podemos pesquisar juntos. Ou ainda que podemos descobrir dessa ou daquela maneira.
40 – O ensino que não foi solicitado não apenas não produz aprendizagem, mas também — e isso para mim foi mais difícil de aprender — cria uma resistência ao aprendizado. Agora isso se tornou uma evidência. Noventa e nove por cento das vezes, o ensino que não foi solicitado por livre e espontânea vontade não resulta em aprendizagem e, além disso, impede que se aprenda.
41 – Sempre que, sem ser solicitados, sem ser convidados, tentamos ensinar algo a alguém, transmitimos a essa pessoa uma mensagem de duplo sentido. A primeira parte da mensagem é: estou lhe ensinando algo importante, mas você não é inteligente o suficiente para perceber isso. A menos que eu ensine isso a você, você muito provavelmente nunca descobrirá sozinho. A segunda parte da mensagem é: o que estou lhe ensinando é tão difícil que, se eu não lhe ensinar, você nunca o aprenderá.
42 – Essa dupla mensagem de desconfiança e de desprezo ë claramente entendida pelas crianças, porque elas são muito hábeis na interpretação de mensagens que contêm emoções. Isso as faz furiosas. E por que não deveria fazer? Todo ensino que não é solicitado contém essa mensagem de desconfiança e desprezo. Uma vez que percebi isso, descobri que tinha de me conter, que tinha de conter as palavras na ponta da língua. O problema é que nós, seres humanos, gostamos de ensinar. Somos um animal que ensina, assim como somos um animal que aprende. Devemos restringir esse impulso, esse hábito, essa necessidade de explicar as coisas a todo mundo… a não ser que sejamos solicitados.
O poder do exemplo
43 – Frequentemente, quando as crianças ficam entediadas e distraídas, em casa ou em uma escola infantil, os adultos concluem que elas “precisam de mais estrutura, mais apoio”. Eu tendo a ser cauteloso no uso dessa expressão, porque aqueles que a usam geralmente querem dizer o seguinte: as crianças “precisam de alguns adultos sobre elas dizendo-lhes o que fazer e vigiando-as para que o façam”.
44 – A única maneira de elas aprenderem quanto tempo e esforço são necessários para se fazer, digamos, uma mesa, é poder ver alguém construindo uma mesa, do começo ao fim. Ou pintar um quadro. Ou consertar uma bicicleta. Ou escrever uma história. Ou o que quer que seja.
45 – As crianças precisam ver coisas bem-feitas. Cozinhar, especialmente assados, que mudam de textura e de forma, é uma tarefa que elas podem gostar de acompanhar. Digitar pode ser outra. A cada uma dessas ou a ambas as atividades, podemos adicionar a produção de livros e encadernações. Essas são atividades artesanais de que as crianças podem participar do começo ao fim. Desenho, pintura e trabalho em madeira podem ser outras.
46 – Os adultos devem usar as habilidades que têm onde as crianças possam vê-los. No caso improvável de que não tenham habilidades das quais possam falar, devem aprender algumas e deixar que as crianças os vejam aprender, mesmo que se trate de coisas tão simples como aprender a digitar no computador. Devem convidar as crianças a que se juntem a eles em tarefas que exijam o uso dessas habilidades. Dessa forma, as crianças podem ir sendo vagarosamente atraídas a um comprometimento cada vez mais intenso com as atividades dos adultos, atividades sérias e que valem a pena ser realizadas, nas quais elas se sentirão valorizadas e aprenderão pra valer.
47 – Verão e aprenderão também que seus pais não as acham tão pequenas e tão estúpidas a ponto de não poderem incluí-las em uma parte central de suas próprias vidas.
Corrigir erros
48 – Quando as crianças começam a aprender a falar, frequentemente usam o nome de um objeto para se referir a toda uma classe de objetos similares. Em Como as crianças aprendem, falei sobre uma criança que chamava de vacas todos os animais que via nos campos, fossem eles cavalos ou carneiros. Há muitas razões importantes para que eu considere que não corrigir tais “erros” é a coisa certa a se fazer nesses casos:
49 – 1) Cortesia é a primeira delas: se uma pessoa ilustre de um país estrangeiro estivesse nos visitando, não corrigiríamos cada erro que ela cometesse em português, ainda que quisesse aprender nossa língua, pela simples razão de que seria uma grosseria fazê-lo. Não costumamos pensar em cortesia e grosseria corno categorias de comportamento aplicáveis a nossas relações com as crianças. Mas deveríamos pensar.
50 – 2) A criança que inicialmente isola uma classe de objetos e lhes dá um nome está realizando um feito intelectual considerável. Nossa primeira reação a tal feito deveria ser de aceitação e reconhecimento. Sem fazer grande algazarra por isso, deveríamos deixar claro para ela, por meio de nossas ações, que ela realizou algo bom, c não que cometeu um erro. Ponhamo-nos em seu lugar. Se estivéssemos aprendendo, em um país estranho, a falar uma outra língua, como nos sentiríamos se alguém corrigisse cada erro que cometêssemos? A menos que fôssemos uma pessoa excepcional, o efeito dessas correções seria fazer de nós pessoas tão cuidadosas com o que iríamos dizer que acabaríamos por falar muito pouco ou quase nada — corno um homem que conheço e que, depois de cinco ou seis vezes no México, não conseguia falar vinte palavras em espanhol porque não se permitia dizer nada a menos que estivesse absolutamente seguro de que estava certo.
51 – 3) Alguém poderia dizer: “Não ajudamos em nada se não fazemos nem dizemos nada para facilitar a aprendizagem”. Mas é exatamente essa a questão. Apenas pelo uso que fazemos da linguagem, damos á criança toda a ajuda de que ela precisa. Porque outras pessoas chamavam aqueles animais de “cavalos” e “ovelhas”, em vez de “vacas”, aquela criança que mencionei aprendeu, e muito rápido, que é assim que eles devem ser chamados. Em resumo, não precisamos “ensinar” ou “corrigir” para que possamos ajudar uma criança a aprender.
52 – 4) É sempre melhor para uma criança descobrir algo por sua conta do que com a ajuda de outros que lhe digam o que poderia descobrir sozinha — desde que esteja garantido, naturalmente, corno no caso de ela ter de atravessar uma rua, que sua vida não seja posta em perigo no processo da aprendizagem. No caso da aquisição de competências intelectuais, não admito nenhuma exceção a essa regra. Em primeiro lugar, aquilo que a criança descobre, ela retém melhor. Em segundo lugar, e muito mais importante, a cada vez que descobre algo, ela ganha confiança em sua própria habilidade de descobrir coisas.
53 – 5) Estamos nos enganando se pensamos que, sendo bonzinhos ao corrigi-las, evitamos que as correções soem para as crianças como reprovações. Apenas em circunstâncias excepcionais e com grande tato é que se pode corrigir um adulto sem, em alguma medida, ferir seus sentimentos. Como podemos supor que as crianças — cujo senso de identidade, ou cujo ego, ou cuja autoestima são tão mais fracos — possam aceitar correções sem nenhum problema? Eu diria que, em 99% dos casos, as crianças recebem uma correção como unia reprimenda, não importa quão agradáveis, descontraídos ou estimulantes tenhamos tentado ser ao corrigi-las. Reconheço que sou mais dogmático no que diz respeito a isso do que em relação a outras coisas que acredito saber. Tenho visto o fato ocorrer diante de meus olhos muitas vezes.
54 – 6) Por um lado é verdade, e por outro é equivocado dizer que as crianças querem aprender. Sim, é verdade que querem, mas da mesma forma que querem respirar. Aprender, não mais que respirar, não é um ato de vontade para os pequenos. Eles não pensam: “Agora vou aprender isso ou aquilo”. Está em sua natureza olhar para o mundo, apropriar-se dele com seus sentidos e construir sentidos a partir dessa experiência, sem saber absolutamente como estão fazendo isso e sem nem mesmo saber que estão fazendo isso. Um dos maiores erros que cometemos com as crianças é torná-las conscientes de sua aprendizagem, a ponto de elas começarem a perguntar a si mesmas: “Será que estou aprendendo ou não?” A verdade é que qualquer um que esteja vivendo, expondo-se à vida e entrando em contato com ela com energia e entusiasmo, está ao mesmo tempo aprendendo. É exatamente a preocupação com aprender que interrompe a aprendizagem das crianças. Quando começam a ver o mundo como um lugar perigoso, do qual devem se isolar e se proteger, quando começam a viver menos livre e plenamente, então é que seu processo de aprendizagem declina e tende a cessar.
55 – 7) Mesmo quando as crianças atingem a idade em que se tornam conscientes, por alguns momentos, de que estão deliberadamente aprendendo algo que querem aprender, isso não significa que elas querem ser lembradas disso o tempo todo. Uma criança saudável preferirá quase sempre descobrir coisas por conta própria. Não muito tempo atrás, um professor veterano resumiu isso brilhantemente: “Uma única palavra, para um sábio”, disse ele, “pode deixá-lo enfurecido”.
A droga do elogio
56 – Muito se tem escrito sobre quanto é importante estimular a autoimagem das crianças enchendo-as de elogios. Para mim, essa recomendação é um equivoco dos mais sérios. Essa questão me toca de modo especial, porque a primeira escola em que trabalhei acreditava estar apoiando as crianças com essa prática. Na época em que conheci aqueles alunos de quinta série, a maioria era tão dependente da contínua aprovação dos adultos que ficava aterrorizada com a possibilidade de errar e, por isso, não obter o que esperava. Essa prática, que depois reencontrei em muitas outras escolas, produzia efeitos exatamente opostos aos pretendidos.
57 – O problema com qualquer tipo de motivação externa, seja ela negativa (ameaças, punições ou reprimendas), seja positiva (estrelas, comendas, diplomas, títulos acadêmicos etc.), é que ela desloca ou sufoca a boa motivação, que é sempre interna. Bebés não aprendem para nos agradar, mas sim porque é seu destino e natureza querer descobrir o mundo. Se os elogiamos por cada coisa que fazem, depois de um tempo vão começar a aprender e a fazer coisas só para nos agradar. E o próximo passo será ficarem preocupados com o fato de não estarem nos agradando. Vão ficar tão temerosos de errar quanto ficariam se tivessem sido ameaçados de punição.
58 – O que as crianças querem de nós é atenção inteligente, e precisam disso. Querem que as notemos e prestemos algum tipo de atenção no que estão fazendo, que as levemos a sério, que as respeitemos e confiemos nelas como seres humanos que são. Querem que sejamos educados e delicados com elas. E não precisam de muitos elogios.
A ajuda indesejada
59 – Milhares de pais que ensinam seus filhos aprendem com a experiência, como essa mãe, que interferir muito nas brincadeiras e na aprendizagem das crianças frequentemente produz a interrupção de tais atividades ou processos. Os pais aprendem essa lição com facilidade. Por que isso é tão difícil para as pessoas que ensinam nas escolas? A resposta é simples. A razão pela qual nossa mãe pôde ver que sua interferência tinha, pelo menos naquele momento, estragado a brincadeira que cada um estava fazendo com os diferentes mapas foi que suas crianças estavam livres para deixar o quarto. Suponhamos que não estivessem; suponhamos que estivessem em uma sala de aula convencional e que fossem obrigadas não apenas a estar ali, mas a concluir uma tarefa com os mapas proposta pelo professor. O que teria acontecido é que elas começariam a fazer as atividades devagar até que pudessem sair. Ou, em vez disso, poderiam devanear ou ficar fingindo trabalhar. Ou poderiam brincar de forca ou de jogo-da-velha escondidas do professor. Ou poderiam se divertir, irritando o professor por montar o mapa errado. Mas, para o professor, todas essas atitudes evasivas poderiam parecer como se as crianças ainda estivessem trabalhando no mapa, e assim as lições vitais, que a mãe pôde receber, se perderiam.
Uma linha muito tênue
60 – No geral, se não punimos as crianças pelas mensagens que elas nos dirigem nem fazemos que se sintam culpadas por fazê-lo, elas ficarão à vontade para nos mandar tantas mensagens quantas julgarem necessárias. Se não prestarmos atenção em um primeiro sinal, elas enviarão um segundo. Não é preciso complicar as coisas nem ficarmos ansiosos em relação a isso. As crianças são bons comunicadores. Talvez uma linha muito tênue separe, como um limite a que devemos ficar atentos, a resposta suficiente de um pai a uma pergunta do filho e a resposta que pretende ampliar a compreensão da criança, fornecendo mais informação do que a requerida pela pergunta. Além de certo ponto começa o perigo. Se tudo que fazemos ou dizemos a uma criança tem algum tipo de intenção pedagógica consciente, se a resposta a cada ato da criança é pensarmos “Como posso usar isso para ensinar-lhe algo?”, corremos o risco de transformar nosso lar em uma escola. Nem sempre existe, nem deveria existir, uma lição em cada coisa.
61 – Não há nada de errado em oferecer uma sugestão, mas existem muitas coisas com as quais devemos ser cautelosos. Em primeiro lugar, tanto os pais como a criança devem estar livres para recusar sugestões. Se a criança se recusa explicitamente a continuar, ou se continua, mas com evidente falta de entusiasmo, é melhor deixar de lado o que se está fazendo, e rapidamente. Não tente convencer a criança de que ela deve continuar, nem mantenha a atividade sob o pretexto de que, se ela insistir o suficiente, acabará por tomar gosto pela coisa. Os adultos devem aprender a aceitar “não” como resposta.
62 – Se os pais parecerem desapontados ou magoados quando suas sugestões não forem ansiosamente bem recebidas, depois de um tempo a criança começará a pensar: “Quando papai ou mamãe sugerir algo, é melhor eu aceitar. Se não, eles ficam mal”. Usar esses sentimentos ou o medo desses sentimentos para obter das crianças o que queremos é muito pior do que dar ordens á moda antiga. Se os próprios pais não podem evitar o sentimento de frustração ao não terem suas sugestões aceitas, é melhor que parem de fazer sugestões.
63 – Mesmo que as crianças aceitem as sugestões e continuem brincando a partir delas, é melhor não faze-las demais. Se estamos sempre pensando em coisas legais para que as crianças façam, não deixamos que elas pensem nessas coisas por conta própria. Além disso, elas podem começar a pensar que todas as boas ideias vêm dos adultos e, assim, ficar dependentes de nós. É bom curtir as brincadeiras com as crianças por algum tempo, mas não faria nenhum sentido deixarmos de agir como professores em tempo integral para passarmos a agir como animadores de festa em tempo integral. Temos nossos próprios afazeres. Logo, mesmo que tenhamos muitas boas ideias, moderação é importante.
Três metáforas enganosas
64 – A educação formal é governada e dominada por três metáforas particulares. Alguns educadores estão mais ou menos conscientes de que seu trabalho é guiado por tais metáforas. Outros não têm a menor consciência disso. E outros, ainda, podem ate chegar a negar vigorosamente sua influência. No entanto, conscientes ou não, elas têm determinado amplamente o que a maioria dos professores faz na escola.
65 – A primeira dessas metáforas apresenta a educação como uma linha de montagem em uma fábrica de enlatados ou engarrafados. Penduradas nas esteiras estão filas de recipientes vazios de diferentes formas e tamanhos. Ao lado delas, uma série de aparelhos de esguichar, controlados pelos empregados da fábrica. A medida que os recipientes passam, os empregados esguicham em seu interior variadas quantidades de diferentes substâncias — leitura, ortografia, matemática, história, ciências.
66 – No andar de cima, os gerentes decidem quando os recipientes devem ser postos na esteira, quanto tempo devem ser deixados nela, que tipos de substâncias devem ser postos neles de cada vez e o que deve ser feito com aqueles recipientes cujas aberturas parecem ser menores do que as de outros e com aqueles que parecem não possuir nenhuma abertura.
67 – Quando discuto essa metáfora com professores, muitos riem e parecem achá-la absurda. Mas basta que leiamos as últimas propostas de melhoria da educação para ver como ela domina ainda as concepções dos reformadores. Efetivamente, todos os relatórios oficiais continuam a dizer que devemos ter tantos anos de português, outros tantos de matemática, outros de língua estrangeira, mais outros de ciências. Em outras palavras, devemos esguichar português nos recipientes por tantos anos, matemática, por outros tantos, e assim por diante. O pressuposto é que qualquer coisa que se esguiche no recipiente entrará nele e, uma vez em seu interior, ali permanecerá.
68 – Parece que ninguém faz a óbvia pergunta: como é que tantos recipientes saem da fábrica vazios, se receberam todas as substâncias que foram esguichadas neles por tantos anos? Diante de um século de experiência que os contradiz, os educadores ainda se agarram à noção de que ensinar produz aprendizagem e, logo, á convicção de que, quanto mais se ensina, mais se aprende. Nenhum dos relatórios que li sobre as propostas de reforma educacional levanta questões sérias sobre esse pressuposto. Se os alunos não sabem o suficiente, é porque não começamos a esguichar cedo suficiente (aos 4 anos, por exemplo), ou porque não esguichamos a coisa certa ou a quantidade suficiente dela (vamos restringir ou especificar mais o currículo).
69 – Uma segunda metáfora retrata os alunos na escola como ratos de laboratório em uma gaiola, sendo treinados para fazer algum tipo de truque. Na maioria das vezes, um tipo de truque que nenhum rato na vida real teria qualquer razão para fazer. Põe-se, por exempla, o rato em um lado da gaiola e, no outro, um triângulo e um circulo. Se o rato pressiona a figura “certa”— aquela que o experimentador quer que ele pressione –, lá vem uma saborosa recompensa. Se o rato pressiona a figura “errada”, a indesejada, recebe um choque elétrico. De acordo com John Goodlad, da Escola de Educação da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, assim era o ensino nas escolas, na virada do século XIX para o XX. Digo que assim é o ensino ainda hoje: tarefa, recompensa, choque. No lugar de recompensa e choque leiam-se promessas e ameaças, ou “reforço positivo” e “reforço negativo”.
70 – Os reforços positivos na escola são sorrisos dos professores, medalhas, notas altas nos boletins, classes especiais e, no fim, o ingresso em faculdades prestigiadas, a conquista de bons empregos, trabalhos interessantes, dinheiro e sucesso. O reforço negativo são reprimendas raivosas, sarcasmo, desprezo, humilhação, vergonha, o riso derrisório das outras crianças, as ameaças de fracasso, de ficar para trás, de ser expulso da escola. Para muitas crianças desafortunadas, os reforços negativos incluem castigos físicos. Ao fim dessa linha, estão a admissão em faculdades de segunda ou terceira categoria ou a impossibilidade de cursar uma faculdade, o desemprego ou empregos ruins, trabalho duro, pouco dinheiro ou absoluta pobreza.
71 – A terceira metáfora é, talvez, a mais destrutiva e perigosa de todas. Apresenta a escola como um hospital para alienados mentais. As escolas, de alto ou baixo nível, têm operado sob a regra, maravilhosamente conveniente para elas, de que quando ocorre aprendizagem o crédito é delas: “Se você pode ler, agradeça a um professor”, e de que quando não ocorre aprendizagem, a culpa é dos alunos. Em uma escola de ensino fundamental muito bem cotada, um professor veterano chegou a afirmar: “Se as crianças não aprendem o que ensinamos, é porque são preguiçosas, desorganizadas ou tem distúrbios mentais”. A exceção de uns poucos professores, a maioria concordou com ele.
72 – Mais recentemente, no entanto, os educadores encontraram outra explicação para a não ocorrência de aprendizagem: “deficiências de aprendizagem”. Essa explicação se tornou popular porque oferecia um argumento a todos os envolvidos nesse assunto. Pais de classe média necessitados de se livrar da culpa pelo fracasso dos filhos puderam parar de perguntar “O que fizemos de errado?”. Os especialistas lhes diziam: “Vocês não fizeram nada de errado; o problema é só o fato de que seu filho tem uns parafusos soltos na cabeça”. Podia-se dizer aos que, já com certa ira, cobravam às escolas que “fizessem seu trabalho e ensinassem algo às crianças”: “Sinto muito, mas nada podemos fazer; seu menino tem deficiências de aprendizagem”.
73 – Crianças de apenas 5 ou 6 anos, quase sempre em seus primeiros dias de escola, são submetidas a baterias de testes “para descobrir o que está errado com elas”. A algumas, inclusive, os professores dizem para que servem os testes. Uma parte substancial da pseudociência da pedagogia consiste agora em listar e descrever essas “doenças”, os testes que supostamente as diagnosticam e as atividades que são planejadas para tratá-las — mas quase nunca para curá-las.
74 – A “pesquisa” que está por trás desses rótulos é muito tendenciosa e nada convincente. Alguns anos atrás, em um grande congresso de especialistas em deficiências de aprendizagem, perguntei se alguém já tinha ouvido falar — não feito, apenas ouvido falar— de pesquisas ligando déficits de percepção com estresse. Num auditório de quase 1.100 pessoas, duas levantaram a mão. Um homem afirmou, então, saber de uma pesquisa na qual alunos em que se supunham graves déficits de aprendizagem foram colocados em uma situação relativamente livre de estresse, e suas deficiências logo desapareceram. O outro que levantara a mão relatou-me depois uma experiência similar.
75 – Nossa terceira metáfora, como as duas primeiras, apresenta uma imagem falsa da realidade. As escolas trabalham com o pressuposto de que as crianças não estão interessadas em aprender e de que, na verdade, não são boas mesmo nisso. Creem que as crianças não aprenderão nada a não ser o que preparamos para que aprendam, a não ser que lhes mostremos como aprender. E acreditam que o modo de fazê-las aprender é dividindo os conteúdos a serem aprendidos em uma sequência de tarefas miúdas que deverão ser dominadas uma de cada vez, cada qual com sua recompensa apropriada e com seu apropriado choque. E quando esse método não funciona, as escolas entendem que há algo errado com as crianças. Algo que se deve diagnosticar e tratar.
76 – Todos esses pressupostos são falsos. Se você sai de Chicago para ir a Boston, e pensa que Boston está a oeste de Chicago, quanta mais longe você for, pior será, porque mais distante estará de seu destino. Se seus pressupostos estiverem errados, suas ações também estarão, e quanto mais você trabalhar duro em seus objetivos, pior será.
77 – O fato facilmente observável é que as crianças são apaixonadamente ávidas por aprender, para extrair tanto sentido do mundo a seu redor quanto lhes seja possível. Elas são extremamente boas nisso. E o fazem como os cientistas, isto é, criando conhecimento a partir da experiência. As crianças observam, interrogam-se, descobrem e em seguida testam as respostas que constroem para as perguntas que fazem a si mesmas. Quando estão realmente á vontade para aprender, e não coagidas a fazê-lo, continuam a fazer mais e mais e ficam cada vez melhores nisso.
Aprender é compreender as coisas
78 – As crianças são muito mais capazes do que imaginamos de reconhecer que algo que elas ou outra pessoa tenham dito não é coerente com uma outra coisa que elas já saibam. Em outras palavras, elas querem que as partes de seu modelo mental do mundo se ajustem. Se não se ajustam, elas ficam perturbadas. Num certo sentido, agem como filósofos: apreciam resolver contradições. Elas ficam apreensivas com o paradoxo. Gostam que as coisas façam sentido. Mas têm de trabalhar nessas questões a seu modo e nos momentos que sentem como oportunos.
79 – Até que uma criança se torne realmente insatisfeita com seu modelo mental do mundo, ate que sinta que ele não é correto, correções não lhe fazem sentido. Ela lhes dá as costas. As correções que ela própria faz, ou, no mínimo, as que está disposta a ouvir, são as de que ela necessita.
80 – A razão pela qual o ensino, no sentido convencional da palavra — dizer coisas às crianças—, é impossível é o fato de que não podemos saber qual o estado da mente de uma criança. Ela não dispõe de palavras para nos falar. Todos nós sabemos mais do que podemos contar. E eu não quero com isso dizer “mais do que temos tempo de contar”, mas sim mais do que podemos pôr em palavras. E isso é cem vezes mais verdadeiro no caso de uma criança. Crianças têm muitas compreensões que não são capazes de verbalizar. E têm também muitas más compreensões sobre as quais não são capazes de falar.
81 – Em seu modelo mental do mundo, existe um grande número de brechas, de lacunas, que elas são capazes de perceber, mas que não são capazes de pôr em palavras. Elas apenas sentem que falta uma peça a seu modelo, como uma peça que falte a um quebra-cabeça. Mas quando, por meio de suas experiências, percebem de alguma maneira o surgimento daquele pedaço de informação que preenche o vazio do quebra-cabeça, são empurradas em sua direção como se fossem atraídas por um imã. Acho que todos nós já experimentamos isso.
82 – Existe uma pequena lacuna em nosso conhecimento ou compreensão, e, de repente, talvez em um livro, talvez a partir de uma experiência, surge uma ideia que a preenche e tudo se ajeita. Praticamente é como se sentíssemos que a ideia corre para aquele lugar de nossa compreensão em que da faltava e, rapidamente, nós a ajustamos ali. Não se esquecem essas coisas. E esse tipo de coisa que as crianças aprendem. Elas não podem nos dizer que coisas são essas. Elas não têm os meios para nos dizer.
83 – Quando uma criança está aprendendo por sua conta, seguindo sua própria curiosidade, uma enorme quantidade de coisas está sendo processada. Desse fluxo, subconscientemente, ela extrai as coisas de que necessita. O que fazemos quando resolvemos decidir tudo pela criança é desacelerar o processo sem aumentar a eficiência. Pensamos que estamos aumentando a eficiência do processo, mas na realidade não estamos. Estamos apenas reduzindo a entrada de informações.
84 – Ao longo de anos, notei que a criança que aprende rapidamente é aventureira. Está sempre pronta a correr riscos. Aproxima-se da vida de braços abertos. Quer abraçar tudo. Conserva o desejo, presente nas crianças pequenas, de extrair sentido das coisas. Não está preocupada com ocultar sua ignorância ou com proteger-se. Está sempre pronta a expor-se á frustração e ao fracasso. Tem uma certa autoconfiança. Espera extrair sentido das coisas mais cedo ou mais tarde. Crê que conseguirá.
85 – De outro lado, para o aluno menos bem-sucedido, o mundo não é apenas um lugar um pouco sem sentido, é também um lugar cheio de truques. Em certa medida, é um inimigo. Nunca se sabe o que vai acontecer nele, mas tem-se uma boa dose de suspeita de que seja algo ruim. Não é possível ser confiante nesse mundo.
86 – O bom aluno é cheio de recursos e é também paciente. Tentará fazer as coisas de determinada maneira e, se não der certo, tentará de outra e outra ainda, até que chegue aonde pretendia. Já o aluno que fracassa não tem nem a engenhosidade necessária para pensar em outras maneiras nem a paciência necessária para testá-las e esperar o resultado.
87 – O bom aluno, possivelmente porque não é muito preocupado, possivelmente porque é este seu estilo de pensar, é capaz de olhar objetivamente para seu próprio trabalho, distanciar-se dele e procurar por inconsistências e incoerências, acabando por ver os erros nele contidos.
88 – Uma criança só enfia a cabeça num buraco ou mete o rabo entre as pernas quando está com medo do mundo, quando está sendo derrotada. Mas quando faz algo em que está apaixonadamente interessada, cresce como uma árvore, em todas as direções. E assim que as crianças aprendem, é assim que elas crescem. Projetam raízes profundas, como árvores em solo seco. A árvore pode estar mirrada, mas envia essas raízes e, de repente, uma delas atinge um veio d’água. E a árvore inteira cresce.
89 – As crianças não são apenas filósofos, são cosmólogos, inventores de mitos e de religiões. São como os hindus, que apareceram com a ideia de que havia uma tartaruga em cujo dorso o mundo foi criado ou a de que os deuses trouxeram o fogo aos homens.
90 – Nós tendemos a tratar com condescendência as histórias e fantasias infantis e a extrair delas uma visão ornamental. “É uma história muito bonita, querida, mas você sabe que não é verdadeira, não é?” Mas a criança que é capaz de tais histórias está envolvida num trabalho sério. Não está só se divertindo. Está tentando construir um modelo do universo de fato mais grandioso do que jamais pudemos imaginar — a não ser, talvez, em nossa infância. Ela está fazendo perguntas a si mesma sobre o tempo, a vida, Deus e a criação. Repito: está trabalhando como um filósofo. Deveríamos dar a ela tempo para pensar.
Vivendo e aprendendo
91 – Viver é aprender. É impossível estar vivo e consciente — e inconsciente, diriam alguns — sem estar constantemente aprendendo coisas. Se estamos vivos, estamos recebendo, n tempo todo, diferentes tipos de mensagens provenientes de nosso ambiente.
O tempo todo despertos
92 – Uma das coisas mais importantes, entre muitas que aprendi sobre as crianças — depois de acompanhá-las por anos, observar cuidadosamente o que fazem e pensar sobre isso —, é que elas são aprendizes naturais.
93 – A única coisa de que podemos estar seguros, ou mais seguros, é que elas têm um desejo apaixonado de compreender o mundo sob vários aspectos, incluindo o que não podem ver ou tocar, assim como desejam adquirir todos os tipos de habilidades e competências que lhes permitam exercer controle sobre o mundo. Agora, esse desejo, essa necessidade de compreender o mundo e de ser capaz de fazer coisas nele — as coisas que gente grande faz — é tão forte que podemos, sem risco de erro, chamá-lo de biológico. É tão forte como a necessidade de alimento, de calor, de apoio, de conforto, de sono, de amor. De fato, penso que se trata de um desejo ainda mais forte do que todos estes.
94 – Crianças não são apenas extremamente boas em aprender; elas são muito melhores nisso do que nós, adultos. Como professor, levei muito tempo para descobrir isso. Eu era um professor engenhoso e cheio de recursos, hábil no planejamento de aulas, demonstrações, formas de motivação e toda a parafernália pedagógica possível. E foi somente aos poucos, e dolorosamente— acreditem em mim: dolorosamente—, que aprendi o seguinte: quando passei a ensinar menos, as crianças começaram a aprender mais.
95 – Posso resumir em cinco ou sete palavras o que casualmente aprendi como professor. A versão de sete palavras é esta: “Aprender não é o produto de ensinar”. A versão de cinco palavras é esta: “Ensinar não produz a aprendizagem”. Como mencionei antes, a educação formal opera com o pressuposto de que as crianças aprendem somente o que, quando e porque lhes ensinamos. Isso não é verdade. Está, de fato, muito perto de ser 100% falso.
96 – Os aprendizes fazem aprendizagem. Os aprendizes criam aprendizagem. A razão pela qual isso foi esquecido é que a atividade de aprender foi transformada em um produto chamado “educação”, exatamente como a atividade, a disciplina de cuidar da saúde das pessoas se tornou produto do “cuidado médico”, e a atividade de inquirir sobre o mundo se tornou o produto da “ciência”, uma coisa especializada presumidamente possível de ser feita apenas por pessoas com complicados aparatos de milhões de dólares. Mas saúde não é um produto, e ciência é algo que você e eu fazemos a cada dia de nossa vida. De fato, a palavra ciência é sinônima de aprendizagem.
97 – O que fazemos quando aprendemos, quando criamos aprendizagem? Bem, nós observamos, olhamos, ouvimos. Tocamos, experimentamos, cheiramos, manipulamos e, às vezes, medimos ou calculamos. E então nos interrogamos, dizendo: “Bem, por que isso?”, ou “Por que isso é assim?”, ou “Esta coisa fez esta nutra acontecer?”, ou “O que fez isso acontecer?”, ou “Podemos fazer isso acontecer de modo diferente ou melhor?”, ou “Podemos eliminar a cochonilha do pé de feijão?”, ou “Podemos colher mais frutas do que as que colhemos este ano?”, ou o que quer que seja. E então inventamos teorias, que os cientistas chamam de hipóteses; damos palpites, dizendo: “Bem, talvez seja por causa disso”, ou “Talvez por causa daquilo”, ou “Pode ser que, se eu fizer isso, aconteça aquilo”. E depois testamos essas teorias ou hipóteses.
98 – Podemos testá-las simplesmente fazendo perguntas a pessoas que pensamos saberem mais do que nós, ou por meio de observações posteriores. Podemos nos dizer: “Não sei absolutamente o que é isso, mas pode ser que, observando por mais tempo, eu venha a descobrir”. Ou talvez, ainda, tratemos de fazer um experimento planejado: “Vou colocar essa substância no feijão e ver se as cochonilhas morrem”, ou “Vou tentar fazer algo mais”. E a partir dessas atitudes, de várias maneiras, podemos ou descobrir que nossos palpites não eram tão bons, ou talvez que eram realmente bons, e então continuamos, observamos mais e especulamos mais ainda. Fazemos novas perguntas, novas teorias e as testamos novamente.
99 – Esse processo cria aprendizagem e todos nós o praticamos — não apenas o pessoal do Massachusetts Institute of Technology (MIT), ou o de qualquer outra instituição cientifica famosa. Nós fazemos isso. E isso é também o que as crianças fazem. Elas trabalham duro nesse processo durante todo o tempo em que estão acordadas. Quando não estão comendo ou dormindo, estão criando conhecimento. Estão observando, pensando, especulando, teorizando, testando e experimentando — o tempo todo —, e são muito melhores nisso do que nós. A ideia de que podemos ensinar às crianças como aprender tornou-se para mim claramente absurda.
100 – As crianças aprendem tudo que veem ou experimentam. Aprendem em qualquer lugar que estejam, não apenas em lugares especialmente feitos para aprender. Aprendem muito mais com as coisas, naturais e artificiais, que são reais e existem no mundo, do que com as coisas feitas especialmente para que as crianças possam aprender com elas. Em outras palavras, estão mais interessadas nos objetos e ferramentas que usamos em nossa vida cotidiana do que em quase todos os materiais especialmente feitos para a aprendizagem. Podemos auxiliar melhor a aprendizagem das crianças se trabalharmos tanto quanto possível para tornar o mundo acessível a elas. Isso ajudará mais do que se ficarmos decidindo o que achamos que devam aprender e pensando em modos engenhosos de lhes ensinar tais conteúdos. Será melhor se prestarmos seriamente atenção no que elas fazem; se respondermos a suas questões, quando as tiverem; e se as ajudarmos a entender as coisas nas quais estão interessadas. Os modos pelos quais podemos fazer isso são simples e facilmente compreensíveis pelos pais e por outras pessoas que gostem de crianças e que assumam a tarefa de prestar atenção no que elas fazem e de pensar no que querem significar com suas ações. Em resumo, o que precisamos saber para ajudar as crianças a aprender não é obscuro, nem técnico, nem complicado. E os materiais de que precisamos para ajudá-las repousam, prontos e à mão, a nossa volta.
QUESTÕES PROVOCATIVAS SOBRE O TEXTO DE HOLT
01 – John Holt, na obra póstuma “Aprendendo o tempo todo” (1989), afirma que as crianças “aprendem muito mais com as coisas, naturais e artificiais, que são reais e existem no mundo, do que com as coisas feitas especialmente para que as crianças possam aprender com elas” e que “podemos auxiliar melhor a aprendizagem das crianças se trabalharmos tanto quanto possível para tornar o mundo acessível a elas. Isso ajudará mais do que se ficarmos decidindo o que achamos que devam aprender e pensando em modos engenhosos de lhes ensinar tais conteúdos”. Levando às últimas consequências estas observações de Holt podemos afirmar: a) Quase toda a parafernália pedagógica que criamos para ensinar às crianças é desnecessária. Como ele mesmo diz (em seguida às observações reproduzidas acima): “O que precisamos saber para ajudar as crianças a aprender não é obscuro, nem técnico, nem complicado. E os materiais de que precisamos para ajudá-las repousam, prontos e à mão, a nossa volta”. b) Os recursos pedagógicos que fabricamos não são propriamente ditados pelas necessidades de aprendizagem, e sim pelas exigências do ensino. c) O que Holt afirma não se aplica nos dias de hoje, em que as crianças querem manipular os recursos tecnológicos mais avançados (como computadores, tablets e smartphones).
02 – Em “Aprendendo o tempo todo” (1989), John Holt afirma que “a palavra ciência é sinônima de aprendizagem”. Ele explica que o processo que cria aprendizagem é o mesmo processo de fazer ciência e argumenta “que todos nós o praticamos, não apenas o pessoal do Massachusetts Institute of Technology (MIT) ou de qualquer outra instituição científica famosa”. Por que você acha que isso não é levado em conta pelos que planejam sistemas educacionais (separando a pesquisa da aprendizagem, não apenas nas escolas, mas também nas universidades)? a) Porque esses planejadores educacionais (não raro autointitulados “educadores”) não lidam propriamente com aprendizagem e sim com ensino — e ensino deve mesmo ser separado da pesquisa, porque primeiro a pessoa precisa ser ensinada (ser paciente da transferência de um conteúdo obrigatório enquanto é ignorante) para depois ser autorizada a investigar o que bem entender. b) Porque os planejadores educacionais estão acostumados a pensar que fazer ciência é só para alguns que lograram percorrer com sucesso toda uma sequência curricular, ano após ano (durante uns 20 anos) passando pelas provas capazes de atestar que adquiriam os conhecimentos corretos (o que já se conhece) sem os quais não podem se meter a descobrir o que ainda não se conhece. c) Porque, na verdade, Holt não está certo ao dizer que ciência é aprendizagem. Se fosse assim qualquer pessoa ignorante poderia ser um cientista (o que é contraditado pelos fatos: os cientistas, em geral, são pessoas que percorreram todos os graus acadêmicos, vencendo todas as etapas para chegar ao topo da escala: são doutores, pós-doutores ou livre-docentes).
03 – Holt afirma que “Aprender não é o produto de ensinar”. Ao longo do livro, vai mais além e diz que “qualquer ensino que o estudante não tenha pedido vai provavelmente impedir ou atrapalhar seu aprendizado”. Sobre isso, você acredita que: a) O ensino só não resulta em aprendizagem ou porque foi mal conduzido por um educador inexperiente ou desmotivado, ou porque a estrutura da escola não oferece condições para uma boa aula, ou porque alguns alunos estão realmente desinteressados pelo estudo. Mas não existem evidências de que o ensino possa prejudicar a aprendizagem. A argumentação de Holt é exagerada e pouco convincente. b) O ensino só é problemático se for percebido ou sentido como algo imposto. Se o educador tiver a habilidade de despertar o interesse dos alunos pelos conteúdos do currículo, a experiência educacional será tão significativa quanto a livre aprendizagem. c) Por mais que não se queira forçar nada, alguns conteúdos são básicos e necessários para qualquer pessoa. Se ela não tiver um interesse natural nestes assuntos, ou numa determinada disciplina, eles precisarão ser ensinados. d) O processo do ensino não solicitado realmente prejudica a aprendizagem das crianças e das pessoas em geral. São dinâmicas distintas e opostas: enquanto um é reprodutivo, o outro é criativo; enquanto um está pré-definido, o outro implica descoberta. Mesmo quando se aprende algo já conhecido pela cultura, este aprender é uma descoberta e (re)criação para aquele que aprende.
KRISHNAMURTI
Krishnamurti, Jiddu (1964). A mente sem medo. Primeira Palestra. São Paulo: Cultrix, 1980.
QUE É APRENDER
1 – Esta manhã desejo começar por salientar a extraordinária importância da liberdade. Em geral, não desejamos ser livres. Temos nossas famílias, nossas responsabilidades, nossos deveres — e aí nos estabilizamos. Vemo-nos inibidos por leis sociais, por determinado código de moralidade, além de levarmos a carga de nossas* cotidianas tribulações e problemas; e quando encontramos alguma espécie de consolo, algum meio de fuga a todo esse conflito e aflição, facilmente nos satisfazemos. Quase nenhum de nós deseja verdadeiramente ser livre, em qualquer sentido ou profundidade que seja; entretanto, parece-me que uma das coisas mais importantes da vida é o descobrirmos, por nós mesmos, como poderemos ser total e completamente livres. Poderá a mente humana, tão fortemente condicionada, tão estreitamente confinada em suas lides diárias, tão cheia de temores e ansiedades, tão incerta quanto ao futuro e tão constante em sua exigência de segurança — poderá ela suscitar em si própria uma mudança radical, só realizável em completa liberdade?
2 – Em verdade, este é um problema que deveria interessar a cada um de nós, pelo menos durante as três semanas de nossa estada aqui. Não se trata de meu interesse verbal, senão de sermos capazes de através da análise verbal, discursiva — penetrar fundo em nós mesmos e descobrir se há alguma possibilidade de sermos livres. Sem liberdade, não se pode descobrir o que é verdadeiro e o que é falso; sem liberdade, a vida é sem profundeza; sem liberdade, somos escravos de toda a sorte de influências e de pressões sociais, das inumeráveis exigências que estamos constantemente enfrentando.
3 – Assim sendo, como indivíduos, podeis examinar-vos, penetrante e impiedosamente, para descobrirdes se alguma possibilidade lemos, cada um de nós, de ser livres?
4 – Por certo, só em liberdade pode haver mudança. E nós temos de mudar, mas não superficialmente, com pequenos aparos aqui e ali; temos de operar uma radical transformação da própria estrutura de nossa mente. Por isso, sinto ser tão importante falarmos de mudança, discutirmo-la, para ver até que ponto poderemos penetrar neste problema.
5 – Sabeis o que entendo por “mudança”? “Mudar” é pensar de maneira totalmente diferente; é fazer nascer um estado de espírito livre da ansiedade em qualquer momento, sem sentimento de conflito, sem luta para conseguir alguma coisa, para ser ou “vir a ser” algo. É estar completamente isento de medo. Para se descobrir o que significa estar livre do medo, acho necessário compreender a questão de “instrutor e discípulo” e, assim, compreender o que é aprender. Aqui , não há instrutor nenhum, nem ninguém que está sendo ensinado. Todos estamos aprendendo. Por conseguinte, tendes de ficar completamente livres da ideia de que alguém vai dar-vos instrução ou prescrever-vos o que fazer; e isso significa uma relação inteiramente diferente entre vós e este orador. Nós estamos aprendendo e não sendo ensinados. Se, com efeito, compreenderdes que não estais aqui para serdes instruído por alguém, que não há instrutor nenhum para instruir-vos, nenhum salvador para vos salvar, nenhum guru para prescrever-vos o que fazer — se compreenderdes realmente este fato, tereis então de fazer tudo por vós mesmo; e isso requer extraordinária energia.
6 – A energia se dissipa e degrada, perde-se totalmente, quando se estabelece a relação de instrutor e discípulo; portanto, durante as presentes palestras, e nas discussões subsequentes, espero que não prevaleça nenhuma ideia de tal relação. Seria verdadeiramente maravilhoso se pudéssemos eliminá-la totalmente, deixando subsistir unicamente o movimento do aprender.
7 – Em geral, aprendemos pelo estudo, por meio dos livros, pela experiência, ou mediante instrução ministrada por outro. São essas as maneiras comuns de aprender. Aprendemos de memória o que devemos fazer e o que não devemos fazer, o que devemos pensar e o que não devemos pensar, como devemos sentir, como devemos reagir. Pela experiência, pelo estudo, pela análise, pelo sondar, pelo exame introspectivo, armazenamos conhecimentos na forma de memória e, depois, a memória “responde” a ulteriores “desafios” e exigências, do que resultam conhecimentos e mais conhecimentos.
8 – Tal processo nos é bastante familiar, pois é nossa única maneira de aprender. Se não sei pilotar um avião, aprendo a fazê-lo. Recebo a necessária instrução, vou adquirindo experiência, que fica retida na memória, e, por fim, posso voar. É esse o único processo de aprender familiar à maioria de nós. Aprendemos pelo estudo, pela experiência, pela instrução. O que se aprende é confiado à memória, na forma de conhecimento, e esse conhecimento funciona sempre que se apresenta um “desafio” ou todas as vezes que temos de fazer alguma coisa.
9 – Ora, eu penso que há uma maneira de aprender completamente diferente, e sobre este assunto vou dizer algumas palavras; mas, para poderdes compreender essa maneira e por ela aprender, deveis estar totalmente livres da autoridade, porque, do contrário, estareis apenas sendo instruídos e ireis apenas repetir o que ouvistes dizer. Eis porque tanto importa compreender a natureza da autoridade.
10 – A autoridade é um empecilho ao aprender — ao aprender que não é acumulação de conhecimentos na forma de memória. A memória reage sempre por padrões; nenhuma liberdade existe. O homem que está carregado de conhecimentos, de instrução, que está curvado sob o peso das coisas que aprendeu, nunca é livre. Poderá ser um homem altamente erudito, mas sua acumulação de conhecimentos o impede de ser livre, e, por conseguinte, ele é incapaz de aprender.
11 – Acumulamos várias formas de conhecimentos — científicos, fisiológicos, técnicos, etc. — e tais conhecimentos são necessários ao bem-estar físico do homem. Mas, também, acumulamos conhecimentos porque queremos estar em segurança, porque queremos atuar, sem perturbações, porque queremos agir dentro dos limites de nossos conhecimentos, para nos sentirmos sempre em segurança.
12 – Nunca desejamos estar na incerteza — temos horror à incerteza — e, por conseguinte, acumulamos conhecimentos. É a essa acumulação psicológica que quero referir-me, pois é ela que nos veda completamente a liberdade.
13 – Deste modo, no momento em que se começa a inquirir o que é liberdade, é necessário contestar não só a autoridade, mas também o conhecimento. Se estais meramente sendo instruídos, se estais meramente acumulando o que ouvis, o que ledes, o que experimentais, nunca sereis livres, porquanto estareis sempre funcionando dentro do padrão do conhecido. É isso, com efeito, o que em geral nos acontece. Sendo assim, que cumpre fazer?
14 – Sabe-se como a mente e o cérebro funcionam. O cérebro é uma coisa de natureza animal, suscetível de progredir e evolver, que vive e funciona entre as paredes de sua própria experiência, seu conhecimento, suas esperanças e temores. Está perenemente ativo com o intuito de salvaguardar-se e proteger-se; e, até certo ponto, tem de proceder assim, pois, do contrário, em breve seria destruído. Necessita de certo grau de segurança, daí prender-se ao hábito de acumular, para seu benefício, toda sorte de conhecimentos, de obedecer a toda espécie de instrução, criando um padrão ao qual adapta o seu viver, de maneira que nunca está livre. Quem quer que observe o seu próprio cérebro, o total funcionamento de si próprio, estará bem cônscio desse modo de existência “padronizada”, na qual nenhuma espontaneidade existe.
15 – Que é, pois, aprender? Existe alguma maneira diferente de aprender, um aprender não cumulativo, que não se torne um mero fundo de memória ou de conhecimento, criador de padrões e de obstáculos à liberdade? Existe alguma qualidade de aprender que não se torne uma carga, que não tolha a mente, mas, ao contrário, lhe dê liberdade? Se alguma vez vos fizestes esta pergunta, não superficialmente, porém profundamente, deveis saber que é necessário averiguar porque a mente se apega à autoridade. Quer se trate da autoridade do instrutor, do salvador, do livro, quer da autoridade de nosso próprio saber e experiência, por que razão se apega a mente à autoridade?
16 – A autoridade assume formas variadas. Há a autoridade dos livros, a autoridade da igreja, a autoridade do ideal, a autoridade de vossa própria experiência, e a autoridade do saber que acumulastes. Estais apegados a essas autoridades? Tecnicamente, há necessidade de autoridades; isto é simples e óbvio. Mas, estamos falando sobre o estado psicológico da pessoa; e, deixando de parte a autoridade técnica, por que razão se apega ela à autoridade, no sentido psicológico?
17 – Apega-se à autoridade, evidentemente, porque teme a incerteza, a insegurança; teme o desconhecido, o que poderá acontecer amanhã. E podemos nós viver sem autoridade de espécie alguma — autoridade no sentido de dominação, arrogância, dogmatismo, agressividade, desejo de sucesso e de fama, desejo de vir a ser alguém? Podemos viver neste mundo, frequentando o escritório e outros mais lugares, num estado de completa humildade? Isso é muito difícil de verificar, não achais? Mas, penso que só nesse estado de humildade completa — que é o estado da mente que está sempre pronta a reconhecer que não sabe — só nesse estado há possibilidade de aprender. De outro modo, estaremos sempre acumulando e, portanto, deixando de aprender.
18 – Pois bem; pode-se viver, dia por dia, nesse estado? Entendeis minha pergunta? Certo, a pessoa que está deveras aprendendo nenhuma autoridade reconhece, nenhuma autoridade busca. Achando-se num constante “estado de aprender”, não só das coisas exteriores, mas também das coisas interiores, não pertence a nenhum grupo, nenhuma sociedade, nenhuma raça ou cultura. Quando se está aprendendo constantemente de todas as coisas, sem nada acumular, como pode haver autoridade, instrutor? Como se pode seguir alguém? E *essa é a única maneira de viver — aprendendo, não dos livros, mas de vossas próprias ânsias, dos movimentos de vosso próprio pensamento, de vosso próprio ser. A mente está, então, sempre fresca, olha todas as coisas de maneira nova, e não com os olhos cansados do saber e da experiência. Compreendendo-se isso, verdadeiramente, profundamente, cessa toda a autoridade. Então, este que vos fala nenhuma importância tem.
19 – O extraordinário estado que a verdade revela — a imensidão da Realidade — não vos pode ser dado por outrem. Não há autoridade, não há guia. Tendes de descobri-lo por vós mesmos e dar, assim, algum sentido a esse caos que chamamos “a vida”.
20 – É uma jornada que deveis fazer completamente só , sem companheiros, sem mulher, sem marido, sem livros. Só podeis iniciar essa jornada depois de perceberdes claramente a verdade de que tendes de viajar completamente só — e percebê-la é estar só; não por azedume, pessimismo, desespero, mas por verdes o fato de que é absolutamente necessário caminhar só. É esse fato, e o percebimento dele, que nos põe livres para viajar sós. O livro, o salvador, o instrutor — vós mesmos sois todos eles. Deveis, pois, investigar-vos, aprender a vosso respeito, o que não significa acumular conhecimentos sobre vós, para, com esses conhecimentos, observardes os movimentos de vosso próprio pensar. Estais compreendendo?
21 – Para esse aprendizado, para conhecer-vos, deveis observar-vos num “estado de novo”, de liberdade. Nada podeis aprender sobre vós pela mera aplicação de conhecimentos, isto é, observando-vos com os conhecimentos adquiridos de algum instrutor, de algum livro, ou de vossa própria experiência. O “vós” é uma entidade extraordinária, uma coisa complexa, vital, intensamente viva, em constante mutação, a passar por experiências de todo gênero. É um vórtice de descomunal energia, e ninguém pode instruir-vos a respeito dele — ninguém! Esta é a primeira coisa que se deve compreender. Uma vez compreendida, percebida a sua verdade, já estais liberto de pesado fardo: deixastes de contar com outros, para vos dizerem o que deveis fazer. Já está então em começo a liberdade, com seu inefável perfume!
22 – Assim, tenho de conhecer-me, pois, sem o conhecimento de mim mesmo, nunca terá fim o conflito, nunca terá fim o medo e o desespero, nunca haverá a compreensão da morte. Quando me compreendo, compreendo todos os entes humanos, as relações humanas em sua totalidade. Compreender a mim mesmo é aprender a respeito do corpo físico e das várias reações nervosas; é estar consciente de cada movimento de pensamento; é compreender a coisa denominada “ciúme”, “brutalidade”; é descobrir o que é afeição, amor. É compreender, em seu todo, aquilo que constitui o “eu”, o “vós”:
23 – Aprender não é estabelecer uma base de conhecimentos. O aprender ocorre a cada instante; é um movimento no qual vos observais infinitamente, sem jamais condenar, sem nunca julgar, sem nunca avaliar, porém sempre e unicamente observando. Desde o momento que condenais, interpretais ou avaliais, tendes um padrão de conhecimento, de experiência, e esse padrão vos impede o aprender.
24 – Sem vos compreenderdes não é possível uma mudança na raiz mesma da mente; e essa mutação, essa mudança, é necessária. Não emprego a palavra “mudança” no sentido de se ser influenciado pela sociedade, pelo clima, pela experiência, ou por outra qualquer espécie de pressão. As pressões e influências apenas poderão impelir-vos numa certa direção. Refiro-me à mudança que se opera sem esforço algum, em virtude de compreenderdes a vós mesmo. Há, sem dúvida, enorme diferença entre as duas coisas; entre a mudança operada mediante compulsão, e a mudança que vem espontânea, natural, livremente.
25 – Pois bem; se estais seriamente interessados — e parece-me que seria um tanto absurdo se tivésseis feito tão longa viagem, para assistir a estas conferências, com este calor e sujeitando-vos a tantos desconfortos, sem estardes seriamente interessados então, estas três semanas que aqui passareis vos oferecerão uma excelente oportunidade de aprender , de empenhar-vos numa real observação, numa profunda investigação. Pois, senhores, estou bem cônscio de que vossa vida é muito superficial. Sabemos e temos experimentado muitas coisas, somos capazes de falar com muita sutileza, mas, na realidade, nenhuma profundidade temos. Vivemos à superfície; e, vivendo à superfície, esforçamo-nos por tornar muito sério esse viver superficial. Mas, eu me refiro a uma seriedade que se não restringe ao mero nível superficial, uma seriedade que penetra as últimas profundezas de nosso próprio ser. A maioria de nós não é verdadeiramente livre; e, para mim, a menos que sejamos livres — livres de nossas preocupações, de nossos hábitos, de nossas deficiências psicossomáticas, livres do medo — nossa vida continua sendo terrivelmente superficial e vazia, e nessa condição vamos envelhecendo e morrendo.
26 – Assim, no decorrer destas três semanas, tratemos de averiguar se poderemos quebrar as paredes desta existência superficial que tão zelosamente temos cultivado, para penetrarmos em algo muito mais profundo. E esse processo de penetração não depende de nenhuma autoridade, não depende de sermos instruídos por outro sobre como fazê-lo — porque ninguém vo-lo pode ensinar. O que aqui temos de fazer é aprender juntos o que há de verdade em tudo o que vamos examinar e, uma vez tenhais realmente compreendido o verdadeiro, estará terminada toda dependência da autoridade. Não necessitareis, então, de livro nenhum, não necessitareis de ir à igreja ou ao templo; já não sereis um seguidor. Há na liberdade grande beleza, grande profundeza, grande amor, que desconhecemos completamente porque ainda não somos livres. Assim, o que primeiramente nos deve interessar parece-me ser a investigação dessa liberdade, não só por meio da análise verbal, discursiva, mas também independentemente da palavra.
27 – Está fazendo muito calor, mas devo dizer que todo o possível se fez para tornar bem fresco o interior deste pavilhão. Não podemos realizar mais cedo as reuniões, porque há muitos que vêm de longe; assim sendo, teremos de sujeitar-nos ao calor como uma parte dos inevitáveis desconfortos.
28 – Como sabeis, há necessidade de nos disciplinarmos — não mediante rigoroso controle, porém, sim, pela integral compreensão da questão da disciplina, pelo aprender o que ela é. Consideremos, por exemplo, esta coisa imediata; o calor. Podemos sentir o calor que está fazendo, sem nos deixarmos importunar por ele, visto ser o nosso interesse, a nossa investigação — que constitui o próprio movimento do aprender — muito mais importantes do que o calor e o desconforto do corpo. O aprender, pois, requer disciplina; e o próprio ato de aprender é disciplina; por conseguinte, não há necessidade de impor-nos disciplina alguma, nenhum controle artificial. Isto é, eu quero escutar , não só o que se está dizendo, mas também todas as reações que as palavras provocam em si mesmo. Quero conscientizar-me de cada pensamento, de cada gesto. Isso, em si, é disciplina, e tal disciplina é extremamente flexível.
29 – Assim, penso eu, a primeira coisa que vos cumpre descobrir é se — como ente humano que está vivendo em determinada “cultura” ou comunidade — realmente necessitais de liberdade, tanto quanto necessitais de alimento, de satisfação sexual, de conforto; e até onde e até que profundidade estais disposto a ir, a fim de serdes livre. Acho que é só isto o que podemos fazer nesta primeira palestra — ou, melhor, a única coisa que podemos fazer durante estas três semanas, visto ser esta a única coisa que podemos ter em comum — só ela, e nada mais. Entendeis? Porque tudo o mais se torna mera sentimentalidade, devoção, emocionalismo — coisas muito infantis. Mas, se vós e eu estivermos, conjuntamente, buscando, investigando, aprendendo o que significa ser livre, então, nessa abundância todos poderemos comungar.
30 – Como disse no início, aqui não há instrutor e não há discípulo. Cada um de nós está aprendendo, mas não a respeito de outrem. Não estais aprendendo a respeito do orador, ou de vosso companheiro ao lado. Aprendeis sobre vossa pessoa. E se estais aprendendo acerca de vós mesmo, sois então o orador, sois o vosso companheiro ao lado, sois capaz de amar o vosso próximo; de outro modo, não podeis amá-lo, e tudo o que se está dizendo ficará sendo meras palavras. Não podeis amar o próximo se tendes o espírito de competição. Toda a nossa estrutura social — econômica, política, moral, religiosa — se alicerça na competição, e ao mesmo tempo dizemos que devemos amar o próximo. Isso é uma impossibilidade, visto que onde há competição não pode haver amor.
31 – Assim, para se compreender o que é o amor, o que é a verdade, necessita-se de liberdade — e esta ninguém vos pode dar. Tendes de encontrá-la por vós mesmo, com diligente trabalho.
12 de julho de 1964.
SIEMENS
Siemens, George (2008). Uma breve história da aprendizagem em rede.
UMA BREVE HISTÓRIA DA APRENDIZAGEM EM REDE
1 – As redes têm servido de base à aprendizagem humana bem antes da proliferação da tecnologia que se vê na sociedade atual. O desenvolvimento de competências na caça, coleta e agricultura exigiam conhecimentos a ser compartilhados com cada nova geração: na educação agrícola, por exemplo, a geração mais jovem foi construída sobre o trabalho das outras. Pequenos avanços em novas técnicas e ferramentas serviram para melhorar continuamente disciplinas como a agricultura, ferraria, soldadura e, mais recentemente, a filosofia e as ciências.
2 – Hoje, a aprendizagem em rede é mais evidente porque notamos a sua existência em estruturas explícitas de redes: telefonia móvel, internet, web. É provável que cada geração se defina como a guardiã de novos “insights” e avanços científicos, tendo em vista os enormes progressos obtidos pelas gerações anteriores. Ao discutir aprendizagem em rede, nos encontramos no pequeno pico de uma grande montanha. As estruturas de rede, agora proeminentes na tecnologia, eram anteriormente supridas por interações sociais, pergaminhos, manuscritos religiosos e estruturas de comunicação dos generais, reis e imperadores.
3 – A partir deste reconhecimento tênue sobre a natureza fundamental das redes de aprendizagem no desenvolvimento global da humanidade, segue uma discussão mais elaborada sobre a evolução das redes de aprendizagem ao longo das últimas décadas.
4 – Desenvolvimentos recentes sobre aprendizagem em rede ocoreram no contexto da teoria da aprendizagem social, e avançaram com a ajuda da tecnologia. A literatura sobre aprendizagem e redes progrediu na última década, como indicado por centros universitários, tais como o Helsinki’s Centre for Research no Networked Learning and Knowledge Building (Universidade de Helsinki), projetos de pesquisa na Open University of the Netherlands (2006) e Lancaster University (2004) e doutorados (de Laat, 2006), pesquisando a adequação das redes como um suporte estrutural para a educação. No entanto, o termo “rede” tornou-se um pouco complicado, dificultando a discussão sobre aprendizagem. Baumeister (2005) faz eco a esta realidade:
Dentro de um ambiente universitário há muito a ser conectado em rede: por exemplo, dentro de um único curso, numa faculdade, dentro de um grupo de pesquisa e entre os acadêmicos, instituições ou empresas externas. Levando tudo isso em conta, torna-se evidente que o termo está carregado de significados e é por isso que seu uso raramente está livre de ambiguidades. (Networking in Practice, seção 7)
5 – Esta preocupação é, em parte, consequência do uso amplo do termo por parte de educadores/pesquisadores, sem delimitar os conceitos subjacentes ou os vários significados que o termo adquiriu na sua utilização para descrever infraestrutura física, conexões sociais e teoria dos grafos em matemática. Enquanto as redes nestes domínios se utilizam das definições gerais de rede – como dois ou mais nós conectados -, a discussão das redes de aprendizagem é por vezes imprecisa, sem distinção entre o modo como o próprio termo tem se desenvolvido ao longo das últimas décadas.
6 – Uma das primeiras referências sobre modelos de rede para a educação pode ser encontrada na descrição de Illich (1970) sobre aprendizagem na web. Illich sugeriu teias de aprendizagem, assim “nós poderemos abastecer o aluno com novos links para o mundo, ao invés de continuar a canalizar todos os programas de ensino através do professor” (p. 73). A visão de Illich ultrapassou a tecnologia em várias décadas. Mais recentemente, visões em rede sobre educação têm crescido em importância com o desenvolvimento da internet.
7 – Em uma revisão da literatura, podem ser encontrados cinco estágios significativos na forma como as redes são vistas dentro do espaço educativo:
(a) desenvolvimento de uma infra-estrutura;
(b) absorção das áreas que já tenham uma base de investigação existente;
(c) visões teóricas e transformadoras sobre aprendizagem, conhecimento e cognição;
(d) praticabilidade e popularização dos serviços de rede social; e
(e) como um modelo para detalhamento do processo de ensino e aprendizagem.
8 – O desenvolvimento das diferentes fases da rede geralmente depende da formação das fases anteriores. Por exemplo, enquanto o desenvolvimento de infraestrutura é necessário antes que outros elementos possam ser considerados, a inclusão da pesquisa dos campos existentes – teóricos, práticos e áreas de aprendizagem -, se desenvolve de forma interrelacionada.
Fase Um: Desenvolvimento de Infraestrutura Física
9 – Como a internet vem adquirindo cada vez mais importância, os educadores começaram a se concentrar em maneiras de incorporar o campo emergente nos contextos educativos. Para participar, as salas de aula precisavam estar fisicamente conectadas. Por exemplo, em 1986, foi criada a National Science Foundation Network, a fim de conectar pesquisadores e acadêmicos (Harasim, Hiltz, Teles & Turoff, 1995, p. 6). Enquanto redes de computadores foram usadas para ensinar e aprender já em 1960 (p. 7), seu uso amplo para estudantes não foi possível até que os computadores fossem realmente importantes nas escolas (Hiltz, 2004, p. 27) e as escolas fossem fisicamente conectadas à internet. Os investimentos significativos em computadores, redes e tecnologia feitos por escolas, faculdades e universidades nos anos de 1980 a 2000 representam a visão de redes baseada em infraestrutura física. Assim, este foi o foco das definições iniciais de redes de aprendizagem: “Redes de aprendizagem são compostas de hardware, software e linhas de telecomunicações” (Harasim et al. Al., P. 16) e como “grupos de pessoas usam redes CMC [computer-mediated communication, ou comunicação mediada por computador], para aprender juntos em um tempo, lugar e ritmo que lhes convêm e é apropriado para a tarefa “(p. 4).
Fase Dois: Mesclando com Campos Existentes
10 – Conforme a estrutura física das redes se desenvolveu, conectando escolas, universidades e estudantes à internet e entre si, a consciência sobre redes de aprendizagem também foi ampliada. Educadores se voltaram para disciplinas como a sociologia, que tinha uma base de pesquisa estabelecida em redes. Em um paper de 1997 sobre as redes de aprendizagem assíncronas, Hiltz, já referido acima com relação ao desenvolvimento da infraestrutura, colaborou com o sociólogo Wellman para explorar as implicações sociais da comunicação mediadas por computador. Estas redes conectando pessoas e computadores “tornaram-se redes sociais, ou os tijolos básicos de construção de sociedades” (Hiltz & Wellman, 1997, p. 45). Com Turoff, Hiltz (1981) já havia construído a partir do trabalho de Wellman em sociologia, com a publicação, em 1978, da Network Nation [Nação Rede], que explorou o papel da comunicação mediada por computador como um agente transformador na sociedade. Outros sociólogos, como Castells (1996) e Watts (2003) contribuíram para popularizar as visões de rede de interação, comunicação e organização social através da publicação de textos que se tornaram populares: respectivamente, The Rise of the Network Society e Six Degrees. No campo da Física, Albert-László Barabási narra seu despertar para o poder das redes em sua publicação de 2002, Linked. Barabási emitiu a seguinte declaração: “As redes estão em toda parte. Tudo que você precisa é de um olho para elas “(p. 7), indicando a crescente conscientização sobre redes como uma estrutura subjacente em muitas disciplinas.
11 – Chegando perto do final do século 21, a linguagem e os conceitos sobre redes, vindos de sociólogos, matemáticos e físicos tinham penetrado bastante a sociedade. Conceitos de rede estiveram em uso comum para descrever o sucesso surpreendente de um livro esquecido da Amazon: a propagação de doenças sexuais através de redes, a disseminação da SARS [Severe Acute Respiratory Sindrome – Síndrome Respiratória Aguda Grave] em 2003 e o apagão em 1996 nos Estados Unidos e partes do Canadá (Barabási, 2002 , p. 119).
12 – Educadores começaram a adotar a terminologia de redes a partir de pesquisas nos campos da sociologia, matemática e física. Em particular, educadores adotaram um foco relacional e baseado em comunidades na aplicação de redes de computadores (de Laat, 2006, p. 75). Hiltz e Wellman (1997), por exemplo, aplicaram princípios de comunidade como um meio de expressar o valor de redes mediadas ou habilitadas pela tecnologia.
Fase Três: Visões Teóricas e Transformadoras sobre Aprendizagem, Cognição e Conhecimento
13 – A terceira fase de desenvolvimento sobre visões de rede pode ser encontrada no conceito de cognição e conhecimento distribuído através de redes de pessoas, com ajuda da tecnologia. Salomon (1993) sugeriu que o desenvolvimento da cognição distribuída — cognição que ocorre “em conjunto ou em parceria com outros” (p. xiii), é devido a três razões:
(a) o crescimento de computadores como ferramentas para auxiliar na atividade intelectual,
(b) o interesse crescente na teoria de Vygotsky sobre cognição como um produto de um determinado contexto ou ambiente social, e
(c ) insatisfação com os limites da cognição quando vistos apenas como “na cabeça” (p. xiv).
14 – Cultura e conhecimento são distribuídos como um resultado de “interações diárias entre pessoas”, resultando na “distribuição social da cognição” (Cole & Engeström, 1993, p. 15), mais uma vez reforçando a importância das interações sociais como um meio de aprendizagem.
15 – A tecnologia auxilia na distribuição de conhecimento à medida que nos permite “projetar-nos para fora digitalmente” (de Kerchove, 1997, p. 38), ou, de modo mais claro, “para tratar a Web como a extensão dos conteúdos da mente de uma pessoa” (p. 79). A capacidade de formar redes com ideias e outras pessoas aumenta quando as pessoas se projetam para fora. Através da Internet, estas redes de projeção externa podem ser formadas em nível global. Wellman (2001) classificou a capacidade de formar redes com outras pessoas através da tecnologia como “individualismo em rede” (p. 5), onde as pessoas usam suas próprias redes “para obter informações, colaboração, serviços, apoio, sociabilidade, e um sentido de pertencimento” (p. 5). Araujo (1998), de modo similar, sugeriu que ambos, aprendizagem e conhecimento, residem em “redes heterogêneas de relacionamentos entre o mundo social e material” (p. 317). Para que os indivíduos tenham acesso ao conhecimento de uma determinada sociedade ou cultura, as ligações devem ser formadas através do uso de artefatos de mediação, como a tecnologia, como preconizado pela teoria da atividade.
Fase Quatro: Popularização das Redes
16 – Grande parte da pesquisa sobre redes, até agora, tem sido confinada ao discurso entre os acadêmicos, como evidenciado pela longa história da teoria de redes na sociologia e matemática, geralmente com interesse público limitado. Até pouco tempo atrás, existia uma falta de consciência pública na forma como as redes funcionam e seu valor para os indivíduos e organizações. A popularização do software social elevou a importância das redes.
17 – Ainda que tecnologias em rede para socialização já estivessem em uso nos anos 60 (Scholz, 2007), sua adoção foi impedida até que diferentes ferramentas de comunicação fossem trazidas em conjuntos integrados mais amigáveis, como o desenvolvimento do Six Degrees, em 1997 (Boyd & Ellison, 2007). Entre 1997 e 2001, conforme narrado por Boyd e Ellison, muitas empresas lançaram novos recursos e serviços de redes sociais. As redes sociais, no entanto, não se tornaram correntes até o lançamento do MySpace em 2003, que liderou o fenômeno global (Boyd & Ellison) dos serviços de redes sociais, incluindo o lançamento do Orkut, Bebo, Cyworld e Facebook. As estatísticas variam sobre o nível de adoção de tais sites, mas algumas sugerem mais de 80% de penetração (Salaway & Borreson Caruso, 2007, p.12) entre os estudantes em contextos acadêmicos. Um benefício potencial secundário deve ser o desenvolvimento de habilidades de pensamento em rede por parte dos aprendizes, uma vez que eles descobrem maneiras de encontrar informações e pessoas, bem como resolver os problemas através da participação ativa em uma rede.
18 – A popularização das redes através dos serviços de redes sociais teve relação com os diferentes estágios das visões sobre rede, considerados previamente. Por exemplo, a International Network for Social Network Analysis (INSNA, fundada por Wellman em 1978) ampliou sua exploração de interações sociológicas para incluir as redes formadas através do Facebook, Orkut e outros sites de relacionamento (SOCNET, 2008). Connections, o jornal da INSNA, publicou diversos artigos sobre redes sociais virtuais (Petróczi, Nepusz, & Bazsó, 2007) e redes de blogs na América (Lin, Halavais, & Zhang, 2007), indicando a consciência crescente das redes sociais online por pesquisadores da área da sociologia. Estas também têm provado ser valiosas para pesquisadores, particularmente sociólogos, no entendimento de seu processo de formação, fornecendo “ricas fontes de dados comportamentais realistas” (Boyd & Ellison, 2007).
Fase Cinco: Aprendizado Integrado, Conhecimento e Redes de Educação
19 – Por volta de 2005, a definição de redes de aprendizagem (neste exemplo, assíncronas) defendida por especialistas refletiu uma maior ênfase nas pessoas: “ALN’s [asynchronous learning networks] são pessoas conectadas para aprendizagem a qualquer hora em qualquer lugar” (Hiltz & Goldman, 2005, p. 5 ). Veen e Vrakking (2006) também adotaram uma visão das redes como existentes em ambas as dimensões técnicas e humanas, com a tecnologia servindo a uma dupla função: armazenar e conectar informações e possibilitar o desenvolvimento e manutenção de redes sociais (p. 42). As quatro fases discutidas anteriormente formam a base para as redes que serão utilizadas para o ensino e a aprendizagem na quinta etapa. Agora, os educadores estão começando a explorar a forma como modelos de rede podem ajudar não só a aprendizagem colaborativa em ambientes online e combinados, mas em redes de aprendizado móvel e universal (pervasive móbile learning) (Rennie & Mason, 2004, p. 109), determinação de estruturas de rede social a partir da análise de fóruns de discussão (Gruzd & Haythornthwaite, 2008) e conversas de comunidades online (Haythornthwaite & Gruzd, 2007). Educadores que procuram compreender como os alunos interagem uns com os outros por meio de fóruns online, e-mails ou redes de blogs, podem invocar os princípios de análise de rede desenvolvidos por sociólogos. Da mesma forma, educadores podem usar análise de dados ou ferramentas de visualização para avaliar a qualidade das interações dos aprendizes uns com os outros e com os conceitos-chave de um determinado curso.
Conclusão
20 – Conceitos de redes (sumarizados na Tabela 1) estão mais proeminentes na sociedade devido à ascensão dos sites de relacionamento como o Facebook. Essa popularização, infelizmente, fez com que o termo rede adquirisse um grau de imprecisão com múltiplos significados em potencial. Enquanto inicialmente associadas com a rede física das escolas ou a fiação das redes organizacionais das universidades que trabalham conjuntamente, tais como o Ohio Learning Network (2007), os debates recentes sobre redes se voltaram para o software social e redes de conhecimento e aprendizagem. Os múltiplos significados potenciais do termo rede, expressos pelos cinco estágios de desenvolvimento de redes, precisam ser reconhecidos e refletidos por educadores para comunicar mais precisamente conceitos de conectividade e aprendizagem em rede.
21 – Conectividade, como uma teoria de aprendizagem, revela-se contra o pano de fundo da infraestrutura de rede física para o desenvolvimento da teoria da aprendizagem social, concepções de cognição e de conhecimento distribuídos. Como apresentado na introdução, redes de aprendizagem têm sempre acompanhado o desenvolvimento do conhecimento humano. Mesmo quando não explicitamente reconhecido, elas serviram como uma estrutura subjacente ao desenvolvimento de campos das ciências, literatura e tecnologia. Os avanços das últimas décadas tornaram explícitas as redes de aprendizagem. As redes são refletidas não só como tecnologias comunicacionais de informação física, mas como o próprio meio pelo qual o conhecimento é distribuído para atender a desafios complexos. A conectividade reflete esses desenvolvimentos, sugerindo a necessidade de trabalhar sobre novas visões de aprendizagem, mais reflexivas sobre a realidade cotidiana dos alunos.
Tabela 1. Cinco Estágios de Desenvolvimento de Redes
| Estágio | Contribuição |
| Um: Infraestrutura | Desenvolvimento de estrutura física e conexão das salas de aula à recursos para conectá-las entre si e à Internet |
| Dois: Fusão com campos existentes
| Adoção de princípios de comunidade a partir da sociologia e uso de elementos de rede a partir da matemática e física para descrever forma e estrutura de redes. |
| Três: Mudando visões de cognição
| Teorias de cognição situadas e distribuídas com base nas teorias histórico-culturais de Vygotsky (1986), inadequações de teorias de cognição estabelecidas (as quais excluem o reconhecimento de artefatos e cognição de maneira distribuída) e crescente ênfase de redes de computadores. |
| Quatro: Popularização | Consciência crescente dos conceitos de redes por meio da publicação de livros populares: Linked (Barabási, 2002), Six Degrees (Watts, 2003), Rise of Network Society (Castells, 1996), sites de redes sociais (SNS) e o desenvolvimento de habilidades individuais de rede por meio do uso de SNS. |
| Cinco: Processos de aprendizagem, conhecimento e educação
| Integração de domínios de um a quatro na prática da educação, onde a aprendizagem e o conhecimento são distribuídos dentro do limite das redes, assistidos pelo uso de tecnologia, analisados com os princípios de estrutura de rede a partir de áreas afins, e dirigidos por meio do crescimento da consciência de rede e habilidades por parte dos aprendizes. Conectividade e aprendizagem em rede residem neste nível. |
Trabalhos Citados
Araujo, L. (1998). Knowing and learning as networking. Management Learning, 29(3), 317–336.
Barabási, A. L. (2002). Linked: The new science of networks. Cambridge, MA: Perseus Publishing.
Baumeister, H-P. (2005). Networked learning in the knowledge economy: A systemic challenge for universities. European Journal of Open, Distance and E- learning. Retrieved September 26, 2008, from
http://www.eurodl.org/materials/contrib/2005/Baumeister.htm
Boyd, D., & Ellison, N. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1). Retrieved September 26, 2008, from http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
Castells, M. (1996). The rise of the network society. Malden, MA: Blackwell.
Cole, M., & Engeström Y. (1993). A cultural-historical approach to distributed cognition. In G. Salomon (Ed.), Distributed cognitions: Psychological and educational considerations (pp. 1–46). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
de Kerchove, D. (1997). Connected intelligence: The arrival of the web society. Toronto, ON, Canada: Somerville House.
de Laat, M. (2006). Networked learning. Retrieved September 26, 2008, from http://www.e-learning.nl/files/dissertatie%20maarten.pdf
Gruzd, A., & Haythornthwaite, C. (2008). Automated discovery and analysis of social networks from threaded discussions. Paper presented at the International Network of Social Network Analysis. St. Pete Beach, FL, USA
Harasim, L., Hiltz, S. R., Teles, L., & Turoff, M. (1995). Learning networks: A field guide to teaching and learning online. Cambridge, MA: MIT Press.
Haythornthwaite, C., & Gruzd, A. (2007, June). A noun phrase analysis tool for mining online community. Proceedings of the 3rd International Communities and Technologies Conference.
Hiltz, S. R. (2004). The virtual classroom: Learning without limits via computer networks. Norwood: NJ: Ablex.
Hiltz, S. R., & Goldman, R. (Eds.). (2005). Learning together: Research on asynchronous learning networks. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Hiltz, S. R., & Turoff, M. (1981). Network nation: Human communication via computer. Toronto, ON, Canada: Addison-Wesley.
Hiltz, S. R., & Wellman, B. (1997). Asynchronous learning networks as a virtual classroom. Communications of the ACM, 40(9), 44–49.
Illich, I. (1970). Deschooling society. London: Marion Boyars.
Lancaster University. (2004). The networked learning in higher education project is concluded. Retrieved September 26, 2008, from Department of Educational Research Web site: http://csalt.lancs.ac.uk/jisc/index.htm
Lin, J., Halavais, A., & Zhang, B. (2007). The blog network in America: Blogs as indicators of relationships among US Cities. Connections, 27(2), 15–23.
Ohio Learning Network. (2007). About OLN. Retrieved September 26, 2008, from http://www.oln.org/
Open University of the Netherlands. (2006). Learning networks homepage. Retrieved September 26, 2008, from Research and Development Web site: http://www.learningnetworks.org/
Petróczi, A., Nepusz, T., & Bazsó, F. (2007). Measuring tie strength in virtual social networks. Connections, 27(2), 39–52.
Rennie, F., & Mason, R. (2004). The connection: Learning for the connected generation. Greenwich, CT: Information Age.
Salaway, G., & Borreson Caruso, J. (with Nelson, M. R.). (2007). The ECAR study of undergraduate students and information technology. Retrieved September 26, 2008, from EDUCAUSE Center for Applied Research [ECAR] Web site:
http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ers0706/rs/ERS0706w.pdf
Salomon, G. (Ed.). (1993). Distributed cognitions: Psychological and educational considerations. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Scholz, T. (2007). A history of the social web (draft). Retrieved September 26, 2008, from
http://www.collectivate.net/journalisms/2007/9/26/a-history-of- the-social-web.html
SOCNET. (2008). Listserv, January 2008 Archives. Available from http://www.lists.ufl.edu/cgi-bin/wa?A1=ind0801&L=socnet
University of Helsinki. (n.d.). Home page. Retrieved September 26, 2008, from Centre for Research on Networked Learning and Knowledge Building Web site:
http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/eng/
Veen, W., & Vrakking, B. (2006). Homo zappiens: Growing up in a digital age. Network continuum. London: UK
Vygotsky, L. (1986). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press.
Watts, D. J. (2003). Six degrees: The science of a connected age. New York: W.W. Norton.
Wellman, B. (2001). Little boxes, globalization, and networked individualization. Retrieved September 26, 2008, from http://www.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/littleboxes/littlebox.PDF
QUESTÕES PROVOCATIVAS PARA REFLEXÃO
01 – O chamado conectivismo, exposto no texto de George Siemens (2008) é uma nova teoria da aprendizagem compatível com a sociedade-em-rede que está emergindo?
a) Sim, o conectivismo tenta dar uma nova resposta para responder à pergunta fundamental – como uma pessoa aprende? – a partir da realidade emergente de uma sociedade em rede, sobretudo a partir da disponibilidade de novas mídias sociais.
b) Não completamente, pois Siemens confunde um pouco a rede (as pessoas interagindo, o padrão social de interação mais distribuído do que centralizado) com as ferramentas tecnológicas (a “tecnosfera”) que ampliam e aceleram a conectividade e a interatividade.
c) Não, o conectivismo não chega nem a ser uma teoria. É uma visão mais impactada pelo surgimento da Internet do que informada pela nova fenomenologia da interação social que vem sendo descoberta no presente século pela nova ciência das redes.
d) Não, o conectivismo é mais um cognitivismo, tomando as redes como “redes de conhecimento” (como se pudesse existir uma rede social que não fosse rede de conhecimento ou como se o conteúdo que “trafega” pelas conexões fosse de algum modo relevante para descrever o comportamento da rede, quer dizer, do emaranhado de conexões).
02 – O conectivismo, tal como apresentado no texto de George Siemens (2008) – Uma breve história da aprendizagem em rede – tem, na sua opinião, algum futuro?
a) Deverá ter algum futuro na medida em que o papel da Internet se torne cada vez mais relevante para os processos educativos.
b) Sim, mas não em si (como teoria autônoma da aprendizagem capaz de ocupar o lugar das outras teorias existentes). Pois quando as pistas abertas por Siemens e Downes se encontrarem com as ideias seminais de acoplamento estrutural (Maturana e Varela) e com as descobertas mais recentes da fenomenologia da interação, é possível que consigamos chegar a uma visão realmente interativista da aprendizagem mais adequada ao tempo em que vivemos e aos tempos que virão.
c) Mesmo que se dê o encontro mencionado na alternativa “b” (acima), o seu resultado ainda estará longe de uma teoria da aprendizagem humana (quer dizer, social, não digital).
MATURANA
Maturana, Humberto (1982). Reflexões: Aprendizagem ou deriva ontogênica. Santiago: Universidade do Chile, 1982.
REFLEXÕES: APRENDIZAGEM OU DERIVA ONTOGÊNICA
1 – Neste artigo em honra do meu amigo e muitas vezes mestre Joaquin Luco, quero apresentar, de forma sucinta e esquemática, a minha visão do fenômeno da aprendizagem. Naturalmente, o que vou dizer aqui não surge do nada, mas tem seu fundamento em minha história como biólogo no Chile, onde tive a oportunidade de aprender com Luco o que jamais poderia ter aprendido em qualquer outra parte do mundo. Portanto, este trabalho é também minha expressão de gratidão a ele.
O problema
2 – Digo que há aprendizagem quando a conduta de um organismo varia durante sua ontogenia (história) de maneira congruente com as variações do meio e o faz seguindo um curso contingente a suas interações nele.
3 – Que o sistema nervoso participa no fenômeno de aprendizagem, é evidente na interferência que se produz neste fenômeno quando ele se encontra danificado ou alterado. Embora o fenômeno designado pelo termo aprendizagem possa ser descrito de muitas maneiras diferentes, como quando se fala da “geração de uma conduta adequada ao meio a partir de uma experiência prévia”, ou ainda da “aquisição de uma nova habilidade como resultado da prática”, de acordo com o que o observador queira enfatizar, parece-me que a caracterização que proponho acima é necessária e suficiente para abranger todos os casos possíveis.
4 – Há duas perspectivas básicas para lidar com o fenômeno da aprendizagem, se quisermos explicá-lo:
5 – I. Segundo uma perspectiva, o observador vê que o meio está lá, do lado de fora, como o mundo em que o organismo tem que existir e atuar, e que lhe proporciona a informação, os dados, os significados de que necessita para fazer uma representação do mesmo, e assim calcular o comportamento adequado que lhe permitirá sobreviver nele. De acordo com esta visão a aprendizagem é o processo pelo qual o organismo obtém informação do meio e constrói dele uma representação que armazena em sua memória e utiliza para gerar seu comportamento em resposta às perturbações que dele provêm. A partir deste ponto de vista, a recordação consiste em encontrar na memória a representação requerida para calcular as respostas adequadas às interações recorrentes do meio.
6 – Nesta perspectiva o meio é instrutivo, pois especifica no organismo mudanças de estado que, por serem congruentes com ele, constituirão uma representação.
7 – II. Segundo a outra perspectiva, o observador vê que o comportamento de um organismo (incluindo seu sistema nervoso) está determinado a cada instante por sua estrutura, e que só pode ser adequado ao meio se esta estrutura é congruente com a estrutura do meio e sua dinâmica de mudanças. De acordo com esta visão a aprendizagem é o próprio curso da mudança estrutural que segue o organismo (incluindo seu sistema nervoso) em congruência com as mudanças estruturais do meio, como resultado da recíproca seleção estrutural que se produz entre aquele e este durante a recorrência de suas interações, com conservação de suas respectivas identidades. Segundo esta visão o organismo não constrói uma representação do meio e nem calcula um comportamento adequado a ele. Desta perspectiva, para o organismo, em seu operar, não há meio, não há recordação nem memória, mas somente uma dança estrutural no presente que segue um curso congruente com a dança estrutural do meio, ou se desintegra.
8 – Nesta perspectiva o comportamento do organismo permanece adequado apenas se este conserva sua adaptação durante suas interações, e o que um observador vê como recordação consiste precisamente nisso, na aparição de comportamentos que ele vê como adequados porque o organismo conserva sua adaptação frente a perturbações do meio que ele vê como recorrentes. Segundo esta visão não há interações instrutivas. O meio apenas seleciona as mudanças estruturais do organismo, e não as especifica.
Explicação
9 – Como cientistas, a nossa tarefa é mostrar como surgem os fenômenos, isto é, a nossa tarefa é explicativa, e não preditiva do que pode acontecer. Por isso, diante de um fenômeno a explicar, só aceitamos como hipótese explicativa sua reformulação na proposição de um mecanismo que gere o fenômeno a explicar como resultado de seu modo de operar. Mais ainda, aceitamos como explicação científica somente aquele mecanismo que, além do fenômeno a explicar, gera outros fenômenos observáveis não considerados para sua formulação, mas dedutíveis dele.
10 – Em outras palavras, as explicações científicas são proposições de sistemas determinados estruturalmente que geram outros fenômenos observáveis além do fenômeno a explicar.
11 – Isto tem duas implicações fundamentais:
12 – I. A ciência só pode considerar sistemas determinados estruturalmente (sistemas fechados, limitados em sua estrutura), ou seja, sistemas nos quais tudo o que ocorre está determinado em sua estrutura. Quero esclarecer o seguinte:
13 – Com todo sistema determinado estruturalmente ocorre que sua estrutura especifica, nele e para ele:
a) um domínio de mudanças estruturais (mudanças de relações entre os componentes ou mudanças de propriedades de componentes) que não destroem a sua organização (relações entre componentes que definem a sua identidade de classe) e que chamo de mudanças de estado;
b) um domínio de mudanças estruturais com perda de organização (desintegração) que chamo de mudanças destrutivas;
c) um domínio de interações possíveis que desencadeiam no sistema mudanças de estado a que denomino domínio de perturbações;
d) um domínio de interações que desencadeiam mudanças destrutivas e que denomino domínio de interações destrutivas.
14 – Um sistema determinado estruturalmente, por conseguinte, não admite interações instrutivas, isto é, não admite interações nas quais um agente externo especifique nele uma mudança estrutural, porque todas as suas mudanças estruturais possíveis estão especificadas em sua estrutura. Portanto a ciência não trata e nem pode tratar, por sua própria constituição, de sistemas instrutivos.
15 – II. É possível propor explicações científicas em qualquer domínio fenomênico. As únicas restrições possíveis são aquelas oriundas de circunstâncias que interferem com: a distinção ou explicação do fenômeno a explicar, com a formulação do mecanismo gerador ou com a observação dos outros fenômenos dedutíveis da proposição explicativa. Se algumas destas condições não forem satisfeitas, não há explicação científica.
16 – De acordo com isto, explicar o fenômeno da aprendizagem consistirá, em princípio, em mostrar como (a partir do operar do organismo e seu sistema nervoso como sistemas determinados estruturalmente) surge o que o observador vê como aprendizagem; em distinguir a mudança de comportamento do organismo congruente com as mudanças no meio e contingente à sua interação nele.
17 – Particularmente, mostrarei que a aprendizagem é consequência necessária da história individual de todo ser vivo com plasticidade estrutural ontogênica.
Escolha de perspectiva
18 – Na medida em que o organismo (incluindo o sistema nervoso) é um sistema determinado estruturalmente, a perspectiva informacionista, que requer interações instrutivas porque exige que o meio especifique no organismo (e seu sistema nervoso) as mudanças que lhe permitem criar uma representação dele, deve ser abandonada.
19 – Em outras palavras, considero que a perspectiva informacionista é constitutivamente inadequada se o que se quer é tratar dos seres vivos como sistemas determinados estruturalmente.
20 – A outra perspectiva, no entanto, não requer interações instrutivas e é compatível com um tratamento do organismo e do sistema nervoso como sistemas determinados estruturalmente. Esta, portanto, será a perspectiva que vou adotar.
ANTECEDENTES
Comportamento
21 – Um organismo ou um ser vivo é um sistema dinâmico. Isto é, um organismo, ou um ser vivo, é um sistema que, apesar de manter sua organização, está em contínua mudança de estado.
22 – Um observador que olha o organismo ou o ser vivo como unidade, interagindo em um meio, não vê suas mudanças de estado. Somente consegue ver suas mudanças de posição ou de forma como reação às perturbações do meio ou como resultado de sua própria dinâmica interna. Estas mudanças de forma ou de posição de um organismo ou ser vivo em relação ao meio são o seu comportamento. O comportamento não pertence ao organismo ou ser vivo como uma característica de todas ou de algumas de suas mudanças de estado. O comportamento é uma relação entre um organismo ou ser vivo e o meio no qual um observador o distingue e contempla.
23 – O sistema nervoso, como componente de um organismo ou ser vivo, por conseguinte, não produz comportamento, mas apenas participa das dinâmicas de mudanças de estado do sistema que integra. Para um observador, no entanto, o sistema nervoso participa da geração de um comportamento na medida em que participa das mudanças de estado do organismo ou ser vivo cujas mudanças de forma e posição em relação a um meio ele contempla e descreve.
24 – A distinção entre comportamentos aprendidos e comportamentos instintivos (ou inatos), portanto, não está no comportamento, mas na história da origem das estruturas que geram a dinâmica de estados do organismo que o observador vê como comportamento.
25 – Assim, as estruturas que surgem na ontogenia de um organismo qualquer, contingentes à sua história de interações, dão origem a comportamentos aprendidos, enquanto aquelas que surgem independentemente desta história dão origem a comportamentos instintivos ou inatos.
26 – Finalmente, deve notar-se que toda mudança estrutural em um organismo (incluindo seu sistema nervoso), ao resultar em uma mudança em sua dinâmica de estados, pode aparecer no meio como uma mudança de comportamento, e também, por outro lado, que toda mudança de comportamento que aparece nas interações de um organismo no meio, revela uma mudança estrutural nele.
27 – Nestas circunstâncias o observador verá um novo comportamento como instintivo ou aprendido de acordo com a origem histórica da nova dinâmica estrutural que o gerou.
Acoplamento estrutural
28 – A conservação da organização de um sistema determinado estruturalmente no meio em que existe é uma condição sine qua non de existência. Quer dizer, um sistema dinâmico determinado estruturalmente existe apenas enquanto sua dinâmica estrutural se dê com conservação de sua organização. Ao mesmo tempo, a conservação da organização de um sistema dinâmico determinado estruturalmente no meio em que existe exige que todas as suas interações sejam perturbações, pois do contrário se desintegra com a primeira interação destrutiva.
29 – Isto é, a conservação da organização de um sistema dinâmico em um meio de interação exige a correspondência estrutural entre o sistema e seu meio. Quando isto não ocorre a correspondência estrutural se perde e o sistema se desintegra. Esta correspondência estrutural entre sistema e meio, que perdura enquanto o sistema conserva sua organização, e que eu chamo, de maneira geral, de acoplamento estrutural, corresponde, nos organismos e seres vivos, à condição de adaptação ao meio.
30 – Em resumo, todo sistema perdura como tal enquanto conserva sua organização e seu acoplamento estrutural ao meio em que existe. Por esse motivo, a sobrevivência em um meio e a conservação da organização nesse meio é operacionalmente seletiva do caminho que segue a dinâmica estrutural de um ser vivo. Por isso também todo ser vivo se encontra onde se encontra, em cada instante, como resultado de uma história ininterrupta de interações num ambiente, estático ou mutante, no qual conservou sem interrupção sua organização e sua adaptação (acoplamento estrutural).
31 – A adaptação de um ser vivo a um meio não é consequência de seu existir neste meio, mas, pelo contrário, é a condição necessária que torna possível tal existência. Por isso, a morte é, simultaneamente, perda da organização e da adaptação.
32 – A conservação da organização, no entanto, é a condição primária porque define a unidade cuja adaptação se conserva, enquanto a conservação da adaptação é relacional, pois define o contexto em que esta se dá.
33 – Vejamos como ocorre a conservação da organização e a adaptação no ser vivo e no sistema nervoso.
34 – I. A organização que define o ser vivo é a organização autopoiética (ver Maturana y Varela, 1973). Isso quer dizer que qualquer mudança estrutural do ser vivo que interfira em sua autopoiesis, seja esta de uma origem que um observador vê como interna ou o resultado do que o observador vê como uma interação no meio, o desintegra.
35 – A consequência geral de manter sua organização autopoiética, será que o ser vivo se moverá no seu devir como ser vivo, numa contínua mudança estrutural especificada em cada instante por sua estrutura, mas que segue um curso continuamente determinado pela conservação de sua organização no âmbito de suas interações no meio.
36 – Se o observador acredita que pode descrever o meio, dirá que este seleciona no ser vivo sua mudança estrutural ontogénica; se reconhece que não pode descrevê-lo, dirá que a ontogenia do ser vivo transcorre em uma deriva estrutural com conservação da adaptação e da organização.
37 – II. Todo o anterior é válido para o sistema nervoso enquanto sistema, com a diferença de que a organização que se conserva não é autopoiética e o meio do sistema nervoso não é o mesmo de um ser vivo. Vejamos: o sistema nervoso é composto por um conjunto de células que, como sistemas dinâmicos determinados estruturalmente, estão em contínua mudança estrutural, de forma que em cada uma delas algumas de suas mudanças de estado resultam em perturbações para outras do mesmo conjunto.
38 – A estas mudanças de estado das células componentes do sistema nervoso que desencadeiam mudanças de estado em outras células do sistema nervoso, eu chamo de mudanças de atividade do sistema nervoso. Mais ainda, eu incluo que no sistema nervoso os neurônios aferentes e eferentes (fibras musculares, por exemplo), quer dizer, todos os componentes celulares que mediante suas transformações de atividade geram mudanças de atividade nos componentes do sistema nervoso e são, por sua vez, incluídos nele porque outros componentes do sistema nervoso geram mudanças de atividade neles. Em suma, para mim, o sistema nervoso é uma rede fechada de elementos celulares na qual toda mudança nas relações de atividade de alguns de seus componentes, sempre gera uma mudança na atividade de outros componentes da rede, entre os quais podem incluir-se eles mesmos.
39 – A organização do sistema nervoso é, portanto, a de uma rede fechada de componentes que interagem entre si, desencadeando, uns nos outros, mudanças de atividade que resultam em novas interações entre eles. Esta organização é a que se mantém invariante, enquanto o sistema nervoso se mantém como sistema nervoso, em sua mudança estrutural com conservação da organização e do acoplamento estrutural que constitui seu devir como componente de um organismo.
40 – III. Neurônios aferentes e eferentes não constituem uma exceção no fechamento do sistema nervoso como rede, não apenas porque, como sabemos, estão geralmente conectados de maneira aferente e eferente com o restante da rede, mas porque os eferentes estão conectados com os aferentes através do meio. De fato, para o sistema nervoso visto desta maneira, o meio não existe. Ou seja, o meio, que o observador vê como externo ao sistema nervoso, não existe para este, que atua como uma rede fechada de elementos que interagem entre si, porque o meio é apenas um caminho de fechamento, como um espaço sináptico.
41 – Não temos dificuldade em fazer abstração das características do espaço sináptico e reconhecer que elas não entram como tais na transmissão sináptica. O mesmo acontece com o meio que vemos interpor-se como espaço sináptico entre um eferente e um receptor.
42 – O peculiar é que nós, como observadores, estamos parados no meio, como quem está parado num espaço sináptico do sistema nervoso dentro do organismo e o abrimos na descrição.
43 – Isso nos leva a dizer que é um erro pensar que o mundo de objetos que nós descrevemos como seres com linguagem (ver Maturana, 1978) participa na geração da dinâmica de estados do sistema nervoso. Isto é um erro. Para a dinâmica de estados do sistema nervoso, o meio descrito pelo observador é irrelevante. O que é significativo para essa dinâmica de estados é apenas o fechamento na conexão aferente/eferente, e não como ela ocorre.
44 – IV. Nestas circunstâncias, assim como o operar do ser vivo como unidade autopoiética consiste numa dança interna de produções moleculares fechada em uma contínua autopoiesis, o operar do sistema nervoso consiste em uma dança interna de contínua geração de mudanças de relações de atividade entre seus componentes, fechada sobre si mesma porque o sistema nervoso é, como unidade, uma rede de componentes que só interagem entre si. Por isso, assim como distintos sistemas autopoiéticos se diferenciam na maneira particular pela qual sua estrutura realiza sua autopoiesis, diferentes sistemas nervosos se diferenciam na forma pela qual sua estrutura determina em cada um deles, o curso particular das mudanças de relações de atividade entre seus componentes que constituem seu operar como rede fechada de interações. O sistema nervoso não gera comportamentos, mas seu operar como rede fechada componente de um organismo em um meio (ao qual estão acoplados estruturalmente) resulta no que um observador vê como os comportamentos do organismo em seu meio.
45 – V. O meio de qualquer sistema é tudo aquilo que não é determinado como parte dele por sua organização e que pode interagir com ele como unidade. Mais ainda, todo sistema interage em seu meio através do operar de seus componentes, mediante propriedades distintas daquelas envolvidas em sua participação no sistema que integram. Por isso, todo sistema determinado estruturalmente interage por dimensões ortogonais àquelas que o definem. Assim, para o sistema nervoso que integra um organismo, o resto do organismo, o meio ambiente do organismo e, muitas vezes, produtos do operar dos seus componentes que interagem de maneira ortogonal à sua dinâmica de estados, constituem seu meio. O mesmo é válido para o organismo, considerando que o sistema nervoso é parte de seu meio.
46 – VI. Devido à sua condição de sistema fechado em sua dinâmica de estados, o sistema nervoso não tem entradas nem saídas, e uma descrição sua nesses termos não reflete nem sua organização nem seu operar.
47 – O que um observador chama de estímulo e vê como uma entrada, no próprio operar do sistema nervoso é, de fato, uma circunstância de interação do meio com os componentes do sistema nervoso, ortogonal ao seu operar como rede fechada de relações de atividade entre componentes que, ao desencadear uma mudança em sua estrutura desencadeia também uma mudança em seu domínio de estados.
48 – Assim, o fóton que absorve o fotorreceptor desencadeia nele uma mudança estrutural (isomerização do fotopigmento) que modifica suas propriedades e seu modo de participação na dinâmica de estados no sistema nervoso que integra.
49 – A mudança que se produz no fotorreceptor não é especificada pelo fóton, mas pela sua própria estrutura. Por isso, dizer que o fóton leva informação é equivocado operacionalmente, ou enganador para a compreensão do operar do sistema nervoso como sistema.
50 – VII. O sistema nervoso não interage nem pode interagir no nível de sua dinâmica de estados. Somente pode fazê-lo em um domínio ortogonal a esta dinâmica, no nível da estrutura de seus componentes. Por isso, todos os componentes do sistema nervoso podem aparecer diante de um observador operando como superfícies sensoriais, já que são pontos de interação ortogonal à sua dinâmica de estados que desencadeiam as mudanças em seu domínio de estados.
51 – VIII. O que um observador vê como estímulo é o que ele considera que interage com o sistema nervoso ou com o organismo. De fato, sem dúvida, o observador é que determina a interação, já que em cada caso é a estrutura de cada sistema que especifica seu domínio de interações.
52 – IX. A conservação da organização do sistema nervoso (sua condição de rede fechada) como componente de um organismo envolve a conservação de sua organização como unidade em seu meio na medida em que o organismo é parte do meio de existência do sistema nervoso e de seus componentes. Por isso, o domínio de mudanças de estado do sistema nervoso está também determinado pela conservação da organização e pelo acoplamento estrutural ao meio (adaptação) do organismo que integra.
Correlações sensório-motoras
53 – Na medida em que o observador está no espaço de fechamento do sistema nervoso como componente do organismo, no nível da conexão aferente- eferente, está também em seu domínio de existência e onde ele exprime seu comportamento. Nesta perspectiva, o observador pode descrever a dinâmica de estados do sistema nervoso como uma dinâmica de correlações sensório-motoras, na qual cada mudança de estado do sistema nervoso (mudança de correlação sensório-motora), que ele vê como uma mudança de postura ou como movimento do organismo (isto é, como um comportamento), na verdade, é uma mudança na conexão aferente-eferente que se realiza o fechamento do sistema nervoso através do meio no qual ele observa o organismo mover-se. De maneira geral, portanto, cada vez que um observador especifica uma superfície de interações com um organismo, define para este um domínio comportamental como um domínio de mudanças observáveis de posição do organismo em um meio, que ele vê no sistema nervoso como um domínio de correlações sensório-motoras. Todo comportamento em um organismo envolvendo seu sistema nervoso surge nele como expressão de sua dinâmica de correlações sensório-motoras.
Dinâmica Estrutural
54 – Sistema nervoso e organismo, que são sistemas dinâmicos, estão em contínua mudança estrutural. Tais mudanças estruturais podem ser mudanças nas relações entre os componentes ou nas características dos componentes. No sistema nervoso, as primeiras aparecem como mudanças nas relações de atividade entre seus componentes, resultantes de mudanças nas propriedades destes, que têm caráter reversível por sua constante de recuperação curta em relação à dinâmica total do organismo. As mudanças de membranas associadas à condução de um impulso nervoso ou à transmissão sináptica, que modifica reversivelmente a estrutura dos componentes do sistema nervoso e, portanto, suas propriedades, são deste tipo. Estas mudanças eu chamo de mudanças de primeira ordem. O segundo tipo de mudanças acontece no sistema nervoso como mudanças irreversíveis ou de constante temporal de recuperação muito longa em relação à dinâmica total do organismo. Os efeitos tróficos e hormonais que constituem mudanças estruturais irreversíveis, ou de constante de reversão muito longa nos componentes do sistema nervoso e que, portanto, modificam suas propriedades de uma maneira que admite uma história de mudança cumulativa irreversível, são modificações deste outro tipo, que chamo de mudanças estruturais de segunda ordem.
VISLUMBRE DE RESPOSTA
Deriva ontogênica
55 – Durante a ontogenia de um organismo e de seu sistema nervoso produzem-se continuamente mudanças estruturais de primeira e de segunda ordem, desencadeadas por suas respectivas interações em seus respectivos meios. Isso tem várias consequências fundamentais. Vejamos:
56 – I. Na medida em que tanto o organismo como o sistema nervoso formam parte cada um do meio do outro, suas respectivas derivas ontogênicas devem se dar em um recíproco acoplamento, enquanto conservam suas respectivas organizações. Isso significa que o organismo forma uma unidade que inclui o sistema nervoso de uma tal maneira, que as interações dos componentes do sistema nervoso com o resto do organismo são ortogonais à sua participação na dinâmica de estados do sistema nervoso. Ao mesmo tempo significa que a deriva ontogênica da dinâmica de estados no sistema nervoso deve ser congruente com a conservação da adaptação (acoplamento estrutural) do organismo ao seu meio de existência.
57 – II. O que o observador vê como comportamento ao contemplar as interações de um organismo com o sistema nervoso em seu meio é sempre expressão da dinâmica de estado de uma unidade que inclui o sistema nervoso, e não apenas um produto deste último. Além disso, o que o observador vê a cada instante como comportamento é sempre expressão do presente estrutural da unidade organismo, que inclui o sistema nervoso, e esse presente estrutural é sempre o resultado de uma deriva estrutural ontogênica que começa com a célula inicial que dá origem ao organismo. A construção genética da célula inicial é um ponto de partida que restringe as ontogenias possíveis, porém não as especifica. Por isso toda ontogenia é uma epigênese que envolve sempre o organismo como unidade, sejam quais forem os componentes que um observador possa nele distinguir.
58 – II. A dinâmica de estados do sistema nervoso como uma dinâmica de correlações sensório-motoras é, em cada instante, o resultado da epigênese do organismo e, portanto, o resultado da história de sua mudança estrutural, com conservação de sua organização e adaptação. Ao mesmo tempo, é o resultado de sua própria epigênese como componente do organismo num meio. O observador pode associar distintas configurações de correlações sensório-motoras do sistema nervoso a diferentes comportamentos e descrever o sistema nervoso como o gerador de ações do organismo sobre o mundo, com maior ou menor intencionalidade propositiva ou com maior ou menor eficiência ou eficácia. Em todos os casos, entretanto, a dinâmica de estados do sistema nervoso é uma dinâmica interna de correlações de atividade entre seus componentes, que segue um curso determinado em sua estrutura, em circunstancias em que esta é, em todo instante de observação, o resultado da epigênese do organismo.
59 – IV. A diferença entre características estruturais de um organismo determinadas geneticamente e não determinadas geneticamente não tem relação com sua origem epigênica em uma ontogenia do organismo com conservação de organização e adaptação, mas sim com a diversidade de histórias ontogênicas que as tornam possíveis. Assim, uma característica estrutural que aparece na epigênese, sob qualquer história de interações ontogénicas, diz-se que é de determinação genética. Outra característica que, ao contrário, aparece somente sob certas histórias de interações ontogênicas, diz-se que é adquirida. No processo de seu estabelecimento no decorrer da epigênese do organismo, entretanto, os dois tipos de características estruturais são indistinguíveis: ambas aparecem como resultado de uma deriva ontogênica do organismo com conservação de organização e adaptação. Um observador do organismo em seu contexto, imaginando alternativas, pode descrever este processo como sendo um processo de seleção epigênica em que as distintas histórias de interações ontogênicas selecionam distintos cursos de mudanças estruturais para o caso da mesma constituição genética inicial.
60 – V. O que foi dito no tópico anterior é válido para a estrutura do sistema nervoso e, portanto, também para sua dinâmica sensório-motora e aquilo que o observador vê como comportamento. Os comportamentos instintivos e aprendidos, segundo este ponto de vista, não se diferenciam em sua natureza, mas nas possibilidades de surgimento epigênico das estruturas que determinam as correlações sensório-motoras do organismo que as exibe. Mais ainda, segundo este ponto de vista, não há comportamentos herdados, pois somente se herdam estruturas iniciais (constituição genética da célula inicial de um organismo) que determinam pontos de partida para possíveis epigêneses.
RESPOSTA
Aprendizagem
61 – Tudo que foi dito mostra que a epigênese de um organismo é um processo de contínua mudança estrutural e que este segue um curso em contínua congruência com as mudanças estruturais do meio, como resultado inevitável da necessária conservação da organização e da adaptação na qual tem que acontecer a ontogenia de todo sistema. Tudo que foi dito mostra também que isso acontece de maneira que as mudanças comportamentais do organismo surgem como resultado de sua história de interações associadas a essa mudança estrutural, de maneira que a adequação das mudanças comportamentais do organismo às mudanças do meio são o resultado de sua conservação e adaptação.
62 – Em suma, o que foi dito mostra que não há diferença intrínseca entre comportamento instintivo e comportamento aprendido, já que ambos são o resultado da epigênese do organismo e surgem, em cada caso, como consequência inevitável de sua história de interações com conservação da organização e da adaptação. A diferença entre eles está somente no grau de liberdade epigenética que determina a estrutura da célula inicial.
63 – A aprendizagem, assim como a diferenciação celular, não é um fenômeno de adaptação do organismo ao meio, e sim a consequência da epigênese do organismo com conservação de sua adaptação em um meio particular no qual a conservação da organização e da adaptação são as referências operacionais para o caminho seguido pela mudança estrutural. O organismo está onde está porque conservou sua organização e sua adaptação em um meio mutante ou estático, e dizemos que aprendeu porque, comparativamente, vemos que seu comportamento está diferente ao de um momento anterior, de uma maneira contingente à sua história de interações. Sem comparação histórica não podemos dizer nada: somente veríamos um organismo em congruência comportamental com seu meio no presente.
Reflexões sobre as reflexões
64 – O fenômeno a explicar era a mudança de comportamento do organismo, congruente com as mudanças do meio e contingente à sua interação com ele. O procedimento explicativo foi indireto. Eu coloquei a sobrevivência como o fenômeno fundamental para a conservação da organização e da adaptação (mecanismo gerador do dito fenômeno), e a aprendizagem como o fenômeno adicional observável como consequência do operar do mecanismo explicativo da sobrevivência. Isto foi possível mostrando que a conservação da congruência entre o comportamento de um organismo e as perturbações que o meio exerce sobre ele é:
65 – a) uma condição necessária de existência do organismo, implícita na conservação da organização e adaptação durante a ontogenia;
66 – b) o resultado de que a mudança estrutural do organismo, com seu sistema nervoso incluído, siga sempre um curso determinado pela coincidência das perturbações ambientais e a conservação da organização e adaptação que, de fato, constituem a condição de existência do organismo. Isso parece uma tautologia, e é. É um sistema de equações com algumas variáveis, tais como a estrutura inicial (o zigoto, em um organismo com reprodução sexuada, por exemplo) e a sequência de perturbações que constituem o meio efetivo no qual se realiza a ontogenia do organismo, que, uma vez fixadas, determinam uma única solução: a história individual do organismo em congruência com o meio até sua morte (perda de sua congruência com o meio). Percebo que isso oferece algumas dificuldades ao leitor. Vejamos:
67 – I. Parece que o que foi dito deixa o problema aberto e não mostra como se produz a conservação da organização e da adaptação. Isso não é estritamente correto. O que se faz é mudar o problema. O problema já não é mais como o organismo se acomoda ao meio, por meio do comportamento ou de qualquer outra maneira. O problema agora é: como é a estrutura inicial de um organismo no nível da primeira célula (zigoto, no ser humano, por exemplo) de modo que admite uma epigênese que ocorre com uma certa sequência particular de interações e depois de 25 anos há um adulto com o comportamento de um médico, em circunstâncias que essa mesma célula inicial não admite uma epigênese que culmine em um elefante?
68 – II. Tudo o que foi dito não parece tomar adequadamente em consideração o sistema nervoso. Isso também não é estritamente certo. O que se faz é devolver ao sistema nervoso sua condição de componente do organismo e mostrar que seu papel na mudança comportamental não é sui generis. Com efeito, na medida em que o sistema nervoso participa como qualquer outro órgão na deriva estrutural ontogênica do organismo, o que lhe cabe propriamente é a enorme ampliação do domínio de estados que torna possível no organismo. Em outras palavras, o sistema nervoso é peculiar na maneira como amplia o domínio das possíveis epigêneses do organismo, não na forma como se insere nelas.
69 – III. Poderia parecer que a dança de correlações sensório-motoras que, conforme foi dito, caracteriza o operar do sistema nervoso como rede fechada de componentes que interagem entre si, não pode dar conta da enorme riqueza de comportamentos do ser humano. Esta dificuldade surge de se pensar que a complexidade de comportamentos do ser humano está em seu sistema nervoso. De fato, se o comportamento é o que o observador vê na circunstância de interações do organismo em seu meio, o que chamamos de riqueza comportamental humana pela riqueza de significado que vemos nela (arte, literatura, ciência, filosofia) não está no sistema nervoso como gerador de comportamentos, mas na circunstância histórica em que ocorrem as correlações sensório-motoras geradas por ele.
70 – Em outras palavras, duas correlações sensório-motoras que um observador descreve como iguais em dois momentos históricos distintos podem ter significados radicalmente diferentes porque são historicamente comportamentos distintos. O sistema nervoso torna possível uma certa variedade de correlações sensório-motoras em um organismo determinado, mas, sobretudo, torna possível seu enlace em muitas circunstâncias de interações distintas ao permitir muitas e muito diferentes derivas estruturais ontogênicas do organismo em circunstâncias históricas variáveis. A riqueza da vida humana é social porque a sociedade é também parte do meio em que um organismo conserva sua organização e sua estrutura. Ao sistema nervoso em sua deriva estrutural não faz diferença em que epigênese ele participa; de qualquer modo ele existe imerso em uma deriva estrutural. É ao ser social que isso faz diferença, porque a sociedade que gera seu comportamento opera recursivamente como o âmbito no qual ele deve conservar sua organização e adaptação em sua epigênese.
71 – IV. De acordo com o que foi dito, o problema já não é compreender a organização do sistema nervoso. Este é uma rede fechada de componentes que interagem entre si. O problema agora é, concretamente, compreender a estrutura desta rede como um sistema fechado que gera mudanças de relações de atividade em uma dança completamente interna, que, vista pelo lado de fora, aparece como correlações sensório-motoras. Muito já se disse particularmente no domínio da postura e dos movimentos oculares. Há muito mais a dizer ainda, principalmente, sobre o domínio do acoplamento estrutural do sistema nervoso através de suas interações ortogonais ao seu domínio de estados. Neste sentido, os estudos de Joaquim Luco sobre os efeitos tróficos abriram um mundo.
72 – V. Para muitos, pensar no operar do sistema nervoso sem recorrer à noção de representação ou de captação de informação será uma dificuldade. Esta dificuldade é meramente aparente. Nenhum mecânico precisa, para compreender como funciona um automóvel, descrever seu motor em função do mundo de relações ambientais em que ele é usado. O que ele sabe é que existem dois domínios disjuntos que ele relaciona: o domínio dos estados do motor, expresso como relações entre seus componentes, e o domínio das interações do automóvel no meio em que é usado (a estrada, o motorista etc.). Se o carburador está com defeito o carro não anda bem, porém não porque o carburador falha em sua representação do caminho. O mesmo acontece com o sistema nervoso. O que hoje temos que fazer para compreendê-lo é reconhecer a existência de dois domínios disjuntos, o do comportamento e o dos estados do sistema nervoso, e reconhecer que a conexão entre os dois é ortogonal ao operar deste último, e que ela está no acoplamento estrutural.
73 – VI. Outra dificuldade para aceitar esta explicação geral do fenômeno da aprendizagem reside em que correntemente se pensa que o aprender envolve uma certa intencionalidade, um certo propósito. Isso porque, em geral, se pensa que o que é central em todo comportamento são suas consequências. Isto é um erro. O propósito que vemos nos comportamentos não pertence a eles, mas à descrição ou ao comentário do observador. Tal descrição é boa na conversação, mas é enganadora no domínio conceitual. A aprendizagem não tem propósito, é uma consequência da mudança estrutural dos seres vivos sob condições de sobrevivência com conservação da organização e da estrutura. Não há representação do meio, não há ação sobre o meio, não há memória, não há passado nem futuro, somente o presente. Porém, porque há aprendizagem há linguagem (ver Maturana, 1978) e descrições nas quais o passado e o futuro surgem e podemos equivocar-nos sobre a aprendizagem.
74 – VII. Finalmente, um comentário sobre o aprender. O que disse neste artigo é que a aprendizagem é um processo que se dá no viver, mas que não consiste em captar [apreender] o mundo, como a palavra aprender sugere. O fenômeno de aprender é mudar com o mundo, e quando o sistema nervoso está envolvido nisso, este mudar com o mundo aparece como uma mudança comportamental que se dá com a mudança das correlações sensório-motoras, que resultam da mudança estrutural do sistema nervoso que segue a deriva conservando a organização e adaptação do organismo.
75 – Para isso, o sistema nervoso deve estar em contínua mudança estrutural, de modo que as interações do organismo com o meio resultem em que estas mudanças sigam determinado curso e não outro: as interações do organismo com o meio selecionam o curso da epigênese do sistema nervoso na qual ele conserva sua organização e adaptação. O sistema nervoso, entretanto, deve ter a estrutura que permita, sob muitas histórias distintas de mudança ambiental, muitas epigêneses distintas que podem levar o mesmo organismo (mesma constituição inicial) e muitas ontogenias distintas, com conservação da organização e da adaptação. Portanto, e em última instância, a grande pergunta sobre o sistema nervoso deve ser: qual é a estrutura desta rede fechada que só gera correlações internas e que, dentro de certos limites, admite mudanças sobre como se realizam estas correlações internas sem interferir na conservação da organização e adaptação do organismo que integra?
76 – Eu não tenho uma resposta em particular, mas creio que teria uma resposta geral.
77 – Todo organismo existe num meio com o qual é congruente. Tal congruência envolve uma recorrência de estados em si mesmo que tem a ver com a recorrência de alguns estados do meio. Estas recorrências constituem uma condição que exige no organismo uma estabilidade estrutural básica que defina relacionalmente uma invariância operacional em torno da qual devem se dar todas as mudanças estruturais que ele sofre em sua necessária dinâmica estrutural. Acontece, entretanto, que essas mudanças estruturais estão também ligadas por relações com o meio. O sistema nervoso satisfaz estas duas condições com sua dinâmica de correlações internas, que são vistas externamente como correlações sensório-motoras. Assim:
a) Por um lado, assegura um conjunto de correlações sensório-motoras capazes de gerar os necessários comportamentos recorrentes;
b) Assegura a possibilidade de novas correlações sensório-motoras ao admitir que as novas coincidências de relações internas de atividade que surgem das mudanças estruturais das superfícies sensoriais do organismo desencadeiam mudanças estruturais locais;
c) Assegura que estas últimas mudanças redundem em que novas configurações de perturbações substituam as configurações de perturbações antigas frente às novas perturbações ambientais, recorrentes ou não.
78 – Os estudos sobre aprendizagem que Joaquim Luco fez com as baratas demonstram que é assim. A barata, ao perder suas duas patas anteriores, tem a possibilidade de realizar todas as correlações sensório-motoras que um observador verá como a limpeza da antena usando uma das patas de seu segundo par. Sua aprendizagem é a seleção, em sua dinâmica estrutural, de mudanças que permitem uma nova correlação dessas correlações sensório-motoras. O sistema nervoso não está desenhado para que o organismo viva de uma certa maneira, e sim, se o sistema nervoso gera certas correlações sensório-motoras, o organismo vive de certa maneira em seu domínio de acoplamento estrutural. As baratas não são feitas para perder o primeiro par de patas e aprender a limpar as antenas apoiadas em três. Porém são feitas de tal modo que se perdem suas duas primeiras patas podem chegar, no decorrer de sua ontogenia, a apoiar-se em três das restantes e limpar-se com a quarta que está livre. Isto, se acontece, é o resultado de uma simples deriva evolutiva, segundo a qual todos os organismos atuais pertencemos a linhagens que nunca se interromperam e dos quais resultaram os zigotos ou células iniciais que tornaram possível nossas epigêneses particulares. Mais ainda, nessa deriva evolutiva a aprendizagem como fenômeno ontogênico é simples epigênese, simples deriva estrutural com conservação da organização e adaptação da unidade em ontogenia. O resto, foi o observador que disse.
REFERÊNCIAS
MATURANA, H. R.; VARELA, F. G. (1973). De máquinas y seres vivos. Editorial Universitaria, Santiago.
MATURANA, H. R. (1978). Biology of languaje: epistemology of reality. En: Psychology and Biology of Lenguage and Thought. E. Lenneberg and H. Miller. (Eds). Academic Press, New York.
MATURANA, H. R. (1980). Autopoiesis: reproducción, herencia y evolución. En Autopoiesís, dissipative structures and spontaneous social orders. A.A.A. Selected Symposium 55. Milan Zeleny (Ed.).
MATURANA, H. R.; VARELA, F. G. Evolution or phylogenic and ontogenic drift. Em preparação.
QUESTÕES PARA REFLEXÃO
01 – Em “Aprendizagem ou deriva ontogênica”, Maturana descreve duas visões distintas do fenômeno da aprendizagem. Na primeira perspectiva, nomeada informacionista, a aprendizagem corresponde a um fenômeno que o observador percebe como resultado de interações instrutivas, ou seja, em que o meio, proporcionando ao organismo informação, dados e significados, especifica nele as mudanças que lhe permitem criar uma representação desse meio e calcular a conduta adequada para sua auto-conservação. Segundo a outra perspectiva, “a aprendizagem é o curso de mudanças estruturais que o organismo segue (…) em congruência com as mudanças estruturais do meio como resultado da recíproca seleção estrutural que se produz naquele e neste durante a recorrência de suas interações, com conservação de suas respectivas identidades.” A qual das perspectivas a educação numa sociedade interativa responde.
02 – No texto “Aprendizagem ou deriva ontogenética”, Maturana diz que “a aprendizagem não tem propósito, é consequência da mudança estrutural dos seres vivos sob condições de sobrevivência em conservação da organização e da estrutura. Não há representação do meio, não há ação sobre o meio, não há memória, não há passado nem futuro, somente o presente. Porém, porque há aprendizagem há linguagem e descrições nas quais o passado e o futuro surgem… e podemos equivocar-nos sobre a aprendizagem”. O que você acha dessa declaração?
a) A proposição só faz sentido para os seres vivos em geral, mas não se aplica aos seres humanos em particular. Enquanto para aqueles o aprender constitui-se de um simples adaptar-se ao meio (e assim manter-se vivo), para estes a aprendizagem só acontece derivada de uma intenção ou propósito. A educação e o ensino têm por objetivo materializar esse propósito da aprendizagem, oferecendo às pessoas os conteúdos básicos e as habilidades necessárias para a vida.
b) A aprendizagem realmente não tem a ver com conteúdos ou propósitos. Ela deriva apenas do viver de um ser que se adapta ao meio em mudança e, para isso, também muda. Isso se aplica tanto à adaptação biológica quanto à vida humana em um contexto social, e implica que a pessoa aprende o tempo todo enquanto estiver viva e em relação com outras pessoas, e que o processo de aprendizagem em si não necessita de qualquer relação (hetero)didática para acontecer.
c) A aprendizagem enquanto tal – espontânea e incidental, como parte integrante do viver – não pode ser confundida com (nem gerada pela) instrução programada.
MINHA VISÃO
APRESENTAÇÃO
“O critério da pedagogia é só um: a liberdade”.
Leon TOLSTOI (1862): Da instrução popular, in Obras Pedagógicas.
Nada entendo de educação. Só por isso posso escrever este texto. Se precisasse ser aceito e reconhecido pelas comunidades de filósofos da educação, epistemólogos e pedagogos para dizer o que penso sobre o assunto, provavelmente não poderia fazê-lo. Este texto está sendo escrito durante oito anos. Comecei em 2010 e levei esse tempo todo para resumir aqui o que escrevi em muitos lugares e acrescentar os resultados preliminares de novas investigações que ando fazendo.
EM PRIMEIRO LUGAR começo dizendo que, em termos de aprendizagem, não pode existir nada como “a educação”. Existem inúmeros processos de aprendizagem, mas não uma (única) educação. Quando nos dizem que existe “a educação” é porque querem falar de ensino – e, não raro, do que se chamou de “instrução pública” – não propriamente de aprendizagem. Acharam que era preciso educar o povo, formatar a mente das massas, domesticar a besta-fera humana e outras porcarias semelhantes. Se você leu o Marquês de Condorcet (1792) e as obras pedagógicas de Tolstoi (1862) – sobretudo “Da Instrução Popular” – entenderá parcialmente o que estou dizendo. Se você ficou a par das críticas de Nietzsche (1888) e de Foucault (1975), entenderá um pouco mais. Mas talvez não tudo ainda.
EM SEGUNDO LUGAR afirmo que ensino não tem a ver com aprendizagem. É outra coisa. Se você diz: – Quero que você aprenda não o que você quer aprender e sim o que eu quero que você aprenda, então o nome disso é ensino. O Homo Sapiens vem aprendendo há mais ou menos 200 mil anos, mas o ensino só surgiu nos últimos 6 milênios. O ensino como instituição só surgiu quando se formou um estamento sacerdotal cuja função precípua era produzir artificialmente escassez. Esses clusters de burocratas, conformados por fora dos fluxos interativos da convivência social, não podiam se reproduzir pela própria dinâmica da vida em sociedade. Foi assim que inventaram o ensino. Ou seja, criaram um ensinamento (um corpo de conhecimento-morto, definido ex ante à interação) cuja transmissão assegurasse a reprodução do próprio estamento, que, de outro modo, desapareceria, posto que não produzia os meios necessários à sua sobrevivência (eles não trabalhavam, o que significa – já naquele contexto da sociedade hierárquica nascente – que eram sustentados por outrem).
O inesquecível Joseph Campbell, em As Máscaras de Deus (1959), nos deu uma pista preciosíssima sobre a origem do ensino. Mas do ensino como instituição, não o fato de alguém ensinar outra pessoa a fazer uma coisa, como colher arroz ou colocar palmilha num sapato, quer dizer, não o ensino de techné; nem mesmo o “ensino” sofista da retórica prática, dos modos de proferir a doxa; mas o ensino como transmissão de ensinamento supostamente verdadeiro, que tem a ver com a transmissão – se isso for possível – de episteme (no sentido original do termo). Então escreveu o velho Campbell que “de súbito, em uma data crucial que pode ser fixada quase com precisão em 3.200 a. C., surge naquela pequena região lodosa suméria… a criação factual e claramente consciente da mente e ciência de uma nova ordem de humanidade que jamais havia surgido na história da espécie humana: o profissional em tempo integral, iniciado e estritamente arregimentado, sacerdote de templo” (1).
Cinco mil anos depois, o mesmo processo continua, como reconheceu Rupert Sheldrake (1992), aquele investigador heterodoxo que tenta fazer outro tipo de ciência (embora não o reconheça): “Penso que é de fundamental importância reconhecer conscientemente que a educação é uma forma de iniciação… Os iniciados assemelham-se a um sacerdócio secular qualificado para dirigir e ordenar a sociedade. Das suas fileiras são recrutados nossos burocratas, cientistas, tecnocratas e intelectuais” (2).
Configurado um corpo docente, surgiu, portanto, o ensino. A definição de um ensinamento (um conteúdo protegido da interação para ser transfundido do docente ao discente) foi pura produção artificial de escassez: se o conhecimento não fosse escasso, mas estivesse acessível a todos, se uma pessoa pudesse aprender por si mesma (autodidatismo) ou aprender com seus amigos (alterdidatismo), não haveria necessidade de uma casta que o guardasse para transmiti-lo com exclusividade e autoridade (heterodidatismo). O ensino (heterodidata) é uma proteção contra a experiência da livre-aprendizagem (autodidata e alterdidata). Se quisermos ser mais incisivos podemos dizer que o ensino surgiu contra a aprendizagem. Se você leu Carl Rogers (1952) ou John Holt (1989) entenderá o que estou dizendo. Rogers chegou à conclusão de que “Devíamos renunciar ao ensino. As pessoas teriam de reunir-se se quisessem aprender” (3). E Holt escreveu: “Posso resumir em cinco ou sete palavras o que casualmente aprendi como professor. A versão de sete palavras é esta: ‘Aprender não é o produto de ensinar’. A versão de cinco palavras é esta: ‘O ensinar não produz aprendizagem'”(4).
Por meio do ensino a criança, simplesmente, torna-se sócia de um mundo interpretativo que deve replicar. Como escreveu Carlos Castaneda (1972), em Viagem a Ixtlan, a criança vira uma replicadora desse mundo “quando é capaz de fazer todas as interpretações perceptíveis adequadas que, conformando-se com aquela descrição que lhe foi inculcada, a revalidem” (5).
EM TERCEIRO LUGAR, quero observar que quando alguém fala em educação, as pessoas pensam logo – ou automaticamente – em escola porque, como todo mundo sabe, a escola é o lugar do ensino. Ou seja, elas acham que educação é basicamente ensino porque tomam aprendizagem por ensino. A escola seria assim uma espécie de fábrica da educação. É lá que as pessoas serão produzidas (formatadas) em série para reproduzir o modo-de-vida que caracteriza o que chamam de “a sociedade” (como se isso existisse). Como não existe “a sociedade” (e sim uma infinidade de sociosferas), do que se trata mesmo é de reproduzir o modo-de-vida de alguma deriva da civilização patriarcal. Se você leu Humberto Maturana (1982; 1993) entenderá o que estou dizendo. Maturana (1993) escreveu que “essa maneira de viver, no contínuo jogo da competição e da demanda de estabilidade, faz da educação um instrumento de criação de meninos e meninas patriarcais. Eles viverão em contradição emocional, pois o farão tanto na contínua negação da democracia como modo de coexistência humana, quanto na permanente nostalgia da recuperação de seus fundamentos matrísticos” (6).
A existência de escolas escolarizou a sociedade. Basta uma escola e uma educação estatal (dita pública) para transformar tudo em escola. O escolarizado é um escolarizador. Na cabeça de cada paciente da ensinagem é depositado o ovo de um demônio professoral. Mais cedo ou mais tarde esse ovo eclodirá e ele tenderá a transformar tudo que tocar – a empresa, a corporação, o partido, a ONG, o governo – em escola. Inclusive a escola… quando ele achar que a escola está em crise e tiver a má ideia de fazer uma nova escola, uma escola democrática, uma escola revolucionária. Continuará fazendo escola, quer dizer, escolarizando a sociedade. Se você leu Ivan Illich (1970) – em Desescolarizando a sociedade (pessimamente traduzido, no Brasil e em outros países como Sociedade Sem Escolas) – entenderá, em grande parte, o que estou dizendo. Por algum motivo, porém, Illich não faz tanto sucesso nos cursos de pedagogia. Um bom sinal para Illich, cuja proposta central não era desescolarizar a escola e sim desescolarizar a sociedade; ou seja, as escolas continuarão existindo enquanto quiserem e puderem. Façam-se votos que consigam se aggiornar e matar menos a criatividade humana. Mas como a aprendizagem tipicamente humana é tão surpreendente que pode acontecer até mesmo na escola, desescolarizar não é fazer uma guerra contra as escolas, não é destruir as escolas. Como disse Ivan Illich: “Desescolarizar significa abolir o poder de uma pessoa de obrigar outra a frequentar uma reunião. Também significa o direito de qualquer pessoa, de qualquer idade ou sexo, convocar uma reunião. Esse direito foi drasticamente diminuído pela institucionalização das reuniões. ‘Reunião’ significa originalmente o ato individual de juntar-se. Agora, significa o produto institucional de alguma agência”.
EM QUARTO LUGAR quero relatar uma descoberta pessoal que foi muito significativa (para mim, pelo menos): a de que aprendizagem nunca é para alguma coisa. A aprendizagem é a coisa. Então o fluxo interativo que nos faz aprendentes é a coisa a não ser perturbada, condicionada, retorcida ou pervertida (como ocorre no ensino). Nesse sentido, conviver em aprendência é um ato em si realizador, não um processo preparador para alguma realização ulterior.
Escolarizar pessoas, fazê-las repetir um percurso já traçado, é como enfiá-las num tubo para retirá-las mais adiante. Enquanto elas estão dentro do tubo, não são sujeitos legítimos pelo que fazem, só serão legitimadas quando saírem. Por isso as pessoas, intimamente, não gostam de ser assim “entubadas”. Porque, no tubo, tudo que vale é o que vem depois, quando fazem qualquer coisa é sempre uma simulação preparativa para o que acontecerá depois. O tubo (unidimensional) aliena a pessoa da fluição (que sempre é multidimensional), serve de abrigo para os ventos que sopram de través, ou seja, protege-a da… aprendizagem! Com isso, frustra-lhe a realização, diminuindo-a de mundo cada vez mais um pouco.
EM QUINTO LUGAR devo dizer que sistemas que não são capazes de aprender não são sistemas de aprendizagem. Mas o que significa dizer que um sistema (educacional) é capaz de aprender?
Começando pelo avesso: uma escola, por exemplo, não é capaz de aprender. Continua basicamente a mesma desde o início desta Era Comum. Aliás, desde muito antes: já em meados do século passado o erudito Samuel Noah Kramer (1956) encontrou evidências vestigiais de escolas na antiga Suméria (há quase 6 mil anos). Brinca-se que se descongelássemos hoje uma pessoa hibernada no século 14, tudo para ela seria novidade: do relógio de pulso ao avião, passando pela TV e pela Internet, menos a escola (ah!, isso ela saberia reconhecer perfeitamente). Se a universidade, surgida como uma corporação meritocrática nos anos 1000, continua sendo, nos anos 2000, basicamente a mesma coisa (uma corporação meritocrática), então é sinal de que ela não tem grande capacidade de mudar.
Aprender é sempre a manifestação de uma capacidade de mudar de acordo com a mudança das circunstâncias. Existem fortes evidências de que só consegue fazer isso o que tem o padrão de rede (mais distribuída do que centralizada). Do cérebro à uma colônia de insetos, somente sistemas distribuídos (com múltiplos caminhos), altamente tramados por dentro e conectados para fora (quer dizer, não separados do meio por fronteiras opacas e sim por membranas permeáveis aos fluxos) podem aprender.
Nas últimas duas décadas recolhemos fartas evidências de que tudo que aprende se modifica continuamente, se constrói permanentemente, se adapta tempestivamente, se organiza autonomamente e… interage livremente. E de que a aprendizagem é sempre uma criação.
EM SEXTO LUGAR, quero reconhecer e proclamar que existe uma aprendizagem criativa que não se confunde com a aprendizagem reprodutiva (em geral confundida com ensinagem). Uma aprendizagem criativa não pode colocar toda sua ênfase na acumulação de conteúdos conhecidos, mas tem que ensejar que as pessoas possam ser livres para se aventurarem na compreensão do desconhecido. Numa época em que se fala tanto de inovação, parece que a chamada educação (sobretudo quando confunde ensino com aprendizagem) permanece intocada pelo espírito criativo. Além disso, as teorias da aprendizagem são baseadas em teorias do conhecimento que enfatizam quase que somente a aquisição de conteúdo pretérito e não a capacidade de descobrir coisas novas. Se você leu Jiddu Krishnamurti (1964) deve estar entendendo o que estou tentando dizer. Ele percebeu claramente que “o homem que está carregado de conhecimentos, de instrução, que está curvado sob o peso das coisas que aprendeu, nunca é livre. Poderá ser um homem altamente erudito, mas sua acumulação de conhecimentos o impede de ser livre, e, por conseguinte ele é incapaz de aprender” (7).
Inovação em educação é uma preparação para a descoberta. Isso praticamente não existe em nossos sistemas educacionais. E isso não se consegue ensinando às pessoas o que é inovação: inovador é quem inova, não quem fala sobre inovação. Ademais, ideias não mudam comportamentos, só comportamentos mudam comportamentos. É necessário, pois, configurar novos ambientes de livre-aprendizagem onde as pessoas possam desenvolver novos comportamentos educativos.
EM SÉTIMO LUGAR penso que é preciso reconhecer que todas as teorias da aprendizagem – digam o que quiserem dizer seus formuladores ou seguidores – são, em boa medida, cognitivistas (lato sensu). Há sempre uma resposta cognitivista, às vezes implícita, para a pergunta fundamental: Como uma pessoa aprende? A esta pergunta seguem-se outras: Que fatores influenciam a aprendizagem? Qual o papel da memória? Como ocorre a transferência (de “conteúdos”)? As respostas que damos para essas questões definem nossa visão da aprendizagem.
Mas em geral queremos saber como promover ou induzir o processo de aprendizagem de pessoas que achamos que devem aprender alguma coisa que queremos que elas aprendam. Ou seja, procuramos, na verdade, uma resposta para o ensino, não para a aprendizagem. A maior parte dos sistemas educacionais baseia-se em uma visão cognitivista, que os leva a tentar promover capacidades de raciocínio, de evocar e interpretar experiências, de computar – codificar, armazenar, recuperar, derivar para reconstruir ou construir conteúdos (que chamam de conhecimento) – e de resolver problemas. Todos esses sistemas educativos, em grande parte, ainda guardam fortes traços behavioristas: capacidade de responder positivamente a estímulos e recompensas à reprodução fiel de conteúdos pré-determinados e ao bom desempenho em processos pré-desenhados. Alguns até tentam incorporar componentes de uma visão construtivista de aprendizagem: capacidade de ressignificar, remixar, atualizar e socializar conteúdos e processos educacionais. Raramente eles contemplam visões conectivistas de aprendizagem: capacidade de estabelecer conexões e reconhecer e interpretar padrões e de abrir novos caminhos de apreensão e compartilhamento de conhecimentos e atitudes cognitivas. E praticamente nenhum deles se baseia em visões interativistas. Mas o problema é que já vivemos em sociedades de alta interatividade (a chamada sociedade-em-rede). E que sem entender o que está mudando, na transição em que estamos imersos para uma sociedade-em-rede, não será possível conceber uma nova visão da educação para o tempo presente (uma visão interativista).
Para uma visão interativista da aprendizagem tudo começa com a pergunta: O que acontece (em termos da fenomenologia da interação) quando a aprendizagem acontece? Em seguida vem outra pergunta: Com quem (ou onde) acontece o que acontece?; ou: Quem é o sujeito do processo de aprendizagem?; ou, ainda: Quem aprende?
Quase ninguém formula a última pergunta – Quem aprende? – porque a todos parece óbvio que existe um sujeito que aprende: o indivíduo. Mas o indivíduo é um conceito funcional para sociedades patriarcais; ou seja, para sociedades que mataram a rede (sim, este é o objetivo da guerra – quer dizer, da construção instrumental de inimigos para organizar cosmos sociais hierárquicos e autocráticos – que define o patriarcado: matar a rede distribuída, não eliminar indivíduos). Indivíduo é, no máximo, uma abstração estatística útil em cálculos econômicos. Seres humanos são pessoas, entroncamentos de fluxos interativos da convivência social; ou seja, já são redes sociais. Portanto, de um ponto de vista social, o aprender (humano) acontece sempre em uma rede: em uma pessoa (que só existe como tal em um emaranhado de relacionamentos).
Uma nova visão interativista da aprendizagem poderia começar a se estruturar a partir de uma combinação de visões conectivistas com a visão basilar de Humberto Maturana (1982): “Há aprendizagem quando a conduta de um organismo varia durante sua ontogenia (história) de maneira congruente com as variações do meio e o faz seguindo um curso contingente a suas interações nele”.
Mas isso pode ser só o início. Começando por estabelecer conexões e reconhecer padrões, passando pelo linguajear e o conversar como atividades tipicamente humanas, uma visão interativista da aprendizagem deve se desdobrar nas funções sociais associadas ao que chamamos de inteligência coletiva.
E aí ressurgem aquelas perguntas (que em geral não são feitas). Quem aprende: o indivíduo ou a pessoa (o emaranhado)? Se assim como o processo que chamamos de vida, o processo de interação que chamamos de convivência social também implica acoplamento estrutural (proporcionando sempre alguma aprendizagem aos sujeitos envolvidos), o que devemos fazer (ou, sobretudo, o que devemos não-fazer) para não impedir ou dificultar essa aprendizagem que ocorrerá de qualquer modo (desde que haja interação)?
Para um ponto de vista interativista, toda aprendizagem é criação (que é sempre cocriação) ou invenção (você só aprende verdadeiramente o que inventa) e, portanto, envolve uma dinâmica, em certo sentido, oposta àquela do ensino (que é sempre reprodução). Assim, a livre-aprendizagem (interativa) é desensino e, não havendo separação entre a produção (ou descoberta) de conhecimento e a sua recepção (ou assimilação), não há mais separação entre aprendizagem e pesquisa quando essas ações são compartilhadas. A aprendizagem é então fruto da busca e da polinização.
A hipótese do acoplamento estrutural de Maturana-Varela é uma espécie de background para a formulação de respostas para essas perguntas que, em geral, não são feitas pelos teóricos da educação, mas ela mesmo não pode ser a resposta. Faltam-lhe os conceitos da fenomenologia da interação: por exemplo, toda aprendizagem envolve cloning; ou: todo sujeito da livre-aprendizagem se conforma por clustering; ou ainda: swarmings contraem as linhas temporais acelerando a aprendizagem, permitindo a emergência do aprendedor ou aprendente colaborativo e de uma outra ordem de inteligência: que, na falta de um termo melhor, chamamos de inteligência coletiva; por último: o crunching contrai as distâncias que “somavam a gente para menos” para citar o poeta – Manoel de Barros (1986) – e potencializam a aprendizagem de um modo que ainda desconhecemos. Estamos tratando aqui, obviamente, de uma nova teoria da aprendizagem, não mais baseada em uma teoria do conhecimento e sim em uma teoria da alostase social.
EM OITAVO LUGAR, quero dizer que existe uma aprendizagem tipicamente humana conforme a uma inteligência tipicamente humana (sintonizada com o emocionar humano). O que poderia caracterizar uma inteligência tipicamente humana? Não é, por certo, o fato de ela ser considerada superior a de outros animais ou de outros seres vivos (o que ela não é realmente se olharmos as longas linhagens filogenéticas de seres que produzem a chamada inteligência coletiva na sua interação, como os cupins construindo um cupinzeiro ou como as bactérias que colonizam nossos corpos como planetas). Uma inteligência tipicamente humana não é a inteligência prodigiosa das máquinas que ainda serão inventadas, dos futuros seres cibernéticos. Ademais – e aqui parece estar uma novidade – a inteligência tipicamente humana não é também a inteligência extraordinária de indivíduos extremamente bem dotados de capacidades cognitivas, de prodigiosa memória e de formidável raciocínio lógico. Não. A inteligência tipicamente humana é aquela inteligência empática, que no simples ato de se manifestar ou se exercer, já se acopla estruturalmente à inteligência de outros humanos. É como se fosse o espelhamento, no que cada pessoa tem de único, da inteligência dos emaranhados sociais em que existimos como seres humanos. Não é uma inteligência individual que se combina com outras inteligências individuais. É a inteligência que só emerge em cada um de nós, humanos, porque no próprio processo de sua gênese já incorpora a interação sinérgica, simpática e simbiótica, com outros humanos (que lembra a temática da recente série televisiva das Wachowskis, Sense8). E, portanto, é uma inteligência colaborativa (e isso implica que a inteligência competitiva – tão buscada por organizações hierárquicas, no afã de derrotarem seus concorrentes, vencerem seus adversários ou destruírem seus inimigos – não é uma inteligência tipicamente humana). Essa afirmação é surpreendente também porque desconstitui as teorias cognitivistas da aprendizagem voltadas a maximizar a inteligência. Ela significa que não é a quantidade de inteligência (passível de ser medida pelos indicadores de inteligência comumente usados nos testes de inteligência) que caracteriza a inteligência tipicamente humana e, ao mesmo tempo, que nossa inteligência não é superior a de outros seres vivos (inclusive de outros animais humanos) e, ainda, que podemos ter inteligências extraordinárias de indivíduos humanos que não são tipicamente humanas. A inteligência tipicamente humana é uma espécie de sacramento, uma sombra do que ainda virá (e que será o que será, quando for e toda vez que vir). É uma inteligência humanizante. É a inteligência de um simbionte social se prefigurando.
NOTAS E REFERÊNCIAS
(1) “No nível do estrato arqueológico conhecido como Uruk A, que está imediatamente acima do de Obeid e pode ser grosseiramente datado por vota de 3.500 a. C., as áreas de templos do sul da Mesopotâmia podem ser vistas notavelmente aumentadas em tamanho e importância; e, então, de súbito [atenção para este aposto, porque ele é o mais importante, repetindo:], de súbito, em uma data crucial que pode ser fixada quase com precisão em 3.200 a. C. (no período do estrato arqueológico conhecido como Uruk B), surge naquela pequena região lodosa suméria – como se as flores de suas minúsculas cidades subitamente vicejassem – toda a confluência cultural que a partir de então constituiu a unidade germinal de todas as civilizações avançadas do mundo. E não podemos atribuir esse evento a qualquer conquista da mentalidade de simples camponeses. Tampouco foi a consequência mecânica de um mero acúmulo de artefatos materiais, economicamente determinados. Foi a criação factual e claramente consciente (isto pode ser afirmado com total certeza) da mente e ciência de uma nova ordem de humanidade que jamais havia surgido na história da espécie humana: o profissional em tempo integral, iniciado e estritamente arregimentado, sacerdote de templo”. Campbell, Joseph (1959) em As Máscaras de Deus.
(2) “Penso que é de fundamental importância reconhecer conscientemente que a educação é uma forma de iniciação. Até mesmo no sistema vigente, temos um período de treinamento, e depois passamos por um tempo de provas ou de provação. Alguns fracassam, outros passam, e o que passam tornam-se iniciados. Temos exames em todos os níveis, e cada nível de iniciação é acompanhado de impressionantes cerimônias públicas de formatura. Nesse domínio, continua a preponderar a hierarquia medieval completa, com togas, títulos de bacharel, de mestre, de doutor em filosofia, e assim por diante. Os iniciados assemelham-se a um sacerdócio secular qualificado para dirigir e ordenar a sociedade. Das suas fileiras são recrutados nossos burocratas, cientistas, tecnocratas e intelectuais”. Rupert Sheldrake (1992) em Triálogos nas Fronteiras do Ocidente.
(3) “Quando tento ensinar, como faço às vezes, fico consternado pelos resultados, que me parecem praticamente inconsequentes, porque, por vezes, o ensino parece ser bem-sucedido. Quando isso acontece, verifico que os resultados são prejudiciais, parecem levar o indivíduo a desconfiar da sua própria experiência e isso destrói uma aquisição de conhecimentos que seja significativa. Por isso, sinto que os resultados do ensino ou não têm importância ou são perniciosos… Posso... [dizer que], se a experiência dos outros for semelhante à minha e se eles tiverem chegado a idênticas conclusões, decorrerão deste fato inúmeras consequências: a) Uma tal experiência implicaria que se deveria renunciar ao ensino. As pessoas teriam de reunir-se se quisessem aprender; b) Devíamos renunciar aos exames. Eles medem apenas o tipo de ensino inconsequente; c) Pela mesma razão, deveríamos acabar com diplomas e graus acadêmicos; d) Deveríamos abandonar os diplomas como títulos de competência, em parte pela mesma razão. Outra razão reside no fato de um diploma marcar o fim ou a conclusão de alguma coisa, e aquele que aprende está unicamente interessado em continuar a aprender”. Carl Rogers (1952) em Reflexões pessoais sobre ensinar e aprender.
(4) “Crianças não são apenas extremamente boas em aprender; elas são muito melhores nisso do que nós, adultos. Como professor, levei muito tempo para descobrir isso. Eu era um professor engenhoso e cheio de recursos, hábil no planejamento de aulas, demonstrações, formas de motivação e toda a parafernália pedagógica possível. E foi somente aos poucos, e dolorosamente – acreditem em mim: dolorosamente -, que aprendi o seguinte: quando passei a ensinar menos, as crianças começaram a aprender mais. Posso resumir em cinco ou sete palavras o que casualmente aprendi como professor. A versão de sete palavras é esta: “Aprender não é o produto de ensinar”. A versão de cinco palavras é esta: “Ensinar não produz a aprendizagem”. Como mencionei antes, a educação formal opera com o pressuposto de que as crianças aprendem somente o que, quando e porque lhes ensinamos. Isso não é verdade. Está, de fato, muito perto de ser 100% falso”. John Holt (1989) em Aprendendo o tempo todo.
(5) “Para Don Juan, o mundo da vida diária não é real, como acreditamos que seja: “a realidade ou o mundo que todos conhecemos é apenas uma descrição”. A fim de revalidar essa premissa, Don Juan concentrou seus melhores esforços no sentido de me conduzir a uma convicção sincera de que o que eu pensava como sendo o mundo próximo era apenas a descrição do mundo, a qual me tinha sido inculcada desde o momento em que nasci. Ele mostrou que todos que entram em contato com uma criança são um mestre que lhe descreve o mundo sem cessar, até o momento em que a criança é capaz de perceber o mundo conforme descrito. Segundo Dom Juan, não temos recordação daquele momento portentoso, simplesmente porque nenhum de nós poderia ter qualquer ponto de referência para compará-lo com qualquer outra coisa. A partir daquele momento, porém, a criança é sócia. Ela sabe a descrição do mundo; e sua qualidade de sócia torna-se completa, imagino, quando ela é capaz de fazer todas as interpretações perceptíveis adequadas que, conformando-se com aquela descrição, a revalidem. Para Don Juan, portanto, a realidade de nossa vida diária consiste num fluxo interminável de interpretações perceptíveis que nós, os indivíduos que partilhamos de uma sociedade específica, aprendemos a fazer em comum. A ideia de que as interpretações perceptíveis que constituem o mundo têm um fluxo é congruente com o fato de correrem ininterruptamente e serem raramente, se alguma vez o são, suscetíveis de indagação. De fato, a realidade do mundo que conhecemos é aceita tão normalmente que a premissa básica de que a nossa realidade é apenas uma das muitas descrições, mal poderia ser considerada uma tese séria”. Carlos Castaneda em Viagem a Ixtlan, livro que nasceu da tese de PhD de Castaneda na UCLA, em 1973, com o título: “Sorcery: A Description of the World”.
(6) “Em nossa cultura patriarcal, o emocionar fundamental em relação à noção de progresso é próprio dos desejos de apropriação ou autoridade, implícitos nas conversações de hierarquia, crescimento, controle e subordinação. Todavia, o controle dos outros, a obediência sob as relações hierárquicas que se mantêm pela coerção e o crescimento como uma acumulação de bem-estar pela apropriação dos meios de vida dos outros, são ações que mantêm a exclusão e geram miséria material, depredação ambiental e sofrimento. Isso acontece porque tais circunstâncias são dinâmicas de negação recorrente dos fundamentos matrísticos de nossa infância ocidental e, mais profundamente, de nossa constituição como seres humanos. São, pois, intrinsecamente negadoras do respeito mútuo e do autorrespeito constitutivos do viver democrático. Além do mais, essa maneira de viver, no contínuo jogo da competição e da demanda de estabilidade, faz da educação um instrumento de criação de meninos e meninas patriarcais. Eles viverão em contradição emocional, pois o farão tanto na contínua negação da democracia como modo de coexistência humana, quanto na permanente nostalgia da recuperação de seus fundamentos matrísticos”. Humberto Maturana (1993) em Conversações matrísticas e patriarcais.
(7) “Em geral, aprendemos pelo estudo, por meio de livros, pela experiência, ou mediante instrução ministrada por outro. São essas as maneiras comuns de aprender. Aprendemos de memória o que devemos fazer e o que não devemos fazer, o que devemos pensar e o que não devemos pensar, como devemos sentir, como devemos reagir. Pela experiência, pelo estudo, pela análise, pelo sondar, pelo exame introspectivo, armazenamos conhecimentos na forma de memória e, depois, a memória “responde” a ulteriores “desafios” e exigências, do que resultam conhecimentos e mais conhecimentos. Tal processo nos é bastante familiar, pois é nossa única maneira de aprender. Se não sei pilotar um avião, aprendo a fazê-lo. Recebo a necessária instrução, vou adquirindo experiência, que fica retida na memória, e, por fim, posso voar. É esse o único processo de aprender familiar à maioria de nós. Aprendemos pelo estudo, pela experiência, pela instrução. O que se aprende é confiado à memória, na forma de conhecimento, e esse conhecimento funciona sempre que se apresenta um “desafio” ou todas as vezes que temos de fazer alguma coisa. Ora, eu penso que há uma maneira de aprender completamente diferente, e sobre esse assunto vou dizer algumas palavras; mas, para poderdes compreender essa maneira e por ela aprender, deveis estar totalmente livres da autoridade, porque, do contrário, estareis apenas sendo instruídos e ireis apenas repetir o que ouvistes dizer. Eis porque tanto importa compreender a natureza da autoridade. A autoridade é um empecilho ao aprender – ao aprender que não é acumulação de conhecimentos na forma de memória. A memória reage sempre por padrões; nenhuma liberdade existe. O homem que está carregado de conhecimentos, de instrução, que está curvado sob o peso das coisas que aprendeu, nunca é livre. Poderá ser um homem altamente erudito, mas sua acumulação de conhecimentos o impede de ser livre, e, por conseguinte ele é incapaz de aprender”. Jiddu Krishnamurti (1964) em A mente sem medo.
AUTORES CITADOS NA APRESENTAÇÃO
BARROS, Manoel (1986). Livro sobre Nada in Poesia Completa. São Paulo: Leya, 2010.
CAMPBELL, Joseph (1959). As máscaras de Deus – Mitologia primitiva. São Paulo: Palas Athena, 1992. CASTANEDA, Carlos (1972). Viagem à Ixtlan. Rio de Janeiro: Record, 1972.
CONDORCET, Marquês de (1792). Relatório de projeto de decreto sobre a organização geral da instrução pública in Hippeau: A Instrução Pública na França durante a Revolução. Disponível no link: http://goo.gl/RVpyEO
FOUCAULT, Michel (1975). Os recursos para o bom adestramento in Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1999.
HOLT, John (1989). Aprendendo o tempo todo. Campinas: Versus, 2006.
ILLICH, Ivan (1970). Sociedade sem escolas. Petrópolis: Vozes, 1985.
KRAMER, Samuel Noah (1956). A história começa na Suméria. Lisboa: Europa-América, 1997.
KRISHNAMURTI, Jiddu (1964). A mente sem medo. São Paulo: Cultrix, s/d.
MATURANA, Humberto (1982). Aprendizaje o deriva ontogénica. Disponível no link: http://goo.gl/ehFPcz
MATURANA, Humberto (1993). Conversações matrísticas e patriarcais in Amar e Brincar: fundamentos esquecidos do humano (com Gerda Verden-Zoeller). São Paulo: Palas Athena, 2009.
NIETZSCHE, Friedrich (1888). Os “melhoradores” da humanidade, Parte 2 e O que falta aos alemães, Parte 5 in O crepúsculo dos ídolos, ou Como filosofar com o martelo. Disponível no link: http://goo.gl/RXudb3
ROGERS, Carl (1952). Reflexões pessoais sobre ensinar e aprender in Tornar-se pessoa (1961), Capítulo XI. São Paulo: Martins Fontes, 1976.
ROGERS, Carl (1980). Para além do divisor de águas: onde agora? in Um jeito de ser. São Paulo: EPU, 1987.
SHELDRAKE, Rupert (1992). Triálogos nas fronteiras do Ocidente (com Ralph Abraham e Terence McKenna). São Paulo: Cultrix, 1994.
TOLSTOI, Leon (1862). Da Instrução Popular in Obras Pedagógicas. Moscou: Edições Progresso, 1988.
UMA VISÃO INTERATIVISTA DA APRENDIZAGEM
Eis, no seu estado atual, os contornos de uma visão interativista da aprendizagem.
As considerações seguintes são apenas apontamentos para a formulação de uma teoria interativista da aprendizagem humana, que ainda não foi completamente construída em razão da incipiência de nossos conhecimentos atuais sobre a fenomenologia da interação social. Ou seja, sustenta-se aqui que ainda não temos condições de formular uma teoria da aprendizagem (tipicamente) humana e por que tal teoria seria necessariamente uma teoria interativista social. O que se lerá nesta parte, portanto, deve ser tomado mais como um exercício heurístico do que teorético.
Por incrível que possa parecer, a reflexão mais avançada sobre o tema ainda é a de Maturana, que começou em 1971, juntamente com seu aluno e depois parceiro Francisco Varela, com o desenvolvimento do conceito de autopoiese e praticamente terminou na década de 80 do século passado, com o artigo seminal Aprendizagem ou deriva ontogênica (1982) e com outros textos menos importantes, como a primeira parte do livro Emoções e linguagem na educação e na política (1988). A hipótese central dessas reflexões sobre uma concepção interativista da aprendizagem é a do acoplamento estrutural (1).
É certo que George Siemens e Stephen Downes, começaram, a partir do início do presente século, a tentar formular uma concepção conectivista da aprendizagem mais condizente com o que chamam de “era digital” (que, desgraçadamente, tomam pela sociedade-em-rede). Esse tem sido um esforço importante que, entretanto, não pode ajudar muito no desenvolvimento de uma teoria interativista da aprendizagem e de uma teoria da aprendizagem humana (que é social e não digital) (2).
É necessário, pois, partir da ideia fundamental de acoplamento estrutural, até agora a única vertente explicativa não-cognitivista seriamente formulada para a aprendizagem.
ACOPLAMENTO ESTRUTURAL
A aprendizagem não tem propósito
Maturana afirma que “há aprendizagem quando a conduta de um organismo varia durante sua ontogenia (história) de maneira congruente com as variações do meio e o faz seguindo um curso contingente a suas interações nele“. Ele admite que, “embora o fenômeno designado pelo termo aprendizagem possa ser descrito de muitas maneiras diferentes, como quando se fala da “geração de uma conduta adequada ao meio a partir de uma experiência prévia”, ou ainda da “aquisição de uma nova habilidade como resultado da prática”, de acordo com o que o observador queira enfatizar, parece-me que a caracterização que proponho acima é necessária e suficiente para abranger todos os casos possíveis” (3).
A partir daí, Maturana vai distinguir “duas perspectivas básicas para lidar com o fenômeno da aprendizagem, se quisermos explicá-lo:
Segundo uma perspectiva, o observador vê que o meio está lá, do lado de fora, como o mundo em que o organismo tem que existir e atuar, e que lhe proporciona a informação, os dados, os significados de que necessita para fazer uma representação do mesmo, e assim calcular o comportamento adequado que lhe permitirá sobreviver nele. De acordo com esta visão a aprendizagem é o processo pelo qual o organismo obtém informação do meio e constrói dele uma representação que armazena em sua memória e utiliza para gerar seu comportamento em resposta às perturbações que dele provêm. A partir deste ponto de vista, a recordação consiste em encontrar na memória a representação requerida para calcular as respostas adequadas às interações recorrentes do meio.
Nesta perspectiva o meio é instrutivo, pois especifica no organismo mudanças de estado que, por serem congruentes com ele, constituirão uma representação.
Segundo a outra perspectiva, o observador vê que o comportamento de um organismo (incluindo seu sistema nervoso) está determinado a cada instante por sua estrutura, e que só pode ser adequado ao meio se esta estrutura é congruente com a estrutura do meio e sua dinâmica de mudanças. De acordo com esta visão a aprendizagem é o próprio curso da mudança estrutural que segue o organismo (incluindo seu sistema nervoso) em congruência com as mudanças estruturais do meio, como resultado da recíproca seleção estrutural que se produz entre aquele e este durante a recorrência de suas interações, com conservação de suas respectivas identidades. Segundo esta visão o organismo não constrói uma representação do meio e nem calcula um comportamento adequado a ele. Desta perspectiva, para o organismo, em seu operar, não há meio, não há recordação nem memória, mas somente uma dança estrutural no presente que segue um curso congruente com a dança estrutural do meio, ou se desintegra.
Nesta perspectiva o comportamento do organismo permanece adequado apenas se este conserva sua adaptação durante suas interações, e o que um observador vê como recordação consiste precisamente nisso, na aparição de comportamentos que ele vê como adequados porque o organismo conserva sua adaptação frente a perturbações do meio que ele vê como recorrentes. Segundo esta visão não há interações instrutivas. O meio apenas seleciona as mudanças estruturais do organismo, e não as especifica” (4).
E ele então escolhe a perspectiva que vai adotar:
“Na medida em que o organismo (incluindo o sistema nervoso) é um sistema determinado estruturalmente, a perspectiva informacionista, que requer interações instrutivas porque exige que o meio especifique no organismo (e seu sistema nervoso) as mudanças que lhe permitem criar uma representação dele, deve ser abandonada. Em outras palavras, considero que a perspectiva informacionista é constitutivamente inadequada se o que se quer é tratar dos seres vivos como sistemas determinados estruturalmente. A outra perspectiva, no entanto, não requer interações instrutivas e é compatível com um tratamento do organismo e do sistema nervoso como sistemas determinados estruturalmente. Esta, portanto, será a perspectiva que vou adotar” (5).
E reafirma para esclarecer:
“Correntemente se pensa que o aprender envolve uma certa intencionalidade, um certo propósito. Isso porque, em geral, se pensa que o que é central em todo comportamento são suas consequências. Isto é um erro. O propósito que vemos nos comportamentos não pertence a eles, mas à descrição ou ao comentário do observador. Tal descrição é boa na conversação, mas é enganadora no domínio conceitual. A aprendizagem não tem propósito, é uma consequência da mudança estrutural dos seres vivos sob condições de sobrevivência com conservação da organização e da estrutura. Não há representação do meio, não há ação sobre o meio, não há memória, não há passado nem futuro, somente o presente. Porém, porque há aprendizagem há linguagem e descrições nas quais o passado e o futuro surgem… e podemos equivocar-nos sobre a aprendizagem” (6).
Apenas a transcrição acima é suficiente para mostrar – como já foi afirmado – que ninguém se aproximou tanto de uma visão interativista, pode-se dizer, não informacionista (ou, nos nossos termos, não cognitivista) do que Maturana.
O objetivo das considerações seguintes é mostrar que a visão de Maturana é fundamental para uma teoria interativista da aprendizagem dos seres vivos, mas ela não pode dar respostas para a aprendizagem tipicamente humana. Mesmo com o conceito ampliado de biologia de Maturana, não se pode derivar da biologia, ou melhor, do modo como a biologia explica como os seres vivos aprendem, todo o arcabouço explicativo para a aprendizagem humana (e deve-se dizer que nem Humberto Maturana e nem seu aluno e depois parceiro Francisco Varela pretenderam isso). A investigação sobre como o sistema nervoso aprende (ou sobre os fenômenos que são observáveis ou inferíveis no sistema nervoso durante o processo que chamamos de aprendizagem) pode, por certo, lançar muita luz sobre o fenômeno da aprendizagem dos seres vivos em geral, mas não é suficiente para explicar a aprendizagem tipicamente humana, que é social, não biológica.
Por certo Maturana não queria derivar o social do biológico e nem mesmo captar fenômenos mais gerais que explicassem tanto o comportamento dos seres vivos (organismos, partes de organismos e ecossistemas) quanto de seres sociais (pessoas ou redes de pessoas). A seu favor podemos dizer que seus procedimentos não podem ser acusados de deslizamento epistemológico. Mas mesmo que não o sejam, também não podem revelar características comuns ao que é vivo e ao que é social, a menos que: a) se baseassem numa investigação da fenomenologia da interação em seres vivos e em seres sociais (quer dizer, em pessoas ou redes humanas); b) levassem em conta uma outra ordem de fenômenos que só acontecem em redes sociais. Mas nenhum desses dois requisitos foi atendido.
A autopoiese, o conceito central de Maturana e Varela (1971), não pode ser útil, a não ser como inspiração para a formulação de uma teoria da aprendizagem humana. Varela (1992) afirmou que “uma extensão da autopoiese em níveis “superiores” não é frutífera e deve ser deixada de lado“, mas um ano antes havia chegado a admitir que seria claramente frutífero “vincular a autopoiese com uma opção epistemológica, além da vida celular ao operar do sistema nervoso e os fundamentos da comunicação humana” (7). Parece que sim no que tange a organismos multicelulares, mas não à comunicação humana (um fenômeno – ou melhor, o fundamento do – social).
A autopoiese caracteriza a vida, mas não completamente a sociedade a não ser num sentido metafórico ou metonímico (8). A rigor o conceito original (que Maturana chama de autopoiese de primeira ordem) não pode ser aplicado nem mesmo a um organismo multicelular (como um animal). Quanto mais à uma sociedade. A sociedade não é uma coleção de seres vivos (no caso, dos seres vivos do domínio eukaryota, do reino animalia, do phylum chordata e vertebrata, da classe mammalia e eutheria, da ordem dos primatas e haplorrhini, da família hominidae e homininae, do gênero homo e da espécie homo sapiens). O que vale para cada indivíduo da espécie homo sapiens não vale necessariamente para o que ocorre entre os homo sapiens (quando eles se tornam pessoas). Os homo sapiens só se tornam pessoas quando acontece algo entre eles. Neste caso, talvez precisássemos de um novo conceito como o de alterpoiese e não apenas de autopoiese.
ALTERPOIESE
A sociedade é uma outra criação
A alterpoiese aqui aventada não é um conceito substitutivo, complementar ou suplementar ao de autopoiese. Pode ser tomado (embora, talvez, não venha a se tornar apenas isto, dependendo do curso das atuais investigações) como uma metáfora para dizer, no caso, que a sociedade é uma outra criação. E é uma criação peculiar porque não está determinada pela sua origem (e não é totalmente dependente da sua trajetória) (9).
Ainda que a interação social siga regularidades (ou leis) que podem ser observadas em qualquer interação (notadamente na interação de seres self-propelled), há uma margem de aleatoriedade (ou de não-determinação) incomparavelmente maior (ou, talvez dizendo melhor, de outra natureza) na interação social (quer dizer, de humanos propriamente ditos ou pessoas) do que na interação que ocorre em organismos e partes de organismos biológicos e ecossistemas naturais.
Não é que não haja organismos sociais (num sentido ampliado do termo organismo). Mas que os organismos sociais são de outra natureza (e é neste sentido que se pode afirmar que o social é uma outra criação). Seres humanos propriamente ditos, quer dizer, pessoas, são gerados na entreidade e não determinados por sua organização ou por sua estrutura (interna) como indivíduos. Do contrário não haveria lugar para a liberdade. Ora, parodiando Tolstoi, a liberdade é o único fundamento da aprendizagem tipicamente humana.
Mas a liberdade depende do modo como os seres humanos interagem. Por exemplo, se eles se isolam e não se associam não pode haver liberdade. Se eles não se associam para contender com um problema ou para realizar um projeto comum nascido dos seus desejos semelhantes ou congruentes, não pode haver liberdade. E se eles não criam novas realidades sociais a partir de tudo isso, não pode haver liberdade. Quando fazem tudo isso, porém, os seres humanos não o fazem porque é necessário e sim, frequentemente, porque é desnecessário. O social é um campo que se cria a si mesmo a partir da interação fortuita, a rigor desnecessária. Toda aprendizagem tipicamente humana é social, não biológica. E é desnecessária porque é uma invenção: uma criação coletiva, o advento de algo que não estava no horizonte concebido de eventos. Isto é alterpoiese: a criação-entre, a criação de novas entreidades, vale dizer, de novas realidades sociais.
O interativismo como teoria da aprendizagem humana tem por base uma visão social da aprendizagem. Segundo essa visão, não é suficiente – para entender a aprendizagem tipicamente humana – tentar explicar como um indivíduo da espécie homo sapiens aprende descrevendo os fenômenos que acontecem no seu sistema nervoso (ou no seu sistema imunológico, uma investigação que, aliás, Varela tentou levar mais adiante). É preciso explicar como pessoas aprendem descrevendo os fenômenos que ocorrem nos emaranhados (sociais) onde as pessoas estão – e são! Por isso, enquanto não investigarmos com profundidade a fenomenologia da interação social não poderemos construir uma teoria da aprendizagem humana. Os fenômenos que ocorrem na interação entre pessoas não são completamente inferíveis dos fenômenos que ocorrem no nível molecular ou celular ou de partes do organismo de um ser vivo, como um animal (mesmo que este animal seja o homo sapiens).
Tudo isso é para dizer, em primeiro lugar, que não se pode acusar Maturana, nem Varela, de tentarem reduzir o social ao biológico. Em segundo lugar, que sua investigação biológica forneceu elementos fundamentais para a concepção de uma visão interativista. E, em terceiro lugar, que a visão interativista da aprendizagem baseada em suas investigações não pode, sozinha, dar base para a formulação de uma teoria interavista da aprendizagem humana.
Sobre esse terceiro ponto, porém, cabe fazer mais algumas considerações.
Assim como um ser humano (definido como um indivíduo da espécie homo sapiens) não é um agregado de células, um sistema social também não é um agregado de organismos. Mas há, ademais, uma diferença fundamental entre o que é vivo e o que é social. O ser propriamente humano não é (apenas) vivo, é (também) social. O ser vivo do humano, como reconheceu o próprio Maturana, não consuma o humano: é necessário mas não suficiente para o humano, pois é (apenas) humanizável. A humanização do humano-biológico (do portador do genoma humano) só acontece na interação humano-social (segundo Maturana, por meio do linguajear e do conversar). Mas não é que existam, primeiro, os humanos para, depois, quando os humanos interagirem entre si, surgir o social. É quando o social surge, que surgem os humanos propriamente ditos, quer dizer, as pessoas.
O fato de sistemas sociais serem compostos por seres humanos não significa que se possa derivar das características do ser biológico humanizável as características do ser social que chamamos de ser humano (o ser humanizado pela interação social).
Mesmo que a investigação da fenomenologia da interação avance a ponto de revelar características gerais que tanto se apliquem a seres biológicos complexos (como o animal humano) quanto a seres sociais complexos (como o humano propriamente dito ou a pessoa), mesmo assim faltará investigar o que é próprio da fenomenologia da interação social. Claro que existem leis gerais da interação que valem para ambos (seres vivos e seres sociais) e que inclusive valem para seres não vivos (de vírus à nuvens de nanopartículas e, em especial, para uma variedade de máquinas self-propelled capazes de interagir, como nanoquadrotors e. g.). A interação social, todavia, tem características que não são encontradas na interação do vivo e do não-vivo capaz de mudar de comportamento em função da interação.
A construção (social) da pessoa não pode ser reduzida a uma espécie de epigênese. Estamos tratando de uma nova entidade que é produzida por uma outra ordem de fenômenos que são próprios da interação social. A pessoa como nova entidade é um emaranhado social aberto que se constrói ao longo de uma história fenotípica e que não mantém necessariamente, para usar uma metáfora biológica, invariâncias na sequência do DNA do organismo (como no caso da epigênese).
Devemos reconhecer honestamente que nossos conhecimentos são insuficientes para saber como se dá o surgimento dessa nova entidade, mas já sabemos que a liberdade é um desses “fenômenos” que promovem a pessoa à condição de entidade sem comparação no mundo vivo (ou não-reduzível aos processos que caracterizam o que é vivo). Liberdade, entretanto, não é uma condição do indivíduo livre de toda coerção. A liberdade depende de relações comunicativas, quer dizer, da interação: como já foi dito, só se pode atingir autonomia pessoal em associação com outros. Isso significa que só se alcança a liberdade quando se atua em rede (e na medida em que essa rede for mais distribuída do que centralizada). Como atributo do modo como os seres humanos se organizam, liberdade só se define, portanto, na entreidade. Mas a liberdade é a capacidade de alterar a continuidade da trajetória passada (ou de interromper a reprodução inercial de passado abrindo caminhos inéditos para o futuro). Não é apenas uma condição de vulnerabilidade à mudança aleatória mantendo-se fiel à organização que define a identidade de uma entidade, mas a capacidade de criar, inclusive, outras identidades.
Por isso, só no mundo social pode haver liberdade. Não pode haver liberdade no mundo vivo. A liberdade é o que permite aos seres humanos serem infiéis à sua origem, ao seu genos (social), coisa que não pode acontecer no mundo vivo sob pena de desconstituição da identidade que caracteriza sua organização (quer dizer, a própria vida).
A liberdade é sempre a liberdade de desobedecer a lei, mas não apenas às normas culturais, jurídicas e políticas. É a liberdade de desobedecer a qualquer lei e não estar regido por qualquer lei (mesmo física ou biológica), criando novas realidades sociais que não podem estar mais submetidas à disposições pregressas (ou estabelecidas ex ante à interação). Então, quando se diz que os seres humanos não podem alcançar autonomia pessoal sem se associar a outros seres humanos, é necessário acrescentar que eles só alcançam de fato tal autonomia quando, na sua interação, criam novas realidades sociais. Portanto a liberdade, stricto sensu, é sempre a liberdade de criar novos mundos sociais.
Autonomia pessoal é criação-entre (esta é a definição nua e crua de alterpoiese). A liberdade é, portanto, a liberdade de criar o que não existe, vale dizer, o que não está determinado por qualquer ordem já estabelecida. O processo criativo cria novos mundos sociais (este é o sentido da liberdade, pois velhos mundos estão sob disposições já existentes que tendem a conservar padrões de organização e modos de regulação aderentes a determinados padrões de organização e vice-versa). Mas novos mundos sociais são, do ponto de vista da aprendizagem, novas pessoalidades.
UMA VISÃO SOCIAL DA APRENDIZAGEM
Assim como a vida imita a vida, a pessoa imita o social
Pessoalidade é uma dimensão social que define o humano propriamente dito. A pessoa não é o indivíduo de uma espécie. A pessoa não nasce. A pessoa não morre. A pessoa é um clone de uma configuração social. O que chamamos de pessoalização é o processo social de geração da pessoa.
Quando vida humana e convivência social se aproximam – e isso pode ser notado mais facilmente com o aumento da interatividade – revelam-se os “tanques” onde somos gerados como seres propriamente humanos. Esses “tanques” onde somos clonados como pessoas são clusters, “regiões” da rede social a que estamos mais imediatamente conectados. Deve-se entender a palavra clone no sentido da fenomenologia da interação chamada cloning. As pessoas não são clones (no sentido de cópias) de indivíduos, e sim no sentido de que assim como a vida imita a vida (o sentido original do termo klon – do grego κλώνος – usado para designar “broto” ou “rebento”) a pessoa imita o social. Trata-se de um clone de uma configuração de pessoas. “Toda pessoa – dizia Novalis (1798) – é uma pequena sociedade“; quer dizer, pessoa já é rede! Pessoal é um ente que replica uma configuração social.
Em um mundo fracamente conectado, os caminhos são individuais. Cada pessoa vive sua vida, faz suas escolhas, estabelece suas rotinas e toma suas iniciativas sob a influência das demais, é claro, mas como se fosse uma unidade separada. Convive, por certo, com as demais, mas essa convivência é vivida como distinta daquela outra vida, que seria a sua própria vida. Pode viver a ilusão de que vive sua vida, fazendo suas escolhas, estabelecendo suas rotinas e tomando suas iniciativas de modo autônomo. Pode alimentar a crença de que já surgiu no mundo como pessoa, quer em virtude de uma instância super-humana que assim a tenha criado, quer por força da genética (o “sangue”) e das experiências particulares pelas quais passou logo após seu nascimento (o “berço”).
Em mundos altamente conectados tende a se esvair essa separação entre vida humana e convivência social. Nossas escolhas racionais raramente são (só) nossas: reproduzimos padrões, imitamos comportamentos e cooperamos com outras pessoas sem ter feito individualmente e conscientemente tais escolhas. Adotamos princípios, escolhemos carreiras, compramos produtos e priorizamos atividades em função do que fazem as pessoas que se relacionam conosco ou que estão ligadas a nós em algum grau próximo de separação, muitas vezes pessoas que nem conhecemos (como os amigos dos amigos de nossos amigos).
Vivemos então, cada vez mais, a vida do nosso mundo constituído pela convivência e não apenas a nossa vida individual. Isso ocorre na razão direta da interatividade do mundo em que estamos imersos. O fluxo da nossa timeline (no espaço-tempo dos fluxos) pode chegar a atingir tal intensidade ou densidade que, no limite, não podemos mais afirmar inequivocamente que há um eu que deseja, julga, raciocina, escolhe e almeja de forma autônoma em relação à nuvem de conexões que nos envolve. Ao mesmo tempo, sentimos e sabemos que continuamos sendo uma pessoa, única, totalmente diferenciada. Mas ao viver a nossa vida (a vida humana única dessa pessoa que somos), vivemos, na verdade, a convivência (social, também única, desse mundo construído pelo emaranhado de conexões onde estamos fluindo e que nos constitui como seres propriamente humanos).
O social passa a ser o modo de ser humano nas redes com alta tramatura dos novos mundos de interatividade elevada. Em outras palavras, passamos a constituir um organismo humano “maior” do que nós. Passamos a compartilhar muitas vidas, com tudo o que isso compreende: memórias, sonhos, reflexões de multidões de pessoas, que ficam distribuídas por todo esse superorganismo humano (e é desse ponto de vista que faz sentido a hipótese de que existe algo como um simbionte social se prefigurando). Podemos ter acesso imediato a um conjunto enorme de informações e, muito mais do que isso, podemos gerar conhecimentos novos com uma velocidade espantosa e com uma inteligência tipicamente humana (não de máquinas, computadores ou alienígenas), porém assustadoramente diferente daquela que experimentamos quando não vivemos a nossa convivência.
Os “tanques” onde somos gerados como seres propriamente humanos são os clusters onde convivemos com outras pessoas (seres que já foram humanizados pelo mesmo processo) a partir do nascimento. De sorte que não somos humanos apenas por força da genética, da reprodução ou da hereditariedade biológica (que replicamos como indivíduos da espécie homo sapiens) e sim em virtude da rede social em que com-vivemos, cuja configuração particular replicamos como pessoas. Aquele que é geneticamente humanizável só consuma tal condição a partir do relacionamento com seres humanizados. Somos (enquanto seres sociais) filhos da rede social. E não podemos ser humanos sem esse tipo de relacionamento. Como – diz-se – reza uma máxima Zulu, “uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas”.
A rigor, como uma configuração de pessoas está sempre ligada a outras configurações, todas as pessoas estão de algum modo emaranhadas (entangled) no espaço-tempo dos fluxos (quem sabe não era isso que chamávamos de humanidade, uma prefiguração). Assim, no limite, todas as pessoas são feitas de todas as outras pessoas.
Nessas condições, a identidade da pessoa não é a manutenção de uma condição pregressa e sim uma trajetória particular de mudanças. Nenhuma pessoa é igual à outra, cada pessoa é unique na medida em que não há duas trajetórias iguais.
ALOSTASE SOCIAL
Aprender (humanamente) é despertar o ente criativo que existe no clone social chamado pessoa
Por isso se diz que uma teoria interativista da aprendizagem humana não se baseia em uma teoria do conhecimento e sim numa teoria da alostase social. Mas alostase social não é autopoiese e sim alterpoiese. Seu único fundamento é a liberdade: a livre-aprendizagem (como ocorre, para citar alguns exemplos, na busca-com-polinização, na co-investigação e na cocriação, quando pessoas se associam livremente para resolver um problema que as desafia ou para desenvolver um projeto comum que parte de seus desejos).
Deslindar aprendizagem de conhecimento é uma aventura inusitada, uma operação arriscada que quase ninguém teve a ousadia de fazer (no campo da chamada pedagogia ninguém o fez completamente até agora). A não ser alguns livre-pensadores, como Jiddu Krishnamurti (1972), que tiveram a liberdade suficiente para afirmar que “aprender é um movimento não ancorado no conhecimento. Se está ancorado, não é um movimento. A máquina, o computador, estão ancorados. Esta é a diferença básica entre o homem e a máquina. Aprender é estar vigilante, ver. Se você vê com base no conhecimento acumulado, então o ver é limitado e não há coisa nova no ver… Nossa educação é a obtenção de um volume de conhecimentos, e o computador faz isso mais rápido e mais acuradamente. Que necessidade há de tal educação? As máquinas irão encarregar-se da maioria das atividades do homem. Quando você diz, como as pessoas dizem, que aprender é a obtenção de um certo volume de conhecimento, nesse caso, você está negando – não está? – o movimento da vida, que é relacionamento e comportamento” (10).
Por enquanto podemos afirmar, entretanto, que (no que concerne à aprendizagem tipicamente humana) a resposta genérica para a pergunta fundamental – Quem aprende? – já está dada: definitivamente, quem aprende é a pessoa. À pergunta seguinte – O que acontece quando a aprendizagem acontece? – também pode ser dada assim: a pessoa se modifica. Isto é alostase social.
Não é que ela adquire mais algum conteúdo, ficando mais “gorda” de conhecimentos. É que ela deixa de ser aquela pessoa que era e passa a ser, rigorosamente falando, outra pessoa: ela se move ao longo da trajetória de adaptações que a constitui e constrói enquanto a percorre com liberdade (ou seja, escolhendo e criando seu próprio caminho de interação com o outro).
Interagir livremente, se deixar alterar-pelo-outro e com-o-outro, já é antecipação do metabolismo de um simbionte social. A aprendizagem (tipicamente humana) desse ponto de vista, é algo muito diferente do que imaginávamos.
Toda aprendizagem tipicamente humana é social. Aprender (humanamente) é despertar o ente criativo que existe no clone social chamado pessoa. Não é bem se adaptar responsivamente – como que por reflexo – à mudanças do mundo, mas se criar a cada instante recriando os mundos dos outros espelhados em nós, de sorte que cada qual possa dizer, como diria Leminski: “vejo as coisas como somos“.
Agora então começa.
A APRENDIZAGEM TIPICAMENTE HUMANA
Toda aprendizagem tipicamente humana é livre-aprendizagem
Os requisitos para a elaboração de uma teoria da aprendizagem humana podem ser classificados em duas categorias: a) requisitos para uma teoria interativista da aprendizagem; e b) requisitos para uma teoria interativista da aprendizagem humana. No que tange à primeira categoria – requisitos para uma teoria interativista da aprendizagem – já temos a enorme contribuição de Maturana (e Varela) que pode ser resumida nas ideias de autopoiese e acoplamento estrutural e, sobretudo, na visão não-informacionista (ou não cognitivista) que se revela na constatação fundamental de que as interações não são instrutivas.
Mas falta uma parte, que eles não exploraram (e, a rigor, não poderiam mesmo fazê-lo, pois o problema não estava colocado quando escreveram suas contribuições). A parte que falta pode ser preenchida, mas também apenas em parte, pelas contribuições de Siemens e Downes com o conectivismo, em especial com as ideias de que a aprendizagem acontece quando o sujeito é capaz de reconhecer e interpretar padrões que estão distribuídos na rede; que esse processo (de aprendizagem) é influenciado pela diversidade das redes, pela força dos vínculos (ou laços) e pelo contexto em que ocorre; que o papel da memória é adaptativo; que a transferência (de conteúdo) ocorre pela conexão (adição) de nodos que faz crescer a rede social, conceitual e biológica dos aprendentes; e, finalmente, que tudo isso seria capaz de explicar o aprendizado complexo, a rápida mudança de core verificada no processo e a diversidade (com a ampliação incalculável) das fontes de conhecimento.
É claro que tudo isso deve ser corrigido pela constatação de que a conexão (que é apenas um dos elementos da interação ou uma maneira de olhá-la) não é um canal ou um tubo para a informação trafegar ou para um conhecimento ser transferido de um emissor a um receptor ou mesmo trocado ou compartilhado como se fosse um conteúdo já dado ex ante à interação. Ademais, o conectivismo é somente uma porta de entrada para o interativismo (e se levarmos em conta a interação – e não apenas a conexão stricto sensu -, teremos que reconhecer que ela não é instrutiva: há interação quando os interagentes se modificam, ou seja, modificam-seu-comportamento-no-relacionamento e não quando recebem uma mensagem ou adquirem alguma informação ou conteúdo). Ao contrário do que acredita boa parte dos biólogos, a chave para o fato de os humanos serem únicos (no sentido de tão diferentes dos outros seres vivos, em especial dos outros primatas) não está na maneira como conseguimos organizar, transferir e adquirir informações.
Feito o reparo, entretanto, ficaria ainda faltando uma parte e essa parte que falta, para uma teoria interativista da aprendizagem, diz respeito à fenomenologia da interação. Essa parte não pode ser preenchida pelas contribuições de Maturana e Varela ou de Siemens e Downes, mas somente pela aplicação das descobertas da nova ciência das redes ao fenômeno geral da aprendizagem (embora não ainda da aprendizagem tipicamente humana).
Muitas perguntas precisam ser respondidas. Qual o papel do cloning na aprendizagem? Como se conforma o sujeito da aprendizagem (e quem aprende?) e qual o papel do clustering nesse processo? Qual a relação entre a aprendizagem e a chamada inteligência coletiva (ou swarm-intelligence) e que papel cumpre o swarming na emergência do aprendedor ou aprendente coletivo? Quais são as consequências do crunching (redução da extensão característica de caminho ou queda dos graus de separação) no processo de aprendizagem? Como a reverberação, a formação irruptiva de múltiplos laços de retroalimentação de reforço (feedbacks positivos em cascata) e os loopings (que geram armadilhas de fluxos, repetindo passado) interferem em cada caso e em todos os casos? Enquanto não formos capazes de responder essas perguntas – e, na verdade, ainda não o somos – não há como formular integralmente uma teoria interativista da aprendizagem. Mas mesmo que conseguíssemos todas as respostas para as perguntas acima, ainda estaríamos longe de uma teoria interativista da aprendizagem humana. Saberíamos mais um pouco sobre como organismos e aglomerados ou nuvens de organismos (e até como seres não-vivos capazes de interagir) aprendem, mas não como sociedades aprendem, quer dizer, como pessoas aprendem.
No que tange à segunda categoria – requisitos para uma teoria interativista da aprendizagem humana – só temos pistas por enquanto.
A primeira pista é que é uma teoria da aprendizagem humana é uma teoria interativista.
A segunda pista é que uma teoria da aprendizagem humana é uma teoria interativista social.
A terceira pista é que nem tudo que vale para uma teoria interativista da aprendizagem geral vale para uma teoria interativista da aprendizagem tipicamente humana.
Para uma teoria interativista da aprendizagem tipicamente humana as ideias centrais, como vimos, são a alostase social e a alterpoiese. Mas essas ideias são metáforas úteis do ponto de vista heurístico, não conceitos integrantes de um corpo teórico coerente. Ainda são noções vagas demais para compor uma explicação científica.
O QUE NOSSA INVESTIGAÇÃO SOBRE APRENDIZAGEM TEM REVELADO
Para ficar com o que já temos, entretanto, podemos elencar alguns pontos fundamentais sobre o que nossa investigação sobre aprendizagem tem revelado.
A aprendizagem é um processo interativo. Somente redes podem aprender. A aprendizagem ocorre em seres vivos (organismos, partes de organismos e ecossistemas) e em redes de seres vivos (conjuntos de seres vivos em interação), em redes de seres não-vivos (capazes de interagir) e em seres sociais (pessoas ou redes de pessoas). O animal humano (o indivíduo da espécie homo sapiens) pode aprender por meio de processos que são comuns aos seres vivos. Esses processos são interativos (não-instrutivos). Os seres humanos podem aprender por meio de processos que não são comuns aos seres vivos, mas que ocorrem apenas entre humanos: esta é a aprendizagem tipicamente humana. Na aprendizagem tipicamente humana quem aprende é a pessoa. Quando aprende, a pessoa se modifica. A pessoa se modifica quando muda de comportamento no relacionamento com outras pessoas (alostase social). Quando a pessoa se modifica, modificam-se necessariamente a topologia e a dinâmica do emaranhado (a rede) onde ela está e é (quer dizer, existe como pessoa). Quando a pessoa se modifica, criam-se novos mundos sociais (novos emaranhados, novas redes). Toda aprendizagem tipicamente humana é criativa, não reprodutiva. O único fundamento da aprendizagem tipicamente humana é a liberdade (que depende da livre-interação entre pessoas). Toda aprendizagem tipicamente humana é livre-aprendizagem. A livre-aprendizagem é criativa: é uma criação-entre (alterpoiese).
Das sentenças acima pode-se inferir (pulando talvez algumas passagens) que a livre-aprendizagem (a aprendizagem tipicamente humana) acontece quando pessoas aprendem na sua livre-interação; ou seja, quando seus caminhos não são bloqueados, restringidos ou pré-determinados ou quando não são forçadas a aprender (11). E também quando aprender não é necessário para alcançar algum objetivo já prefigurado.
É o que sabemos até agora. Mas a investigação continua.
NOTAS E REFERÊNCIAS
(1) Maturana (1992) resume a ideia de autopoiese da seguinte maneira. “Um ser vivo não é um conjunto de moléculas, mas uma dinâmica molecular, um processo que acontece como unidade separada e singular como resultado do operar e no operar, das diferentes classes de moléculas que a compõem, em um interjogo de interações e relações de proximidade que o especificam e realizam como uma rede fechada de câmbios e sínteses moleculares que produzem as mesmas classes de moléculas que a constituem, configurando uma dinâmica que ao mesmo tempo especifica em cada instante seus limites e extensão. É a esta rede de produção de componentes, que resulta fechada sobre si mesma, porque os componentes que produz a constituem ao gerar as próprias dinâmicas de produções que a produziu e ao determinar sua extensão como um ente circunscrito, através do qual existe um contínuo fluxo de elementos que se fazem e deixam de ser componentes segundo participam ou deixam de participar nessa rede, o que neste livro denominamos autopoiese”. MATURANA, Humberto (1992). Vinte Anos Depois (Prefácio de Humberto Maturana Romesin à segunda edição). In MATURANA, Humberto e VARELA, Francisco (1992). De máquinas e seres vivos. Autopoiese: a organização do vivo. Artes Médicas: Porto Alegre, 1997.
(2) O conectivismo – de George Siemens e Stephen Downes – tenta dar uma resposta para a questão da aprendizagem a partir da realidade emergente de uma sociedade em rede, sobretudo a partir da disponibilidade de novas mídias sociais. Confunde um pouco a rede (as pessoas interagindo, o padrão social de interação mais distribuído do que centralizado) com as ferramentas tecnológicas (a “tecnosfera”) que ampliam e aceleram a conectividade e a interatividade; ou, às vezes, tomam as redes como “redes de conhecimento” (como se pudesse existir uma rede social que não fosse rede de conhecimento ou como se o conteúdo que “trafega” pelas conexões fosse de algum modo relevante para descrever o comportamento da rede, quer dizer, do emaranhado de conexões). É uma visão mais impactada pelo surgimento da Internet do que informada pela nova fenomenologia da interação social que vem sendo descoberta no presente século pela nova ciência das redes. Ao fim e ao cabo o chamado conectivismo é mais um cognitivismo. Todavia, pode fornecer algumas pistas para chegarmos a uma visão da aprendizagem mais coerente com a fenomenologia da interação. Quando as pistas abertas por Siemens e Downes se encontrarem com as ideias seminais de acoplamento estrutural (Maturana e Varela) e com as descobertas mais recentes da fenomenologia da interação, é possível que consigamos chegar a uma visão realmente interativista da aprendizagem. Mas isso ainda estará longe de uma teoria da aprendizagem (tipicamente) humana, quer dizer, social (como veremos no decorrer do texto).
(3) Cf. MATURANA, Humberto (1982). Aprendizaje o deriva ontogénica. Disponível no link: http://goo.gl/ehFPcz
(4) Idem.
(5) Idem-idem.
(6) Idem-ibidem.
(7) Cf. VARELA, Francisco (1991). Organism: a meshwork of selfness selves. In TAUBER, F. (ed.), Organism and the origin of self. Dordrecht: Kluwer Assoc., 1991.
(8) Francisco Varela (1994) problematizou a “expansão da ideia de autopoiese além da biologia, no âmbito das ciências humanas“. Segundo ele “nestes casos a autopoiese aparece cumprindo um papel metafórico, ou mais especificamente, metonímico“, como quando o conceito é usado para caracterizar um sistema social. Varela então distingue “dois modos de transposição da ideia original: 1) uma utilização literal ou estrita da ideia; 2) uma utilização por continuidade. Com o primeiro modo – prossegue ele – faço referência ao fato que tem havido repetidas tentativas de caracterizar, por exemplo, uma família como um sistema autopoiético, de maneira que a noção seja aplicada estritamente neste caso. Tais tentativas se fundem, em minha opinião, em um abuso de linguagem. Na ideia de autopoiese as noções de rede de produções e de fronteira possuem um sentido mais ou menos preciso. Quando a ideia de uma rede de processos se transforma em “interações entre pessoas”, e a membrana celular se transforma na “fronteira” de um agrupamento humano, incorre-se em usos abusivos… A utilização da autopoiese por continuidade é outra: trata-se de tomar a sério o fato de que autopoiese procura colocar a autonomia do ser vivo no centro da caracterização da biologia, e abre ao mesmo tempo a possibilidade de considerar os seres vivos como dotados de capacidade interpretativa desde sua origem própria. Quer dizer que permite ver que o fenômeno interpretativo é contínuo desde a origem até sua manifestação humana. No geral, estou de acordo com esta utilização e esta possível extensão… [Mas] em resumo, acredito que ficará claro ao leitor que, no geral, tenho um grande ceticismo a respeito da extensão do conceito além da área para o qual foi pensado, isto é, para a caracterização da organização dos sistemas vivos em sua expressão mínima“. VARELA, Francisco (1992). Prefácio de Francisco J. García Varela à segunda edição. In MATURANA, Humberto e VARELA, Francisco (1992). De máquinas e seres vivos. Autopoiese: a organização do vivo. Artes Médicas: Porto Alegre, 1997.
(9) Não é certo se Maturana entendeu isso. No prefácio à segunda edição do De máquinas e seres vivos, intitulado Vinte Anos Depois, por exemplo, ele escreveu que “tem-se formulado a possível existência de sistemas autopoiéticos em outros âmbitos fora do domínio molecular. Esta pergunta não se deve responder de forma singela. Certamente, é possível distinguir, entre os seres vivos, sistemas autopoiéticos de diferentes ordens, segundo o domínio no qual estes se efetuam. Em tal distinção, as células são sistemas autopoiéticos de primeira ordem enquanto elas existem diretamente como sistemas autopoiéticos moleculares, e os organismos somos sistemas autopoiéticos de segunda ordem, pois somos sistemas estabelecidos como agregados celulares. Sem dúvida, é possível falar de sistemas autopoiéticos de terceira ordem ao considerar, por exemplo, o caso de uma colmeia, ou de uma colônia, ou de uma família ou de um sistema social como sendo um agregado de organismos. Porém, ali o autopoiético resulta do agregado de organismos e não é o definitório ou próprio da colmeia, ou da colônia, ou da família, ou do sistema social, como a classe particular de sistema que cada um desses sistemas é. Ao destacar e colocar ênfase no caráter autopoiético de terceira ordem de tais sistemas, qual tal autopoiese é de fato algo circunstancial em relação à constituição de seus componentes, e não o que os define como colmeia, colônia, família, ou sistema social, o próprio de cada um deles como sistema fica oculto. Assim, por exemplo, ainda que é indubitável que os sistemas sociais sejam sistemas autopoiéticos de terceira ordem pelo simples fato de serem sistemas constituídos por organismos, o que os define como o que são, enquanto sistemas sociais, não é a autopoiese de seus componentes, mas a forma de relação entre os organismos que os compõem, e que notamos na vida cotidiana no preciso instante em que os diferenciamos em sua singularidade como tais ao usar a noção de “sistema social”. O que não se pode esquecer nem deixar de lado, é que estes sistemas autopoiéticos de ordem superior se realizam através da realização de seus componentes“. Para Maturana, sistemas sociais não são sistemas autopoiéticos de primeira ordem. E “tampouco os sistemas sociais são sistemas autopoiéticos em outro domínio que não seja o molecular. Sem dúvida, não o são no domínio orgânico, já que nesse domínio o que define o social são relações de conduta entre organismos. Também não o são, ou poderiam sê-lo, em um espaço de comunicações, como propõe o distinguido sociólogo alemão Niklas Luhmann, porque em tal espaço os componentes de qualquer sistema seriam comunicações, não seres vivos, e os fenômenos relacionais que implicam o viver dos seres vivos, que de fato destacamos na vida cotidiana ao falar do social, ficariam excluídos. Eu diria ainda mais que um sistema autopoiético, num espaço de comunicações, é semelhante ao que distinguimos ao falar de uma cultura“. De qualquer modo, acrescenta Maturana que, “se o que faz o ser vivo, ser vivo, é o fato de ser um sistema autopoiético molecular, o que o faz o sistema social, sistema social, não pode, de maneira alguma, ser o mesmo, já que o sistema social surge como sistema diferente do sistema vivo ao surgir na distinção como social, e quando sua realização envolva o viver dos seres vivos que lhe dão origem“. MATURANA, Humberto (1992). Vinte Anos Depois (Prefácio de Humberto Maturana Romesin à segunda edição). In MATURANA, Humberto e VARELA, Francisco (1992). De máquinas e seres vivos. Autopoiese: a organização do vivo. Artes Médicas: Porto Alegre, 1997.
(10) KRISHNAMURTI, Jiddu (1972) em “A única revolução” (originalmente intitulado “A outra margem do caminho”, organizado por Mary Lutyens). São Paulo: Terra Sem Caminho, 2002
(11) Isso não significa que seres humanos não possam aprender por meio de processos interativos que não são os de uma aprendizagem tipicamente humana. Mas apenas que essa não será uma aprendizagem tipicamente humana.
CONCLUSÃO
IMPERFÉXIA
A Inteligência Artificial busca a perfeição. Um mundo regido por inteligência artificial seria semelhante ao daquela distopia escrita por Veronica Roth, na trilogia Divergente (2011), Insurgente (2012) e Convergente (2013), no qual existia uma empresa, Perfexia, que separava os perfeitos dos defeituosos.
Os defeituosos, os imperfeitos, são os humanos não melhorados pela engenharia genética desenvolvida por inteligência artificial. Ocorre que a inteligência tipicamente humana precisa de imperfeição. A imperfeição – a capacidade de errar – é a chave para a inteligência não-artificial humana. Inteligência não-artificial humana não é a inteligência natural (por exemplo, a inteligência dos outros animais e seres vivos em geral) e sim a inteligência social (quer dizer, propriamente humana, da pessoa como emaranhado de relacionamentos). Grande parte do que se chama de erro pode ser comportamento aleatório, que é fundamental para a inteligência coletiva (que não é artificial, pode ser natural ou social). Em vez de Perfexia, Imperfexia. Aqui começa a conversa.
O principal problema da educação
Muitas pessoas estão preocupadas com a Inteligência Artificial. Alguns imaginam que as máquinas, os programas, os algorítimos, vão acabar substituindo os humanos. Outros têm medo de que os seres cibernéticos, os robôs ou os androides dominem os humanos.
É verdade que as máquinas poderão fazer muitas coisas que os humanos fazem hoje. Mas isso significa apenas que os humanos estão fazendo coisas que não são propriamente humanas (ou seja, coisas que só eles podem fazer). Quebrar e carregar pedras, levantar paredes, recolher lixo, fabricar peças, montar e dirigir veículos, projetar construções, resolver cálculos, aplicar técnicas cirúrgicas e uma infinidade de outros trabalhos e atividades podem ser feitos por máquinas. Sinal de que, quando fazemos isso, estamos, de certo modo, cumprindo funções de máquina.
Para realizar esses trabalhos, os humanos usaram ferramentas e máquinas não inteligentes. Mas o pior é que os humanos também usaram outros humanos transformando-os em máquinas. Ao fazerem isso, também se transformaram em máquinas. Quer dizer que essa história de que as máquinas controlarão os humanos é muito antiga.
De qualquer modo, para realizar trabalhos de máquina, usamos nossa inteligência. Essa inteligência que usamos será parecida com a inteligência artificial que as novas máquinas usarão. Mas, em geral, não usamos nossa inteligência tipicamente humana para fazer qualquer coisa que máquinas puderam ou poderão fazer.
Então o grande problema hoje, quando caminhamos para mundos em que a inteligência artificial terá uso generalizado, é saber como desenvolver nossa inteligência tipicamente humana.
Esta deveria ser a preocupação principal dos que se dedicam à chamada educação. Não a de querer competir com as máquinas inteligentes, nem ficar buscando formas de aprimorar a capacidade de resolver problemas, de aumentar a memória e de potencializar outras capacidades cognitivas que não são exclusivamente humanas e poderão ser exercidas por máquinas inteligentes e sim como ensejar que as pessoas que vão viver no futuro próximo da Inteligência Artificial aprendam a projetar mundos em que humanos possam se libertar das tarefas de máquinas e não se transformem – ou não transformem outros humanos – em máquinas.
É incrível. Há quase meio século algumas pessoas já tinham antevisto tudo isso. Jiddu Krishnamurti (1972), por exemplo, teve a liberdade suficiente para afirmar que “aprender é um movimento não ancorado no conhecimento. Se está ancorado, não é um movimento. A máquina, o computador, estão ancorados. Esta é a diferença básica entre o homem e a máquina. Aprender é estar vigilante, ver. Se você vê com base no conhecimento acumulado, então o ver é limitado e não há coisa nova no ver… Nossa educação é a obtenção de um volume de conhecimentos, e o computador faz isso mais rápido e mais acuradamente. Que necessidade há de tal educação? As máquinas irão encarregar-se da maioria das atividades do homem. Quando você diz, como as pessoas dizem, que aprender é a obtenção de um certo volume de conhecimento, nesse caso, você está negando — não está? — o movimento da vida, que é relacionamento e comportamento” (cf. KRISHNAMURTI, Jiddu (1972) em “A única revolução” — originalmente intitulado “A outra margem do caminho”, organizado por Mary Lutyens — São Paulo: Terra Sem Caminho, 2002).
Inteligência artificial e inteligência humana
Yuval Harari – autor do bestseller Sapiens (2015) – pergunta o que faremos daqui a 30 ou 40 anos, quando a Inteligência Artificial estiver generalizada. Como um cara – especula ele – que foi motorista de caminhão a vida inteira vai conseguir se reciclar de repente como designer de mundos virtuais? Não vai dar. Então ele conclui que vai surgir a “classe dos inúteis”, dos que não são necessários para a vida produtiva. E que, para evitar isso, temos que ensinar as nossas crianças (agora, não daqui a 30 ou 40 anos) novas coisas, para que elas se preparem para o novo mundo futuro quando chegarem lá. Parece fazer sentido, mas há um problema.
Quem é que vai construir esse mundo do futuro próximo (daqui a 30 ou 40 anos) senão as crianças que hoje têm 10 anos? Não serão, certamente, os que hoje comandam a Sentient Technologies, o Google, a IBM, a Microsoft, a Apple, a Amazon, o Facebook – que já estarão todos bem velhinhos na época (com 90 anos ou mais). Serão as crianças de hoje que vão moldar o novo mundo da inteligência artificial.
Nós nem sabemos – e é mesmo impossível saber agora – quais serão as novas habilidades e os conhecimentos necessários que serão requisitados pelo mercado futuro, tanto em termos de empregabilidade quanto de empreendimentos. E é meio inútil tentar adivinhar. Se nos dissessem, há 30 ou 40 anos, que haveria algo como a internet e a internet das coisas, as mídias sociais, os smartphones, o Bitcoin e o Blockchain, a impressora 3D e que uma biblioteca toda caberia num pendrive, nós não acreditaríamos (nem conseguiríamos imaginar o que seria um pendrive). Mas a questão é que ninguém seria capaz de nos dizer isso há 30 ou 40 anos! Ninguém. Da mesma forma, não podemos dizer o que existirá daqui a 30 ou 40 anos.
Então não se trata de ensinar qualquer coisa para que nossas crianças, quando chegarem à idade adulta, tenham menos dificuldade de se adaptar (sobretudo porque não sabemos quais são tais ensinamentos), como se o novo mundo presidido pela Inteligência Artificial fosse surgir por geração espontânea ou estivesse sendo construído por alienígenas das Plêiades.
Ora, quem vai construir o novo mundo serão as pessoas que hoje têm por volta de 10 anos. O que temos que ensejar é que elas sejam suficientemente criativas – e humanas – para aprender a moldar o mundo que virá (para que esse mundo futuro seja mais-humano e não menos-humano, desumano e nem extra-humano, sobre-humano). O que se espera é que elas não moldem um futuro tipo Skynet (da série O Exterminador do Futuro), em que máquinas controlarão os humanos, mas sobretudo que não repitam o passado, do mundo em que vivemos nos últimos milênios, em que humanos controlam humanos transformando-os em máquinas. Ou seja, o que se espera é que elas desenvolvam a inteligência tipicamente humana, que é coletiva, sim, é uma inteligência de rede (de pessoas), mas não é a inteligência de animais, de máquinas ou de seres alienígenas.
O que é inteligência artificial
Um paper da Pearson (Rose Luckin, Wayne Holmes, Mark Griffiths, Laurie B. Forcier: 2016), intitulado Intelligence Unleashed: an argument for AI in Education, define da seguinte maneira a Inteligência Artificial:
“For our purposes, we define AI as computer systems that have been designed to interact with the world through capabilities (for example, visual perception and speech recognition) and intelligent behaviours (for example, assessing the available information and then taking the most sensible action to achieve a stated goal) that we would think of as essentially human”.
“Para os nossos propósitos, definimos IA como sistemas de computação que foram projetados para interagir com o mundo através de capacidades (por exemplo, percepção visual e reconhecimento de fala) e comportamentos inteligentes (por exemplo, avaliando a informação disponível e tomando a ação mais sensata para alcançar um objetivo declarado) que poderíamos considerar como essencialmente humano”.
“We would think of as essentially human”? Nós quem? Capabilities e behaviours essencialmente humanos ou incidentes ou desempenhados (até agora) por humanos?
Grande parte do que se propõe (ou se antevê) que a IA deve fazer, pode ser coisa que é feita por humanos, mas não coisas que são essencialmente humanas, no sentido de tipicamente humanas. Pelo contrário, o que é propriamente humano ela não fará. Ou seja, a IA não é uma inteligência tipicamente humana.
O Google é mais comedido. No seu Guia sobre análise de dados e aprendizado de máquina para CIO, ele afirma:
“O conceito de IA é simples: é a capacidade de um software se aprimorar sem precisar ser explicitamente programado para isso. Em vez de precisar que desenvolvedores escrevam um novo código manualmente, a IA depende de algoritmos capazes de se tornarem “mais inteligentes” ao processar mais dados do mundo real”.
A questão é que não se sabe muito bem o que seria “mais inteligentes”. Qual a inteligência considerada como referência: a inteligência individual dos animais (inclusive dos animais humanos), a inteligência coletiva (de seres vivos, não somente animais e não somente humanos), a inteligência de máquinas?
Diferentes inteligências
Inteligência artificial, inteligência de seres vivos, inteligência coletiva (incluindo swarm intelligence) e inteligência humana, são coisas diferentes.
Algumas pessoas definem a inteligência como a capacidade de resolver problemas (o próprio Harari, por exemplo). Mas essa não pode ser a definição da inteligência tipicamente humana. Máquinas também podem resolver problemas (alguns bem complexos, que os humanos não conseguiriam resolver). Todos os seres vivos podem, em alguma medida, resolver problemas. E até seres não-vivos (como nuvens de nanopartículas) também podem (por exemplo, enxames de nanoquadrotors podem encontrar uma pequena saída numa sala fechada, sem estarem programados para tal). Em termos bem genéricos pode-se afirmar que todo ser capaz de aprender – ou seja, não apenas de apreender o mundo e sim de mudar com o mundo (como definiu Maturana em 1982) – é também capaz de resolver problemas.
Muito bem. Dizemos que seres capazes de aprender são seres inteligentes. Mas aí temos que fazer duas distinções fundamentais quanto ao que chamamos de inteligência. A primeira distinção é que a inteligência pode ser individual ou coletiva (ainda que, na verdade, ela seja sempre coletiva, pois, por exemplo, o cérebro de quem aprende – no caso de um ser vivo que o possua – é uma rede neural ou neuronal e só redes podem aprender).
A segunda distinção é que a inteligência pode ser não-artificial (ou natural, mas a palavra não é boa) ou artificial. Dentre as inteligências não-artificiais temos a inteligência dos seres vivos e a inteligência de seres não-vivos (que, pelo fato de serem artefatos, não significa que sua inteligência seja artificial: por exemplo, nuvens de seres self-propelled que interagem entre si são capazes de aprender e podem manifestar o que chamamos de swarm intelligence – e por isso se disse que a palavra “natural” não é boa).
Mas há outras distinções derivadas. Por exemplo, dentre os seres vivos temos os seres não-humanos e os seres humanos. O que chamamos de inteligência dos seres humanos – da pessoa – é a inteligência tipicamente humana. Mas os humanos também compartilham a inteligência dos seres vivos em geral e essa inteligência não é uma inteligência tipicamente humana. Por exemplo, o corpo humano é capaz de aprender (o seu sistema nervoso e o seu sistema imunológico aprendem) e, assim, há aí também uma inteligência (que é do mesmo tipo que a inteligência dos seres vivos).
A questão é que não é possível ser criativo sem partir em novas direções e em sistemas dinâmicos complexos essas direções são aleatórias. O sistema – no caso, a rede de pessoas que compõem qualquer organização – deve ter a liberdade necessária para aprender. Não pode ser ensinada a não-errar; se o for, não aprenderá. Olhando de um ponto de vista tradicional pode-se dizer que muitos erros são cometidos em qualquer processo de inovação, porém é um esforço inútil (e contraproducente) tentar otimizar a gestão para evitar esses erros. Como diz o conhecido ditado: “Se você não está errando muito é sinal de que não está se esforçando o suficiente”. Porque o que chamamos de erro não é erro (como desvio de um alvo pré-estabelecido) e sim o modo como qualquer sistema pode aprender (o que é muito diferente – em certo sentido é até o oposto – de ser-ensinado). Aprender não é apreender o mundo e sim mudar com o mundo (como disse Maturana). O que significa que um sistema só é capaz de aprender se for capaz de se auto-organizar. O comportamento aleatório (não-planejado) é parte do processo de auto-organização. Deve, portanto, haver liberdade para as pessoas poderem abrir caminhos inéditos para os fluxos da sua convivência social, mesmo quando avaliamos que isso não levará a nada: nunca se pode saber como o comportamento coletivo será aleatoriamente modificado, mas já se pode saber que não haverá mudança de comportamento coletivo sem uma boa dose de aleatoriedade. E se o comportamento coletivo não for modificado não haverá aumento de inovatividade. Resumindo: uma boa dose de comportamento aleatório é necessária para a inovação e não é possível ser criativo sem partir em novas direções tomadas sem um plano pré-definido.
Sistemas dinâmicos complexos têm uma dinâmica variacional e são as modificações do estímulo, quando se introduzem mudanças (às vezes chamadas de erros) na cópia (replicação), que produzem uma nova ordem emergente a partir da interação. Isso não vale apenas para sistemas humanos, quer dizer, sociais. Também vale para sistemas não-humanos que têm um padrão de rede – ou seja, que são capazes de interagir – sejam vivos ou não-vivos.
O que seria então inteligência humana?
Uma inteligência tipicamente humana é uma inteligência sintonizada com o emocionar humano. O que poderia caracterizar uma inteligência tipicamente humana?
Não é, por certo, o fato de ela ser considerada superior a de outros animais ou de outros seres vivos (o que ela não é realmente se olharmos as longas linhagens filogenéticas de seres que produzem a chamada inteligência coletiva na sua interação, como os cupins construindo um cupinzeiro ou como as bactérias que colonizam nossos corpos como planetas).
Uma inteligência tipicamente humana não é a inteligência prodigiosa das máquinas que ainda serão inventadas, dos futuros seres cibernéticos. Ademais – e aqui parece estar uma novidade – a inteligência tipicamente humana não é também a inteligência extraordinária de indivíduos extremamente bem dotados de capacidades cognitivas, de prodigiosa memória e de formidável raciocínio lógico. Não. A inteligência tipicamente humana é aquela inteligência empática, que no simples ato de se manifestar ou se exercer, já se acopla estruturalmente à inteligência de outros humanos.
É como se fosse o espelhamento, no que cada pessoa tem de único, da inteligência dos emaranhados sociais em que existimos como seres humanos. Não é uma inteligência individual que se combina com outras inteligências individuais. É a inteligência que só emerge em cada um de nós, humanos, porque no próprio processo de sua gênese já incorpora a interação sinérgica, simpática e simbiótica, com outros humanos (o que lembra a temática da recente série televisiva das Wachowskis, Sense8). E, portanto, é uma inteligência colaborativa (e isso implica que a inteligência competitiva – tão buscada por organizações hierárquicas, no afã de derrotarem seus concorrentes, vencerem seus adversários ou destruírem seus inimigos – não é uma inteligência tipicamente humana).
Essa afirmação é surpreendente também porque desconstitui as teorias cognitivistas da aprendizagem voltadas a maximizar a inteligência. Ela significa que não é a quantidade de inteligência (passível de ser medida pelos indicadores de inteligência comumente usados nos testes de inteligência) que caracteriza a inteligência tipicamente humana e, ao mesmo tempo, que nossa inteligência não é superior a de outros seres vivos (inclusive de outros animais humanos) e, ainda, que podemos ter inteligências extraordinárias de indivíduos humanos que não são tipicamente humanas.
A inteligência tipicamente humana é uma espécie de sacramento, uma sombra do que ainda virá (e que será o que será, quando for e toda vez que vir). É uma inteligência humanizante. É a inteligência de um simbionte social se prefigurando.
O que tudo isso tem a ver com a educação?
Comecemos com um rápido balanço. Está todo mundo querendo melhorar a educação. Mas pouca gente querendo mudar a educação. Vejamos por que.
A – O PROFESSOR E A ESCOLA
O professor e a escola (o professor é a escola) estão preocupados com o seguinte:
1 – A falta de interesse (e de atenção) dos alunos (e, em alguns casos, com alguns transtornos que afetam a aprendizagem, como o transtorno de deficit de atenção e hiperatividade).
2 – A falta de dedicação dos pais à educação dos filhos (alegam que os pais terceirizam suas responsabilidades para a escola).
3 – A indisciplina dos alunos (e a falta de respeito pelos professores e por seus colegas).
4 – O bullying, as drogas e outros comportamentos desviantes dos alunos.
5 – O fato dos alunos não quererem estudar (nem na escola, nem em casa).
6 – O baixo desempenho dos alunos (a repetência e a evasão escolar).
B – OS PAIS
Os pais estão preocupados com o seguinte:
1 – Onde vão depositar seus filhos com segurança (para poder trabalhar, cuidar da vida, se divertir, ter um minuto de sossego).
2 – Manter os filhos longe das ruas (das más companhias, das drogas, do crime).
3 – Terceirizar (com segurança) a educação dos filhos.
4 – Dar condições aos filhos de terem uma vida melhor do que as deles (ou, em alguns casos, para que eles sejam melhores do que os filhos dos outros).
5 – Capacitar seus filhos para que no futuro obtenham um diploma, por meio do qual consigam um bom emprego que lhes dê estabilidade financeira e condições de viver com tranquilidade, sobretudo com assistência de saúde para suas futuras famílias (ou, em alguns, poucos, casos, para que tenham condições de abrir um negócio inovador e lucrativo).
6 – Proporcionar uma sólida educação moral aos seus filhos (em alguns casos religiosa) para que eles sejam cidadãos respeitadores da ordem, obedientes às autoridades (ou tementes a Deus), disciplinados (em alguns casos evitando que eles sejam vítimas de doutrinação ideológica ou político-partidária na escola).
Isso é assim em mais de 90% dos casos. Pouquíssima gente está preocupada com a inadequação da escola em si. E menos gente ainda está preocupada com o fato da escola estar matando a criatividade e assassinando, no embrião, os gênios que cada criança ou jovem poderiam ser (não somente no futuro, mas agora).
Pouquíssima gente também está preocupada com a experiência de vida que a escola está oferecendo no presente aos alunos (quer dizer, às crianças enquanto são crianças, aos jovens enquanto são jovens). Crianças e jovens não são encarados como seres humanos completos (reais) e sim como projetos de adultos. A educação (escolar ou mesmo familiar simulando a escola) é vista sempre como um meio, como uma corrida de obstáculos, em que o aluno tem de vencer etapas, ter sucesso nos exames, para que se habilite no final, quando terminar toda provação, sacrificando o presente (que é o único tempo que existe) em nome de um futuro imaginado (que não existe).
Por último, pouca gente está preocupada com o seguinte. O que a escola está ensinando hoje será útil para o mundo em que as crianças de 2017 e os jovens de 2027 irão viver daqui a três ou quatro décadas? Ou seja, poucos questionam se a escola sabe realmente o que está fazendo (se ela sabe quais serão as habilidades e os conhecimentos que serão requeridos pelo mercado e pela sociedade em 2037 ou em 2047).
É claro que nem adianta falar que o ensino não é o antecedente da aprendizagem, que a ensinagem dificulta a aprendizagem, que um conteúdo imposto compulsoriamente é sempre uma restrição (e uma violação) da liberdade de aprender criativamente (ou seja, que um conteúdo só é necessário quando – ou no momento em que – ele for necessário para o aprendente e não quando um ensinante, heterodidaticamente, achar que ele é necessário a partir da avaliação de uma necessidade imaginada do futuro).
Se as pessoas pensassem nessas coisas não concordariam em melhorar a educação (que existe), mas proporiam mudar completamente isso que chamam de “a educação”.
A questão é que para se preparar para o novo mundo (ou os novos mundos) da inteligência artificial que estão emergindo, é necessário não melhorar a educação e sim mudar a educação que temos.