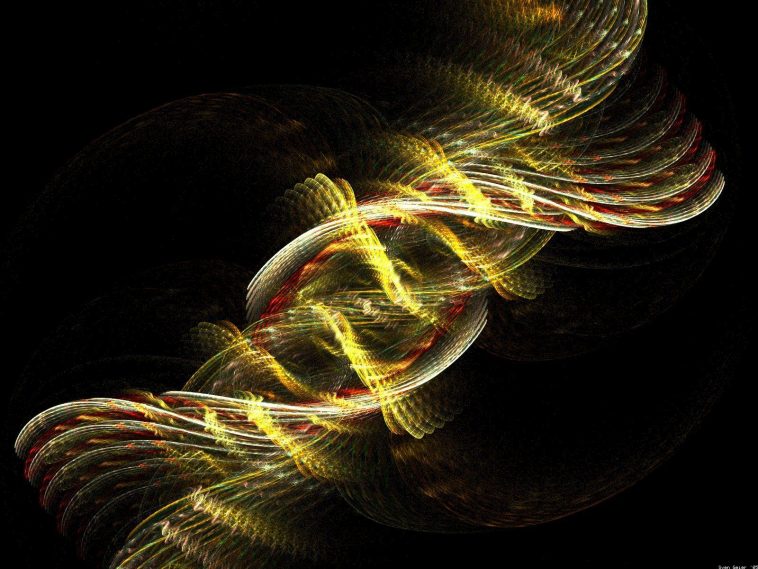Só agora reconhecemos que a incrível expansão das democracias no plano internacional, sobretudo no século 20, foi meio artificial.
Primeiro porque muitas democracias formais surgiram porque foram exportadas em série pelos grandes países democráticos, em alguns casos juntamente com a forma Estado-nação (virando quase que exclusivamente a replicação de um modelo de governança e não a instauração de processos de desconstituição de autocracia no Estado e na sociedade).
Segundo porque muitos países que adotaram a democracia perseguiam, em grande parte, a prosperidade econômica (até então mais vigorosa nas grandes nações democráticas) e não a democracia propriamente.
Quando regimes autocráticos, que não entraram nas três ondas da democratização – como Rússia, China e países do Golfo Pérsico – conseguem fazer crescer seu PIB per capita adotando economias de mercado e conseguem manter Estados fortes, capazes de cuidar das necessidades básicas das suas populações (inclusive reduzindo a corrupção), esse atrativo da democracia liberal deixa de ser exclusivo. As pessoas começam a achar que não precisam de democracia – entendida como vigência de direitos políticos e liberdades civis a partir de certo patamar – para viver bem.
É claro que, do ponto de vista da democracia, essas pessoas estão enganadas e que não se pode viver bem (a vida propriamente humana, não a suposta boa vida animal do gado confinado holandês) sem conviver bem e a boa convivência depende de altos níveis de capital social que correspondem a altos níveis de democratização.
O problema, como se pode ver, não é a democracia, mas a forma como os modernos tiveram de reinventá-la, constrangendo-a a ser apenas um modo de administração política do Estado-nação.
Pessoas que viviam em regimes democráticos (um pouco menos da metade da população mundial) foram confundidas com democratas. Não eram. Para boa parte dessas pessoas era indiferente viver num regime democrático ou num regime autocrático que lhes permitisse ter padrões semelhantes de vida. E elas, em boa parte, trocariam a democracia por uma autocracia que lhes proporcionasse níveis de vida mais altos e mais proteções sociais (como a do sultão de Brunei, por exemplo).
A crise atual desse processo (de reprodução do modelo democrático representativo) vai devolver aos democratas o seu real tamanho, que é o de ser minoria, extrema minoria. E vai poder evidenciar melhor o seu papel de agentes fermentadores da formação da opinião pública.
Fermento não é massa: os democratas não podem mesmo ser maioria. Se fossem – e nunca foram – alguma coisa estaria muito errada. No dia em que os democratas fossem maioria, a democracia não teria mais razão de ser, pois não haveria mais autocracia.
De certo modo, esta é a mesma razão pela qual não faz sentido existirem democratas entre os povos Pirahãs ou Ianomâmis. Não havendo autocracia instalada nessas tribos, não há qualquer razão para a existência de democratas, assim como não haveria numa aldeia agrícola neolítica, num assentamento humano pré-patriarcal (como a Jericó dos dois primeiros milênios) ou num grupo de caçadores e coletores paleolítico. Tentativas de implantar democracias nessas sociedades seriam prejudiciais.
Democracia é sempre processo de desconstituição de autocracia (é – rigorosamente falando – o que chamamos de processo de democratização). Regimes autocráticos só perduram enquanto conseguem manter a adesão, a obediência ou o assentimento das maiorias. Se houvesse uma maioria democrata – necessariamente desobediente, pois que isso define os democratas – não existiriam mais as 61 ditaduras do mundo atual, sob as quais ainda vive mais da metade da população do planeta.
Para entender isso é preciso entender que a democracia não é necessária. Ou melhor, só é necessária para os que acham desejável viver livres do jugo de um senhor (não ser súdito ou escravo de ninguém, como escreveu Ésquilo, em Os Persas).
Para quem acha preferível viver em segurança e com suas necessidades vitais atendidas, sob o jugo de um senhor bom (como Hassanal Bolkiah, de Brunei), a democracia é um estorvo. Se essas pessoas não têm aspiração pela liberdade, inclusive pela liberdade de poderem ser infiéis às suas origens e de não terem rumo, se elas não sentem que a democracia possibilita a criação de novas realidades sociais e de uma vida tipicamente humana quando podem viver a sua convivência, ou se não querem se abandonar ao fluxo interativo da convivência para se constituírem como pessoas propriamente ditas, quer dizer, entidades sociais, nada feito. Se não são capazes de experimentar esse emocionar, então, para elas, a democracia não pode ser desejável.
Roberto Stefan Foa (2018), professor de ciência política da Universidade de Melbourne, pesquisador responsável da World Values Survey, publicou recentemente um artigo intitulado Modernization and Authoritarianism em que constata o óbvio (mas não suficientemente dito): que regimes capitalistas autoritários estão adotando as instituições econômicas do Ocidente, ao mesmo tempo em que rejeitam seu sistema de liberdades sociais e políticas. No seu artigo, ele nos deixa com a desconcertante pergunta (desconcertante para os que acreditavam que o crescimento do PIB per capita em uma economia de mercado tenderia a levar “naturalmente” à democracia). Ele pergunta se “o ciclo de modernização autoritária irá, mais uma vez, por fim levar a uma transição democrática ou, em seu lugar, a uma forma de “consolidação autoritária” na qual a legitimidade do regime aumenta continuamente e o desempenho do governo melhora até o ponto em que as pressões contra o sistema acabam se dissipando?”. Se as constatações de Foa não estiverem captando uma tendência temporária, caminhamos realmente para um mundo autocrático (no que tange aos regimes políticos prevalecentes em Estados-nações).
Não sabemos. Mas sabemos o que isso significa: crise! A democracia em crise deverá buscar sua re-inspiração no que ela foi originalmente: um projeto local (agora glocal, ou seja, no comunitarismo cosmopolita), não inter-nacional (quer dizer, entre e para Estados). Como se sabe os atenienses que inventaram pela primeira vez a democracia fizeram uma experiência local, na sua cidade, ou melhor, na sua comunidade política (a polis era a koinonia política, não a cidade-Estado).
Não teremos, provavelmente, duzentas democracias (o número aproximado de países ou Estados-nações do mundo atual). Talvez tenhamos menos de cem, até o final deste século. Mas parece que a única possibilidade de não deixar a democracia declinar no plano global e reafirmá-la no plano local (compreendendo que, numa sociedade-em-rede, o local conectado é o mundo todo). Não teremos duas centenas de Atenas (em que a democracia será apenas uma droga para domesticar o Leviatã), porém milhares, quem sabe dezenas ou centenas de milhares (em cidades, redes de cidades, comunidades de vizinhança, de prática, de aprendizagem e de projeto). Talvez seja a hora dos Estados-nações democráticos coexistirem com miríades de clusters democráticos, onde os democratas poderão realmente ser o que são: polinizadores de novas formas de sociabilidade e de convivência social baseadas na auto-organização.
O texto acima – tomado aqui como introdução – foi publicado como a nona reflexão terrestre sobre a democracia. Seguem abaixo, as quinze reflexões, escritas entre fevereiro de 2017 e junho de 2020.
1 – Livre é quem não tem rumo
“Livre, livre é quem não tem rumo”
Manoel de Barros (2010) em Menino do Mato.
Há muita incompreensão sobre a democracia. Ora ela é confundida com um modo de administração política do Estado (ou com o chamado Estado de direito; ou pior, com eleições); ora com uma ideologia (e não raro alguém pergunta se ela não seria a mesma coisa que aquele tipo de sociedade imaginária pregada pelos anarquistas); ora, ainda, indaga-se se ela não seria uma utopia (tipo a sociedade sem classes do paraíso construído idealmente pelos comunistas).
Para tentar desfazer a confusão, comecemos pelo final, quer dizer, pela ideia – bastante generalizada – de que a democracia seria uma utopia.
Não! A democracia não é uma utopia. Quem precisa de utopia é a autocracia. Para a democracia não há um lugar (ou um não-lugar: u-topos) onde chegar. O amanhã da democracia chama-se hoje. Isso não significa que a democracia não seja tensionada pelo futuro desejado. Mas o tempo da democracia é o futuro antecipado, presentificado, ou seja a topia, o aqui e agora. Só assim ela se realiza: sendo o meio que realiza o seu fim (no sentido de finalidade – ou sentido – da política, quer dizer, a liberdade).
Nesse sentido, pode-se dizer que a democracia se realiza toda vez que adotamos modos não-guerreiros de regulação de conflitos. Sim, ela é composta por atos singulares e precários, não por altas estratégias de condução das massas para um porvir radiante. Realizar a democracia é mais ou menos como seguir aquela homilia do Paulo Brabo: um instante de cada vez.
Mas – atenção! – adotar modos não-guerreiros de regulação de conflitos só realiza a democracia em sociedades autocráticas (quer dizer, guerreiras). Pois a democracia é, no sentido forte do conceito, um processo de desconstituição de autocracia (assim ela foi inventada pelos antigos atenienses, contra a tirania dos psistrátidas e assim ela foi reinventada pelos modernos, contra o poder despótico de Carlos I).
Em sociedades não patriarcais (i. e., não hierárquicas e não guerreiras) – por exemplo, entre os Pirahãs ou os Yanomamis, num agrupamento paleolítico de caçadores-coletores ou numa aldeia agrícola neolítica – a democracia não faz o menor sentido. Porque não há o que democratizar (ou seja, desautocratizar) nessas sociosferas que não são dominia de Estados. Impor a essas sociedades um modelo político qualquer, inclusive democrático, seria uma perversão. Nenhum bem adviria da adoção da democracia por povos cujo modo de vida (ou de convivência social) não está baseado na conservação do emocionar guerreiro.
A democracia não é um modelo de sociedade a que se deva perseguir, nem uma ideologia para conduzir alguém em direção a um futuro almejado, antevisto ou preconfigurado (como a sociedade comunista, por exemplo). Sua “utopia”, se é que podemos neste caso empregar figurativamente tal palavra, é a política (e não o contrário, como se acredita); ou seja, é o que se faz agora, não o que se fará depois. A democracia é uma espécie de vacina contra o depois, isto é, contra a alienação do presente que está na base de todos os sonhos (ou delírios) que compõem os imaginários autocráticos; tipo assim: vamos sacrificar (um pouco da) sua liberdade agora para que você alcance o reino da (plena) liberdade depois.
A democracia não quer que sacrifiquemos nada, em prol de coisa alguma imaginária. O que a democracia quer é apenas que vivamos como seres políticos, regulando nossos conflitos de modo não-guerreiro (do contrário não seremos seres políticos e sim seres apolíticos). Mas como não somos “animais políticos” (o zoon politikón, ao contrário do que pensava Aristóteles, simplesmente não existe), posto que não há nenhuma substância política original e a política só existe na entreidade, no “entre-os-homens” (como escreveu Johannah Arendt), o que a democracia quer é que sejamos interagentes na pólis, quer dizer, na koinonia (comunidade) política: mas… hoje, não amanhã!
Tal, entretanto, não deriva de nenhuma necessidade. A democracia é a esfera da liberdade porque é o campo das ações desnecessárias, que fazemos porque desejamos, inclusive quando desejamos ser infiéis às nossas origens (contra qualquer epigênese: sim a democracia é coisa de infiéis, não de fiéis). E é esse fazer o que desejamos que nos torna vulneráveis ao acaso e ao imprevisível; ou seja, livres.
“Livre – disse o poeta (Manoel de Barros) – livre é quem não tem rumo”, aquele que se jogou no fluxo interativo da convivência social, abandonado, ao sabor do vento, que ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai.
2 – A metáfora do fungo
Alguns acham que a democracia é assim como um tipo de construção ideológica, que depende de um corpo de crenças teoricamente articulado e do qual se possa inferir consequências. Eles têm uma apreensão cognitivista – e não interativista – da democracia. Superavit de Platão ou deficit de Protágoras.
A adesão à democracia não é o resultado de uma inferência lógica de um sistema doutrinário. É, simplesmente, uma escolha que se dá em outra zona de significação epistemológica. A opção pela democracia contra a autocracia antecede, ontologicamente falando, às derivações que se pode fazer a partir de um corpo de crenças.
Como então poderíamos definir – em termos terrestres, quer dizer, não ideais – a democracia? Em primeiro lugar, reconhecendo que ela não é uma utopia, como já foi dito na primeira reflexão (acima).
A democracia é um processo de desconstituição de autocracia (onde quer que ela se manifeste): mas no presente, não no futuro. Isso significa que, em qualquer área ou setor da atividade social (e não apenas no Estado), toda vez que você desconstitui autocracia – tornando modos de regulação de conflitos menos guerreiros e mais compatíveis com padrões de organização menos hierárquicos – está gerando democracia.
A democracia é gerada, usinada, produzida, não de uma vez e sim por golfadas. A dinâmica é intermitente. E o quantum de democracia gerada em um evento, não cresce por manutenção do que foi realizado, por uma prorrogação ou desenvolvimento do que aconteceu, tipo assim: uma plantinha que você vai regando até se tornar uma frondosa árvore. Não! Aconteceu, durou o que durou, e pronto! Nada garante que vai ficar ali para sempre, que aquela plantinha que virou árvore soltará sementes até termos uma grande floresta.
Infelizmente – ou felizmente, como veremos – a coisa não funciona assim. A democracia cresce, mas não como uma planta. Talvez uma metáfora melhor, para ficarmos nos reinos de seres vivos, seria a do fungo. Cada processo de democratização realizado solta esporos. Esses esporos podem florescer em seguida, mas também podem – o que não é infrequente – passar anos, séculos, milênios, soltos por aí, até perdidos no espaço sideral e… de repente, encontrando ambientes favoráveis, dar origem a um novo fungo, ou melhor, a uma rede miceliana, uma floresta de clones fúngicos subterrânea, toda interligada por hifas… no espaço-tempo dos fluxos!
A metáfora do fungo é melhor do que a da planta, porque, ao que tudo indica, a democracia – quer dizer, um processo de democratização ou de desconstituição de autocracia realizado – se esporaliza, não cresce para cima (como um pé de feijão), para baixo (como o cedro do Líbano) ou para os lados (como os ramos da abóbora).
Tudo depende, portanto, do ambiente adequado. Quem diria que os esporos usinados na Agora ateniense do século 5 AEC iriam encontrar um ambiente adequado para florescer na Inglaterra do século 17 da nossa era? De um ponto de vista do processo de democratização do Estado, essa explicação parece fazer sentido, pois a oposição à tirania dos psistrátidas em Atenas mantém muitos isomorfismos com a oposição ao poder despótico de Carlos I – mas só desse ponto de vista. Se considerarmos a democracia como modo-de-vida (ou de convivência social), os esporos produzidos na koinonia política dos antigos democratas gregos (durante quase dois séculos: um tempo incrivelmente longo para a democracia), floresceram em muitos lugares durante os dois últimos milênios (ainda que as experiências democráticas que eles ensejaram tenham sido, na sua maior parte, muito fugazes).
Que ambientes seriam esses, onde a democracia pode ser experimentada por tempo suficiente para produzir esporos? Como há um condicionamento recíproco entre modo de regulação (político) e padrão de organização (social), pode-se afirmar que tais ambientes são aqueles caracterizados pela abundância de caminhos, ou cuja topologia – mesmo que temporariamente – seja mais distribuída do que centralizada. Desde que tais ambientes sejam constituídos dentro de campos hierárquicos regidos por modos autocráticos. Sim, não há nenhum sentido falar em democracia para povos que não se organizavam hierarquicamente e não regulavam seus conflitos de modo guerreiro (e onde isso era determinante para a reprodução do seu modo-de-vida ou convivência social): a comunidade política dos democratas atenienses foi constituída sob a tirania de Hípias, o autocrata filho de Psístrato. Não haveria o menor sentido falar de democracia entre o povo Vinca (que floresceu às margens do Danúbio no sexto milênio), assim como não há o menor sentido falar de democracia entre os nossos Yanomamis dos dias atuais.
Mas como então tratar da democracia em países (quer dizer, Estados: no caso dos gregos a cidade-Estado de Atenas e no caso dos modernos o Estado-nação)? Estados, seja qual for a sua forma, não são ambientes adequados à democracia (pois sua topologia é sempre mais centralizada do que distribuída). Se a Polis do século 5 AEC fosse a cidade-Estado de Atenas, não poderia ter havido democracia (e, como sabemos, só houve democracia porque ela, a Polis, não era o Estado e sim a koinonia – a comunidade – política). No entanto, como a democracia dos modernos foi reduzida a um modo de administração política do Estado-nação, a questão permanece: considerando a predominância do modo de agenciamento chamado Estado, como poderíamos dizer se um regime político é ou não é democrático?
Colocada nesses termos, a questão só admite uma resposta. Quando um regime se diz democrático, isso quer dizer apenas que o funcionamento de suas instituições não está impedindo a continuidade do processo de democratização.
3 – Sem deus, natureza ou história
Na segunda reflexão (acima) vimos que “alguns acham que a democracia é assim como um tipo de construção ideológica, que depende de um corpo de crenças teoricamente articulado e do qual se possa inferir consequências. Eles têm uma apreensão cognitivista – e não interativista – da democracia. Superavit de Platão ou deficit de Protágoras”.
Isso precisa ser desenvolvido e melhor explicado.
A opção pela democracia não exige a adesão a um corpo de crenças como filtro para transformar caos em ordem, mas em uma ordem estabelecida pregressamente ou antes da interação propriamente política – transcendente, natural ou imanente: seja porque estaria de acordo com desígnios extra-humanos já estabelecidos (supra-humanos ou sobre-naturais) por uma ordem pré-existente, seja porque derivaria da natureza, seja porque se sintonizaria com a marcha da história ou com suas leis. Este parágrafo é muito sintético, mas provavelmente contém tudo (ou quase).
Ou seja, nada de transcendente, natural ou imanente. Em outras palavras:
1) nada de visão esotérica ou religiosa;
2) nada de visão liberal-econômica (segundo a qual existiria algo como uma natureza humana: e. g., a hipótese de que o ser humano – tomado como indivíduo – seria inerentemente ou por natureza (?) competitivo e faria escolhas racionais buscando sempre maximizar a satisfação dos seus interesses ou preferências, ao fim e ao cabo egotistas); e
3) nada de visão determinística (baseada em alguma imanência: a história grávida que vomitaria – por meio das ações humanas – um sentido já existente antes que os seres humanos escolhessem um caminho ou simplesmente fossem para onde querem ir ou não.
DEUS, NATUREZA E HISTÓRIA
Se essas noções – Deus, Natureza e História – forem reificadas para fornecer à política alguma razão, não estamos mais no terreno da política propriamente dita, quer dizer, da democracia (tal como a conceberam ou experimentaram – no caso é a mesma coisa – os democratas atenienses). É por isso que o único sentido compatível com a democracia que se pode atribuir à política é a liberdade.
Do ponto de vista da democracia, liberdade significa que Deus não é capaz de dar nenhum sentido à política, a Natureza (seja o que for) também não é capaz de dar nenhum sentido à política e, ainda, que a História também não é capaz de dar nenhum sentido à política.
Deus
A adesão confessional ou teologal à uma potência extra-humana (como fazem as filosofias religiosas ou teosóficas) capaz de intervir nos assuntos coletivos humanos (ou, mais exatamente, sociais) não pode fornecer uma razão para a política e é por isso que povos como os hebreus (a turba dos hapirus, quer dizer, dos sem-reino que invadiram ou se insurgiram em Canaã na primeira metade do primeiro milênio AEC), que acreditavam num plano divino para a humanidade (ou para o seu próprio povo, tomado como povo de um deus: o seu deus IHVH), mesmo tendo todas as condições objetivas para inventar a democracia (basta ler os relatos da Assembléia de Siquém e Samuel 8), não o fizeram. Isso não tem a ver propriamente com acreditar em deuses (ou em um deus) e sim com contar com esses deuses (ou deus) para intervir nos conflitos humanos, para regular esses conflitos ou para resolver os dilemas da ação coletiva.
Os democratas atenienses não aboliram os deuses (da cidade), pelo contrário: conviveram com eles, mas sem deles esperar nada além da proteção ao funcionamento das suas instituições democráticas nascentes (como o Zeus Agoraios, nume tutelar das conversações na praça do mercado) e de inspiração para as práticas (e procedimentos) democráticos que experimentavam (como a deusa Peitho, a persuasão deificada). Mas eles não substituíram essas instituições e práticas pela intervenção sobre-humana ou sobre-natural (dos seus deuses).
Se há deuses (ou um deus) que intervem nos assuntos propriamente humanos (quer dizer, na rede social), então para nada serve a política como modo de auto-regulação ou de comum-regulação (e nem ela teria surgido no entre-os-humanos, já que o Zoon Politikon – o animal político – é uma invenção de Aristóteles incompatível com a democracia), como uma forma específica de interação (a política). Onde há deuses (ou um deus) intervindo, não pode haver lugar para a liberdade, que é sempre a liberdade de ser infiel a um desígnio, de não seguir um plano (já traçado por qualquer potência humana ou extra-humana), de não se conformar a uma ordem (preexistente, ex ante à interação). Deuses (ou um deus) podem existir, desde que não nos obriguem a ser fiéis a eles (ou a ele) ou aos seus desideratos. A democracia é coisa de kafirs (e por isso lhe é tão avessa a cultura islâmica), é uma desobediência ao que já está disposto, à obrigação de seguir um rumo: porque a liberdade é, fundamentalmente, poder sempre escolher um novo rumo e mudar de rumo, ou melhor, poder não ter rumo.
Se há uma ordem, uma hierarquia, uma fraternidade ou sociedade encarregada de conduzir ou orientar coletividades humanas (grupos, cidades, nações, povos) em uma determinada direção, para cumprir algum plano cósmico (engendrado ou não por um deus que apenas quer se reconhecer no espelho da existência ou por vários deuses ou, ainda, por seres superiores não-humanos, autóctones ou alienígenas, do passado, do presente ou vindos do futuro), é a mesma coisa. Todas essas visões esotéricas levam à autocracia, não à democracia. Pois como alguém, na condição humana, poderia ser infiel à vontade ou às leis estabelecidas por esses seres superiores sem violar algum tipo de moral? E como os direitos humanos poderiam se equiparar (ou se contrastar) aos direitos desses seres mais evoluídos ou melhores, mais puros ou mais perfeitos?
Quando Ésquilo (472 AEC), em Os Persas, escreveu que os atenienses (democráticos) “não são escravos nem súditos de ninguém”, ele estava dizendo que eles (como povo, quer dizer, coletivamente) não eram escravos nem súditos de ninguém mesmo: nem de humanos, nem de deuses. E, poderíamos acrescentar, nem de leis naturais. Isso nos leva ao próximo ponto.
Natureza
O estudo da natureza ou os modos de observação-investigação-explicação dos fenômenos naturais que chamamos de ciência (a partir do século 17, mas especialmente na passagem do século 19 para o século 20, quando entraram em cena os epistemólogos racionalistas que acreditaram que a filosofia da ciência era uma espécie de ciência ou de ciência da ciência), também não pode fornecer uma razão para a política. O assunto é difícil porque fomos acostumados a olhar a ciência como uma espécie de pansofia. Mais do que a ciência, a ciência autorizada pela filosofia da ciência foi, por sua vez, autorizada a fornecer uma explicação válida para tudo. E se seus métodos são válidos para tudo, por que não o seriam também para a política?
Ocorre que, se existe uma ciência aplicável à política ou, a rigor, uma ciência política, então não pode haver democracia. Pois neste caso os que possuem a ciência (política) ou agem de acordo com seus métodos válidos (quer dizer, validados por algum tribunal epistemológico válido) não se situarão no mesmo patamar dos demais. Haveria uma desigualdade (não sócio-econômica, mas política) levando diretamente à desliberdade. Como a matéria da política não é a episteme (o conhecimento filosófico ou científico), nem a techné (o conhecimento – ou know how – técnico) e sim a doxa (opinião), então algumas opiniões seriam mais válidas do que outras (aquelas proferidas por quem tem mais conhecimento reconhecido como válido). No limite isso levaria ao governo dos sábios de Platão, baseado numa diferença de conhecimento convertida em separação entre sábios e ignorantes. Os ignorantes seriam governados pelos sábios, independentemente da justeza de suas opiniões e, o que é pior, ao largo do processo interativo de formação da vontade política coletiva. Não haveria propriamente opinião pública, composta por emergência (pois se alguém já pode saber o que é correto, de que valeria o entrechoque e a polinização cruzada de uma variedade de opiniões?) e, assim, também não haveria esfera pública (em termos sociais, quer dizer, geração de commons). Ora, sem isso, não pode haver democracia.
O apelo à natureza ou a introdução de um corpo de crenças derivadas do conhecimento sobre os fenômenos naturais – pouco importa se validadas ou não pela ciência – como recurso para validar uma visão da política, traz problemas semelhantes aos da ideia de um ou vários deuses com papel regulador dos dilemas da ação coletiva. Se a natureza (quer dizer, o conhecimento dos fenômenos naturais) pode dizer o que deve ou não ser feito em termos políticos, então para nada vale a democracia.
Um exemplo de imposição de um corpo de crenças – de “como as coisas são” – pode ser fornecido pelo liberalismo-econômico (sobretudo o da chamada Escola Austríaca: Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises, Henry Hazlitt, Israel Kirzner, Murray Rothbard e Friedrich Hayek, dentre outros). O individualismo metodológico desses pensadores é tomado como uma ciência, ou seja, é um conhecimento, um saber sobre o indivíduo portador de uma mente (que seria o ser humano) e sobre a ação humana, que seria, por sua vez, capaz de explicar o comportamento coletivo a partir dos comportamentos dos indivíduos. Ora, se existe essa ciência, se é possível adquirir esse conhecimento, então os que são nela versados (nessa ciência) ou possuem tal conhecimento, estão mais preparados do que os demais para entender os processos de regulação de conflitos (a política propriamente dita) e, por decorrência, para intervir de forma correta (ou mais correta) nesses processos. Isso é um cognitivismo (com raízes bem fincadas no meritocratismo e no platonismo), não um interativismo.
Assim, a ideia de uma natureza humana, a ideia de que o ser humano é, por natureza (ou inerentemente) competitivo, a ideia de que é possível explicar o comportamento coletivo a partir do comportamento dos indivíduos, a ideia de que os indivíduos se movem buscando sempre melhorar a sua vida, ou tentando maximizar a satisfação de seus interesses ou, ainda, buscando realizar plenamente suas preferências – ao fim e ao cabo egotistas – todas essas ideias, sejam ou não validadas pela ciência (e boa parte delas não o são, se considerarmos, por exemplo, as ciências da complexidade e a chamada nova ciência das redes, e pelo menos Hayek teve lampejos de presciência – ou seria pré-ciência? – sobre isso), são ideias que em nada favorecem, quando não dificultam, a apreensão da democracia. Em primeiro lugar porque são absolutamente desnecessárias para a opção pela democracia. Em segundo lugar porque erigem uma instância de validação extra-política. Novamente, se há um conhecimento que explica “como as coisas são”, inclusive em termos políticos, quem possui tal conhecimento não se iguala aos que não o possuem – o que gera necessariamente desliberdade.
Não há nada natural na política. A política é um tipo de interação (social). O social não é natural. Não há uma natureza humana, a não ser para descrever características da espécie biológica Homo Sapiens (ou, com boa vontade, do gênero Homo) – que é apenas humanizável, não o humano consumado: com perdão pelo mau-jeito do neologismo, há uma “socialeza” humana (isto é, precisamente, o que significa dizer que não existe nada como o Zoon Politikon aristotélico: não há uma substância política original associada à condição da espécie, mas um fenomenologia que se manifesta na entreidade, porquanto só se revela quando os humanos interagem uns com os outros).
Os seres humanos tornados políticos (quando interagem coletivamente para regular seus conflitos) não precisam ser fieis a características herdadas da sua suposta natureza, não estão subordinados a qualquer epigênese (como as 8,7 milhões de espécies de seres vivos que existem no planeta Terra), podem ser – na sua esfera propriamente política de ação – infiéis à natureza (no sentido mais ampliado do conceito, de como as coisas são). Do ponto de vista da democracia, assim como os seres políticos não são escravos nem súditos de seres humanos, de deuses ou de leis naturais, também não o são de leis da história. Isso nos leva ao terceiro e último ponto.
História
As visões de que há uma história, de que a história tem leis que podem ser conhecidas por quem tem o método correto de interpretação da história, de que há uma ciência, ou melhor, uma filosofia da história, de que a história vai para algum lugar, em razão de uma imanência (alguma substância que carregaria em seu ventre) e, portanto, de que a história tem um sentido que pode ser apreendido antes dos eventos (que ainda não aconteceram), também leva diretamente à autocracia, não à democracia.
Embora filosofias da história tenham aparecido na antiguidade e na idade média, por exemplo, com Joaquim de Fiore (c.1132-1202), com sua teoria dos três tempos (do Pai, do Filho e do Espírito Santo), inspirando talvez o Sebastianismo e, no Renascimento, com pensadores como Giambattista Vico (1725) e sua Scienza Nuova e ainda que haja sempre uma forte raiz hegeliana na construção posterior de qualquer ontologia da história, o marxismo foi o principal responsável pela difusão de um corpo de crenças que tem como postulado fundamental (evidente por si mesmo, que dispensa provas – só corroborações discursivas) a ideia de que a luta de classes é o motor da história. Daí saem todos (ou quase todos) os marxismos (do marxianismo do primeiro Marx, passando pelo Marx de 1859, ao marxismo-leninismo, ao marxismo-gramscismo e a praticamente todos os outros).
A luta entre grupos sociais (chamados de classes) que move a história pressupõe uma filosofia da história. A história passa a ser, nessa filosofia, uma consequência de algo imanente guardado em seu corpo, que a leva para um lugar (e não para outro). Mas a história (supondo que se possa falar de “a” história, no sentido de uma história – e não se pode) não vai para lugar nenhum. Nós é que vamos, ou não vamos. E vamos ou não vamos escorrendo por creodos que estão presentes no campo social e que dependem das configurações dos fluxos interativos da convivência social. Se acreditamos que existe uma história com um mecanismo embutido que lhe dá sentido, também podemos acreditar que o conhecimento desse mecanismo será capaz de nos revelar as suas leis. E aí já estabelecemos uma distinção geradora de poder, separando os que conhecem essas leis dos que não as conhecem. Os que não as conhecem devem ser então conduzidos pelos que as conhecem para que possa se cumprir o desiderato histórico. Note-se aqui que não é uma interação de opiniões que conduz a história (seja o que for) e sim um saber sobre a história que confere a alguns agentes a capacidade distintiva de orientar os demais. O agente tem a episteme que o coloca num patamar diferente da massa que só possui a doxa. Isto é, rigorosamente falando, um platonismo que, como todo platonismo, só pode levar à autocracia, não à democracia.
Dizendo o mesmo de outra maneira para resumir. Se a história tem um sentido antes dos seres humanos atribuírem-lhe tal sentido com suas ações, então não pode haver liberdade (que é sempre liberdade de atribuir sentidos e de mudar a atribuição de sentidos). Se a história tem um sentido e se esse sentido puder ser conhecido de antemão, então alguns (que conhecem tal sentido) estarão sempre mais corretos do que outros por razões extra-políticas.
É tudo a mesma coisa
Tanto a ciência de deus (ou o conhecimento de desígnios supra-humanos), quanto a ciência da natureza (ou o conhecimento de como as coisas são), quanto a ciência da história (na verdade de qualquer filosofia que lhe dê sentido) são corpos de crenças colocados como filtros para transformar o caos da experiência humana comum em ordem autocrática. É por isso que a adesão à democracia não pode depender dessas crenças (sejam teológicas, teosóficas, científicas ou filosófico-ideológicas). Não pode haver conteúdo a ser assimilado como condição para alguém preferir a democracia à autocracia. Se houver, essa pessoa que se transformou em seguidor de uma visão, será um fiel, não um infiel. E, como tal, será um agente – ou uma peça – de um sistema autocrático.
Eis as razões pelas quais os seguidores de vertentes míticas, sacerdotais e hierárquicas do chamado ocultismo ocidental, assim como os fiéis religiosos do catolicismo tradicional e de outras religiões, sobretudo de religiões políticas como o islamismo, têm tanta dificuldade com a democracia. Embora suas elaborações – e visões de mundo – sejam muito diferentes, de um ponto de vista interativista, essas razões são as mesmas pelas quais seguidores de von Mises e de Marx têm dificuldades com a democracia. Em primeiro lugar porque são seguidores e a democracia é para não-seguidores: é um erro (no script da Matrix), não um acerto, quer dizer, um trilhar por um caminho certo. Em segundo lugar porque, todos eles, colocam a adesão a um codex como condição para se fazer (a correta, a boa, a desejável) política. Mas a democracia não é a política ideal, não é a utopia da política: é justamente o contrário. A utopia da democracia é uma topia: é a política feita pelos seres humanos que erram, aprendem com seus erros e continuam errando e aprendendo quando não há ninguém – ainda bem – para lhes dizer, a partir de qualquer instância extra-política, o que é certo.
A democracia não foi inventada uma vez e pronto. Não! Teve que continuar se inventando, vítima de uma maldição (sísifa): a democracia precisa, o tempo todo, impedir que seus próprios governos (os governos que ela abriga) se autocratizem (para fazer isso, os modernos inventaram a fórmula ‘Estado democrático de direito’, sem a qual o Estado-nação faria guerra contra seus próprios cidadãos e, por conseguinte, se autocratizaria). Este é o processo infindável de democratização, que é o que devemos ter em mente quando empregamos o termo democracia.
Essa imagem de uma maldição sísifa evoca a ideia de que Sísifo pode ser tomado como um mito democrático. Os deuses olímpicos ficaram enfurecidos com Sísifo porque ele não reconhecia o seu lugar no esquema cósmico das coisas (uma transgressão imperdoável do mandamento do templo de Delfos, γνῶθι σεαυτόν, transliterado: gnōthi seauton). Sísifo foi então condenado, por sua rebeldia, ao castigo de, por toda a eternidade, rolar uma grande pedra com suas mãos até o cume de uma montanha, sendo que toda vez que ele estava quase alcançando o topo, a pedra rolava novamente montanha abaixo.
A inscrição tão admirada de Delfos, gnōthi seauton (em latim reduzida para “nosce te ipsum”, “conhece-te a ti mesmo”), talvez fosse mais “reconheça o seu lugar no Cosmos”. Mas se não há, nos mundos propriamente sociais (quer dizer, humanos), uma ordem pretérita, estabelecida ex ante à interação, então, nesse sentido, o mito de Sísifo é o mito democrático.
Não há uma hierarquia social que seja natural (ou sobre-natural). Os democratas são os sem-lugar marcado, predeterminado por uma ordem ancestral e estão condenados, como Sísifo, a desconstituir continuamente essa ordem imposta pelos deuses, quer dizer, pelos deuses criados pelos homens à imagem e semelhança dos sistemas de dominação; em outras palavras, estão condenados a desconstituir autocracia – e é isso que os define (e define a própria democracia: nenhuma ordem baseada em filiação, no sangue ou no berço, na força física, na riqueza ou no conhecimento, pode ser mais legítima do que a auto-organização, e não deve prevalecer sobre o governo de qualquer um).
4 – Não são escravos, nem súditos de ninguém
A política é um tipo de interação entre seres humanos, quer dizer, entre os entes sociais que chamamos de pessoas.
Nem o ser humano propriamente dito (a pessoa, não o exemplar da espécie Homo Sapiens ou do gênero Homo – que é humanizável, mas só se torna humano quando humanizado pela interação com outros humanos) é um animal, nem existe nada como um zoon politikón (o animal político inventado por Aristóteles). A política acontece no entre-os-seres-humanos, ou seja, não existe uma substância política original.
Esse tipo de interação enseja que os humanos possam se conduzir socialmente (ou se auto-conduzir) sem terem um senhor, sem serem escravos nem súditos de ninguém, a partir do livre-proferimento de suas opiniões. Isso foi chamado de democracia, a política que tem como fim a liberdade (e não a ordem).
Eis uma das mais antigas referências à natureza da democracia dos atenienses. E surge assim definida por Ésquilo: o regime daquele povo que não tem um senhor. “Não são escravos, nem súditos de ninguém”. A peça foi produzida em 472 AEC., em conjunto com outras duas tragédias e um drama satírico (hoje perdidos), e com elas Ésquilo teria ganho o festival ateniense das Grandes Dionísias daquele ano. Os persas é a mais antiga peça de teatro de que se conhece o texto completo. É de assinalar igualmente que é das tragédias gregas clássicas a única cujo tema se baseia em fatos contemporâneos do autor e não em histórias mitológicas. A ação decorre em Susa, capital da Pérsia, por alturas da Batalha de Salamina (480 AEC), da qual Ésquilo participou como soldado. Curiosamente, esta batalha é analisada pelo lado do inimigo dos gregos, os derrotados persas. A trama roda assim em torno do comportamento dos persas, sobretudo dos nobres persas (representados no coro, logo na abertura), de Xerxes, o rei derrotado perante sua mãe, Atossa, e o fantasma do pai, Dario.
Personagens — Coro, composto de anciãos, distinguidos por nascimento e mérito. Eram os chamados fiéis. | Atossa, viúva de Dario, mãe de Xerxes. | Mensageiro Sombra de Dario | Xerxes, rei da Pérsia, filho de Dario.
“Corifeu
Vencida Atenas, submeter-se-á toda a Grécia.
Atossa
É pois o exército dos atenienses?
Corifeu
Tal como é muitos males já causou ao medas.
Atossa
Tem eles recursos, riquezas suficientes?
Corifeu
Possuem uma mina de prata, tesouro da terra.
Atossa
São arcos e flechas que lhes armam as mãos?
Corifeu
Não; mas fortes espadas, firmes escudos.
Atossa
Quem é seu senhor? Quem lhes comanda o exército?
Corifeu
Não são escravos, nem súditos de ninguém.
Atossa
Como poderão resistir e enfrentar o inimigo?
Corifeu
Não destruíram, porventura, o soberbo exército de Dario?
Atossa
Triste presságio para as mães dos que partiram.”
Não é necessário – conquanto seja desejável – que os humanos que interagem na comunidade política sejam iguais do ponto de vista sócio-econômico. Assim, pode haver desigualdade sócio-econômica e, mesmo assim, a democracia se exercer, mas o que não pode haver é desliberdade, isto é, desigualdade política.
A democracia também não exige que seus interagentes sejam virtuosos, nem que tenham as mãos limpas. Não é um sodalício de seres puros, retos e perfeitos, como queriam os pitagóricos (e por isso eles eram autocratas, não democratas). É apenas um modo não-guerreiro de regulação de conflitos em uma comunidade de seres humanos realmente existentes, que não querem – repita-se – ter um senhor, mas com todos os seus vícios, impurezas, curvaturas e imperfeições. Portanto, nada disso – dessas imperfeições humanas – ameaça de morte ou inviabiliza a democracia, senão a vontade, levada à prática, de alguém (mesmo que seja o ser mais honesto e limpo do planeta, um clone de Mahatma Gandhi ou de Francisco de Assis) de estabelecer um domínio sobre a comunidade dos imperfeitos e sujos humanos.
5 – A democracia é terrestre
Quando os antigos hebreus (apirus) disseram, sob inspiração profética, que “só o Senhor é Deus”, originalmente isso não queria significar que só havia um deus (o deus único – no sentido de que era seu ou só seu, o único existente e verdadeiro – que aquele povo chamava de Senhor), mas sim o oposto, que “só Deus é Senhor”, ou seja, que não se devia obedecer a senhores humanos. Os hebreus, como se sabe, eram os Sem Reino numa Canaã já coalhada de cidades monárquicas, muradas e fortificadas, do primeiro milênio a. E. C. E antes de serem capturados por regimes autocráticos, perambulavam como turbas, sempre fora das muralhas das cidades-Estado. Quem duvidar, como já foi dito, deve ler 1 Samuel 8 ou o relato da Assembléia de Siquem.
Este é também também o significado do dito evangélico “Dai a Cesar o que é de Cesar e a Deus o que é de Deus”. Não que se devia pagar impostos a Cesar (como se o próprio deus consentisse com a existência de senhores humanos e houvesse então um poder espiritual legitimando um poder temporal) e sim que Cesar, um senhor humano, não era Deus (confrontando a narrativa religiosa do império romano, segundo a qual seus imperadores eram deuses, tanto que para eles se erigiam templos e se organizavam cultos). Os primeiros cristãos foram chamados de ateus, por Nero, porque não acreditavam no imperador.
Para a democracia, mesmo um deus não pode ser senhor, transformando os humanos em seus escravos, servos ou súditos. A expressão “servo de Deus” – fora do seu sentido negativo de que os humanos não são (ou não devem ser) servos de outros humanos – é uma abominação autocrática.
Quando os atenienses do século 5 a. E. C. disseram que não tinham um senhor, isso não era uma afirmação de ateísmo, pois continuavam reverenciando os seus deuses, conquanto ressignificados pela democracia: para citar dois exemplos, o Zeus Agoraios (nume tutelar da livre-conversação na praça do mercado) e a deusa Peitho (a persuasão deificada, pois persuasão é expressão do modo não-guerreiro de regulação de conflitos que é o genos da democracia).
Esses deuses, porém, não comandavam os assuntos humanos, o que quer dizer que, se havia reverência ou mesmo devoção individual, não havia obediência coletiva aos seus ditames – interpretados necessariamente por sacerdotes – nas decisões da koinonia, a comunidade política. Se eles “não são escravos, nem súditos de ninguém”, aí de ninguém é de ninguém mesmo: nem de um deus.
Os deuses da democracia ateniense eram realidades extra-políticas que, como tal, não podiam intervir no processo político. Ora, sendo assim, tudo bem para a democracia.
Por isso a democracia não é ateia e sim laica. Ela pode conviver com deuses (acredite, quem quiser, nos deuses que quiser), o que a democracia não pode é ser um regime dirigido por uma entidade sobrenatural (ou melhor, sobre-social) se a vontade dessa entidade é interpretada por intermediários humanos (os sacerdotes). O que não se pode fazer, na democracia, é recorrer a argumentos religiosos para validar ou invalidar comportamentos políticos (e é isso o que significa dizer que ela é laica).
Eis a razão pela qual as religiões não são democráticas. Porque as religiões não têm a ver com a crença em um ou vários deuses: elas só se estabelecem quando se conformam corpos de sacerdotes (docentes) destacados do corpo social (discente), que passa então ser encarado como rebanho (ainda que de um deus, mas não importa, pois o problema é que há sempre algum estamento humano, supostamente instituído por esse deus, autorizado diferencialmente a interpretar a sua vontade ou dar a versão válida sobre o seu legado, oral ou codificado em uma escritura sagrada). Por isso dizia Jung – embora não com esta interpretação – que a religião é uma proteção contra a experiência de deus.
Se cada pessoa, que acredita em deus, for o seu próprio sacerdote, não há problema. Se várias pessoas que acreditam em deus tiverem os seus sacerdotes, também não há problema, desde que eles não queiram conduzir as decisões políticas. O problema é a intervenção de uma casta sacerdotal nos assuntos políticos e a validação ou invalidação de comportamentos políticos com base em critérios extra-políticos.
Mas há mais. A democracia é terrestre, não celeste. Para entender isso é necessário ver que a autocracia, como modo de regulação estável, surge – quase três milênios antes da democracia (também como regime estável) – sob o domínio de deuses sobrenaturais (celestes), que exigiam intermediação e culto. Devoção (avod) era, na verdade, trabalho para os deuses (quer dizer, para os seus intermediários e prepostos). Quem precisa de um céu (quer dizer, de uma utopia, um não-lugar) é a autocracia, não a democracia.
Na verdade, tudo isso foi uma invenção de sacerdotes (que sagravam reis e abençoavam guerreiros: pois este é o genos da autocracia). Por isso sempre há um fundamento religioso nas autocracias antigas: os primeiros reis eram instituídos e ungidos pelos próprios deuses (por intermédio, é claro, dos seus sacerdotes). Na Mesopotâmia antiga, os reis eram chamados de Lugal (homem poderoso), eram substitutos do deus da cidade-Templo-Estado (pois cada qual tinha o seu deus-senhor-governante) e dizia-se que a realeza “descia” dos céus (como em Kish, na Suméria, onde teria “descido” pela primeira vez). Mesmo vários milênios depois, os reis continuaram a ser sagrados por sacerdotes (que colocavam as coroas nas suas cabeças) e persistia a ideia de um direito divino dos reis, no plano simbólico um sangue (azul) diferente do sangue (vermelho) comum, uma dinastia com direito de reproduzir o senhorio com base em descendência genética (novamente o sangue). Sim, autocracia tem a ver com sangue, arrancado pela espada abençoada pelo cetro (ou báculo) de quem “descia” a coroa sobre a cabeça dos que se sentavam no trono. Nesta frase estão resumidos os principais elementos simbólicos (ou rotinas do programa básico) da autocracia.
E nas autocracias ateias é a mesma coisa: há sempre uma doutrina, com status de religião do Estado e há sempre sacerdotes (os dirigentes partidários) e, em alguns casos, também dinastias baseadas em laços de sangue, como na Coréia do Norte: Kim Jong-un é filho de Kim Jong-Il e neto de Kim Il-sung, o fundador do Partido dos Trabalhadores da Coreia (o único do país, que funciona, para todos os efeitos, como uma espécie de igreja, cumprindo o papel de religião a ideologia oficial Juche).
Mas a democracia não se aplica, porque não faz o menor sentido, em sociedades (pré-patriarcais) que cultuavam deuses naturais, como os bandos de coletores e caçadores, as tribos paleolíticas e até as aldeias neolíticas, onde, se havia alguma distinção, não havia separação entre sagrado e profano.
Deuses naturais não ensejaram a conformação de estamentos sacerdotais estáveis, que – como não trabalhavam – para se reproduzir (artificialmente) urdiram ensinamentos a ser transmitidos diferencialmente aos componentes dos seus estamentos. Isso só aconteceu quando os deuses passaram a ser sobrenaturais e o acesso a eles não podia ser dar a não ser em estado de obediência a um corpo de intermediários.
A ideia evangélica de um deus como espírito santo que está entre-nós (e não acima de nós), manifestando-se na comunidade dos amantes (toda vez que eles se amam) era potencialmente subversiva da autocracia, mas logo foi recuperada e desvirtuada pela hierarquia religiosa. E esta, sim, seria uma concepção de deus mais compatível com a democracia, conquanto isso não tenha consequências práticas (a democracia pode conviver com qualquer deus acreditado pelas pessoas, menos na circunstância em que alguém, em nome desse deus, queira materializar um plano divino, urdido fora da interação política, para conduzir os humanos).
A democracia surge, justamente, como um processo de desconstituição de autocracia, como uma brecha na cultura patriarcal de sociedades que cultuavam deuses sobrenaturais, inalcançáveis, não apenas acima de nós, terrestres, mas altíssimos, que queriam (por intermédio de seus sacerdotes) transformar os humanos em seus escravos, servos ou súditos.
6 – Liberdade como último valor
No debate público que se trava atualmente no Brasil poucas pessoas entendem que a prioridade dos democratas não é combater a corrupção e sim a autocratização (a redução dos graus de liberdade). A democracia não é o regime sem corrupção e sim o regime sem um senhor. Quem tem um senhor não pode ser livre. É claro que se você é um analfabeto democrático, que acha que o maior objetivo que alguém pode ter na vida é limpar o mundo dos maus, não vai entender. Sinto muito. Quem sabe na “próxima encarnação” você compreenda por que a ideia de pureza é maligna e que a liberdade é o principal – o primeiro e último – valor da humanidade.
Dizer que a liberdade é o principal valor da vida pública é compreensível. Os democratas e os verdadeiros liberais (os liberais-políticos, mas nem todos os liberais-econômicos) o dizem. Agora, dizer que a liberdade é o primeiro e o último valor da humanidade, isso não é nada trivial.
Em outras palavras, equivale a afirmar que a liberdade não é para alguma coisa (não, não é para aumentar a prosperidade, como querem alguns adeptos das doutrinas da Escola Austríaca) e sim que ela é a coisa-em-si, o fim, a finalidade, o sentido. Ou seja, a liberdade não é funcional para a igualdade e nem meio para a fraternidade. Aliás, o batido trístico da Revolução Francesa tem muito menos de democracia do que se pensa.
Se a humanidade, quando consumada, passar a ser a designação de um super-organismo humano (atenção: humano, não sobre-humano), como um simbionte social, mesmo assim, ela, a liberdade, continuará sendo o principal valor, o primeiro porque a constituiu como tal (em prefiguração) e o último porquanto (em consumação) a libertou de todos os condicionamentos. Quando não houver mais nada que precise ser feito, o que restará é a liberdade. A liberdade consiste em fazer o desnecessário.
A liberdade é o último valor porque ou a humanidade poderá ser infiel à sua origem e se tornar completamente independente da trajetória que a gerou, ou não haverá humanidade (e, consequentemente, liberdade).
A humanidade não é o resultado de nenhuma epigênese, de nenhuma evolução. Aconteceu por acaso, sem que houvesse um desenvolvimento regido por uma lei (imanente), ou consonante com uma ordem cósmica pregressa. Acaso significa que não pode ter havido uma criação, nem mesmo emanação de alguma potência (transcendente). Se há evolução ou criação, não pode haver liberdade. Outra coisa é dizer que os humanos são livres para crer no que quiserem: numa ordem natural (explicada pela ciência), histórica (descoberta pela filosofia) ou sobrenatural (afirmada pela religião). Mas se há uma espiritualidade terrestre – humana, não sobre-humana – ela em nada poderá se diferenciar da liberdade.
As ideias de “liberdade negativa” (Isaiah Berlin) e de “sociedade aberta” (Karl Popper) são preciosas para os democratas. Mas não dizem tudo sobre as dimensões mais profundas da liberdade: a liberdade de ser infiel à sua origem (quer dizer, a de ser livre de qualquer passado, de qualquer path-dependence) e a liberdade de não ter propósito, de não ter rumo (quer dizer, a de ser livre de qualquer futuro, de qualquer utopia e, a rigor, de qualquer projeto).
Passado e futuro são formas de narrar o presente (que é só o que existe: o mundo como conjunto co-presente de eventos). Estamos falando, portanto, da liberdade em relação às narrativas, ou seja, ao que se chama de história e aos projetos de cavar sulcos para fazer escorrer por eles as coisas que ainda virão. Tanto as tentativas de modificar o passado para predeterminar um caminho para o futuro, quanto as tentativas de antever o futuro para alterar o passado (e, a partir daí, predeterminar então um novo caminho para o futuro), são operações para restringir a liberdade. Se há liberdade, não pode haver caminho (e vice-versa).
O fluxo interativo da convivência social é composto por linhas temporais possíveis, não determináveis ex ante à interação. Escolher uma linha particular significa eliminar as outras (e toda eliminação de conexões – mesmo temporais – resulta em desliberdade). Por isso o passado e o futuro têm de continuar sendo incertos. Afirmo que, sem essa incerteza, não pode haver liberdade.
7 – Fermento não é massa
As pessoas sempre perguntam como fazer a população entender o valor da democracia. Ora, não há como fazer a maioria da população entender isso. É por esta razão que os democratas sempre fomos minoria. Não elite, mas minoria mesmo.
Nosso papel – dos democratas – é ser agentes fermentadores da formação de uma opinião pública, não arregimentar seguidores. Claro que quanto mais fermentadores existirem, mais fácil será cumprir esse papel. Mas as pessoas não se convertem à democracia a partir de ideias (de liberdades civis e direitos políticos).
A adesão à democracia exige um emocionar antes de ser uma escolha racional. Um emocionar de insatisfação, de repulsa mesmo, que não se conforma com a autocracia como modo-de-vida.
As pessoas – com sua inteligência – podem até conhecer o que se diz sobre a democracia, mas não conseguem ter um entendimento profundo do que ela significa. Aprender democracia exige um entendimento profundo. Mas aprender democracia é desaprender autocracia. Não é aderir a uma crença ou ser fiel de uma nova espécie de religião. Não é seguir uma doutrina. Não é adotar um modo de vida virtuoso.
Como escreveu Celso Lafer, em artigo no Estadão em 20/05/2018:
“A democracia é uma contínua “ideia a realizar”. É ao mesmo tempo uma cultura e uma prática, um aprendizado. Não é, como lembra Octavio Paz, um absoluto, mas um método de convivência civilizada, livre e pacífica. Não assegura, porém, nem a felicidade nem a virtude”.
As pessoas, porém, têm imensa dificuldade de entender isso. Que não é uma utopia. Que não é o regime reto, puro e perfeito, mas um tipo de interação (política) entre seres humanos realmente existentes, com todas as suas curvaturas, impurezas e imperfeições. Que não é o regime sem corrupção e sim o regime sem um senhor.
Por isso, o melhor caminho para entender e tomar a democracia como um regime preferível aos demais (e, além disso, um modo-de-vida ou de convivência social preferível aos demais) é viver algum tempo sob o jugo de um senhor, mesmo que seja um senhor bom, capaz de nos cavalgar com gentileza e resolver nossos problemas por nós. Quem teve a experiência de autocracia pode aquilatar melhor o valor da liberdade.
Mas nem todas as pessoas valorizarão isso: muitas preferirão ser governadas pelo sultão de Brunei (que, além de tudo, ainda concede uma espécie de “bolsa-família” polpudo aos seus súditos). Ou seja, muitos preferirão a segurança de ser súditos bem-tratados por seu senhor do que a incerteza de ser cidadãos livres e não saber se vão ter o que comer no final do dia ou se vão conseguir pagar as contas no final do mês.
Por tudo isso, os que são capazes de captar o genos da democracia (como um processo de desconstituição de autocracia que ocorre toda vez que regulamos conflitos de modo pazeante ou não-guerreiro) e de defender proativamente a democracia, continuarão sendo minoria.
Mas é isso mesmo: o papel de “fermento” que cumpre essa minoria é capaz de afetar toda a “massa”. Não dá para formar patota com isso.
8 – Nossos atos cotidianos, singulares e precários
A política da destruição leva a mais destruição. Funciona como a espiral da vingança. Cortar cabeças pede sempre mais cabeças. A perspectiva dos vingadores é sempre apocalíptica. Mas como não haverá um Armagedom, após o qual surgirão novo céu e nova terra, não há solução fora da democracia.
Os que esperam que tudo será resolvido por uma enchente amazônica ou por uma explosão atlântica só conseguirão levar as multidões ao pânico. A solução não advém, nem sobrevém. Ela só pode ser construída por nossos atos cotidianos, singulares e precários, de ampliação da liberdade e da igualdade em todos os lugares, no Estado e na sociedade.
Quem não entendeu isso, não captou a essência (o genos) da democracia.
A sociedade é fêmea (seu bios é a rede-mãe). A via seca dos velhos alquimistas a ela não se aplica. Sua dinâmica é mais parecida com a da formação de um clone fúngico do que com a de uma erupção vulcânica. O processo é úmido: passa por repetidas operações de fermentação, destilação, calcinação, dissolução, sublimação, coagulação, separação e união. E depois começa tudo de novo.
Quem não suporta essa espera – ou seja intermitência – e quer resolver tudo de uma vez acaba aderindo a algum milenarismo ou conspiracionismo. Ou apostando num salvador com poderes sobre-humanos (quer dizer, antidemocráticos).
Sim, como já vimos, a democracia é terrestre. Se fosse utópica, seria celeste.
9 – Miríades de Atenas glocais
Esta reflexão já foi publicada como introdução do presente texto.
10 – Socialismo é compatível com democracia?
Algumas pessoas perguntam se é possível compatibilizar socialismo com democracia. Ora, a democracia é sem doutrina. É um modo de regulação de conflitos. A pergunta não faz sentido. Se alguém se diz a favor do socialismo ou do capitalismo e observa os princípios democráticos, tudo bem. Mas a democracia não tem a ver nem com socialismo, nem com capitalismo – é outra coisa. E quais são os princípios democráticos?
I – O direito de todos os adultos de votarem e serem votados.
II – A existência de freios e contrapesos institucionais ao poder dos representantes e um judiciário independente.
III – O controle civil sobre os militares.
IV – A igualdade legal para todos os cidadãos dentro de um Estado de direito, em que as leis são claras, conhecidas, universais, estáveis e não retroativas.
V – A liberdade individual de credo, opinião, discussão, fala, publicação, reunião etc.
VI – A liberdade para minorias étnicas, religiosas, raciais e outras minorias para praticarem sua cultura e sua religião tendo igual direito à participação política em um Estado laico.
VII – Uma genuína abertura e competição na arena política.
VIII – A real pluralidade de fontes de informação.
IX – A existência de formas de organização independentes do Estado.
X – O respeito aos direitos humanos e não utilização de práticas de tortura, terror, detenções não justificadas, exílio, interferência na vida das pessoas pelo Estado ou atores não-estatais.
Se os princípios acima forem observados qualquer um pode se declarar como quiser: comunista ou socialista, capitalista, anarquista, anarcocapitalista, fascista, nazista, islamista, cristão-fundamentalista, secular-militarista, monarquista-tradicionalista, conspiracionista-antiglobalista, Jedi ou Sith, adepto-ocultista da grande fraternidade branca (ou negra), fiel do “deus de Trump”, seguidor dos superiores desconhecidos das Plêiades, servo dos Anunnaki… Entenderam?
As condições ou critérios para uma democracia ser considerada liberal (aqui reorganizados em dez itens) foram sugeridas por Larry Diamond (2008) em The Spirit of Democracy: The struggle to build free societies throughout the world (New York: Henry Holt & Cia, 2009). Mas um ano antes, no livro Alfabetização Democrática (2007), já aparecia uma lista semelhante:
“No sentido “fraco” (e pleno) do conceito, democracia se refere atualmente a um tipo de regime – na acepção de sistema de governo ou forma política de administração do Estado – em que os governantes são escolhidos pelos governados e que atende aos seguintes requisitos: 1) liberdade de ir-e-vir e de organização social e política; 2) liberdade de expressão e crença (incluindo hoje o direito de pesquisar, receber e transmitir informações e idéias sem interferência por qualquer meio, inclusive no ciberespaço); 3) liberdade de imprensa stricto sensu e lato sensu (existência de diversas fontes alternativas de informação); 4) publicidade (ou seja, transparência capaz de ensejar uma real accountability) dos atos do governo e inexistência de segredo dos negócios de Estado quando não estejam envolvidas ameaças à segurança da sociedade democrática e ao bem-estar dos cidadãos; 5) direito de voto para escolher representantes (legislativos e executivos) pelo sistema universal, direto e secreto; 6) condição legal de votar implicando condição de ser votado; 7) eleições livres, periódicas e isentas (limpas); 8) efetiva possibilidade de alternância no poder entre situação e oposição e “aceitabilidade da derrota”; 9) instituições estáveis, capazes de cumprir papéis democraticamente estabelecidos em lei e protegidas de influências políticas indevidas do governo; 10) legitimidade: para ser considerado legítimo o ator político individual ou coletivo deve respeitar – sem tentar falsificar ou manipular – o conjunto de regras que emanam dos requisitos acima mencionados, não lhe sendo facultado modificá-las ou delas se esquivar com base no argumento de que conta, para tanto, com o apoio da maioria da população, mesmo diante de evidências ou provas de seus altos índices de popularidade ou, ainda, com base na crença de que possui a “proposta correta” ou a “ideologia verdadeira” para alcançar qualquer tipo de utopia, seja ela o império milenar dos seres superiores ou escolhidos, o reino da liberdade ou da abundância para todos, para redimir a humanidade ou parte dela ou para salvar de algum modo a espécie humana. Esse é o sentido “fraco” do conceito de democracia, em sua concepção máxima ou plena”.
A democracia tem a ver com liberdade e, portanto, com igualdade política (isonomia, isologia e isegoria no que tange às opiniões). Não pode colocar a igualdade sócio-econômica como condição para alcançar a (verdadeira) liberdade, pois neste caso nunca teria havido democracia. Além do quê, é através da liberdade que as pessoas podem conseguir mais igualdade, do contrário teriam de consegui-la em virtude da boa-vontade de um senhor (um autocrata), o que contradiz a essência da ideia de democracia.
11 – A democracia é lírica, não épica
É impossível explicar rapidamente um conjunto de observações sistemáticas, investigações e explicações que levaram décadas para ser reunidas, decodificadas e interpretadas. Basicamente, porém, uma tentativa de resumo pode ser a do velho Ésquilo, em Os Persas (472 a. E. C.): a democracia é não ter um senhor e, por extensão, não ter heróis ou seres, em algum sentido, superiores a nós, seja mandando-nos fazer qualquer coisa que não desejamos, seja nos revelando um verdadeiro passado (que estaria oculto aos olhos do vulgo), seja nos orientando sobre qualquer futuro pré-figurado, que consumaria nosso destino como povo eleito, grande nação e outras porcarias autocráticas semelhantes.
Ora, nós – os democratas – somos o vulgo. Nós somos aqueles que não reconhecemos a não ser os iguais a nós e através dos quais somos o que somos e somos como somos, porque queremos ser o que somos, porque seremos o que seremos e não porque devamos repetir o que fomos (ou que alguém quer dizer que fomos para tornar-nos repetição de um sonho que sonharam sem nós). Nós desobedecemos a esses criadores de narrativas, codificadores de doutrinas, determinadores de caminhos e colonizadores de consciências.
Não, os democratas não cultuamos heróis. Nossa perspectiva é lírica, não épica. Nenhum dos incensados (e construídos) gigantes que nos antecederam é superior (nem inferior) a nós. E mesmo que tivessem sido, em algum sentido, superiores, nós, diante deles, não nos curvaríamos. Nenhuma reverência prestamos-lhes por terem mais força, mais riquezas ou mais conhecimento ou pelo fato de trazerem no “sangue” as mônadas que constituirão uma nova raça. Mesmo se deuses fossem, não os idolatraríamos, nem lhes prestaríamos qualquer tipo de culto. O único culto que aceitamos é permanecer abertos a ser modificados pelo outro, mas o outro-imprevisível, não o outro escolhido e aceito, iniciado, preparado, purificado e aperfeiçoado e sim o outro qualquer mesmo, que compõe e representa, fractalmente, a humanidade inteira.
Nós somos os profanos, os sujos, os impuros, os curvos, os ignorantes dos segredos incógnitos, os que não aceitam ser regulados por nenhuma sabedoria, os que não pagamos um centavo por nenhuma verdade superior. Terrestres é o que somos, e sujos de terra, sim, a democracia é terrestre, não celeste, angélica ou divina como as doutrinas que legitimam as autocracias.
Nós somos os que desobedecem – a qualquer ser humano ou a qualquer deus que não esteja (e seja) entre-nós -, os que não repisamos caminhos já traçados, os que não nos deixamos levar por sulcos que foram cavados para fazer escorrer por eles as coisas que ainda virão.
12 – Mas qual democracia?
Muita gente pergunta: qual democracia? O que está subsumido na pergunta é a opinião de que existem diferentes visões da democracia. Assim, cada qual poderia ter a sua própria (visão da) democracia.
Mas se a democracia puder ser qualquer coisa, então o conceito ficará imprestável. Por isso é necessário captar o genos da democracia, o que a distingue de todos os outros regimes políticos (aristocracia, oligarquia, tirania: para ficar na caracterização de Platão). Ou, forçando um pouco, como “forma de sociedade” (como quis Lefort).
O que há de característico, invariante, exclusivo (ou inclusivo) que permite chamar com o mesmo nome (democracia) a democracia ateniense (surgida como processo de desconstituição da tirania dos psistrátidas, que durou de 509 a 322 AEC) e a democracia reinventada pelos modernos no século 17 (provavelmente a partir da resistência parlamentar ao poder despótico de Carlos I, na Inglaterra)?
A quem devemos apelar para dirimir as dúvidas sobre o que é e o que não é democracia? Não há a quem apelar.
Não existe propriamente uma tradição democrática.
Não sobreviveu nenhuma obra sobre teoria política escrita por um democrata da Grécia clássica, onde a democracia foi inventada pela primeira vez pelos atenienses.
Os escritos de Protágoras e de outros sofistas (que eram, em parte, os democratas do pedaço), assim como os de Clístenes, Efialtes, Péricles e Aspásia (se é que escreveram alguma coisa), se perderam.
Sócrates não deixou nada escrito e todos os relatos sobre sua vida e suas ideias foram elaborados por autocratas. Cotejando todas as apologias de Sócrates e as narrativas sobre seus feitos, pode-se concluir que ele desprezava a democracia e, juntamente com seus discípulos, jamais aceitou a polis onde nasceu, viveu e foi corretamente condenado (não pelas suas opiniões antidemocráticas e sim pelas consequências de seus ensinamentos: seus mais famosos seguidores, como Cármides, Crítias e Alcebíades, se transformaram em perigosos e sangrentos golpistas contra a democracia, financiados pela ditadura espartana).
Xenofonte, o Pseudo-Xenofonte (talvez Crítias) e Platão eram autocratas, defensores da aristocracia militar de Esparta e inimigos figadais da democracia.
Tucídides, por meio do qual conhecemos partes de um discurso democrático de Péricles, não era um democrata.
Aristóteles também não entendeu bem a democracia, fez parte da Academia de Platão (que era, na verdade, um centro de formação de tiranos) e aceitou ser preceptor de Alexandre (um autocrata que foi responsável, juntamente com seu pai Filipe da Macedônia, pelo fim da democracia ateniense).
Os autores romanos – como Cícero – nunca tomaram o sentido da política como a liberdade e a República que tanto exaltaram era uma oligarquia disfarçada, não um regime que pudesse incorporar e valorizar a isonomia, a isologia e a isegoria no tocante às opiniões.
Tivemos que esperar dois mil anos até que aparecessem pensadores democráticos (como Spinoza).
Mesmo assim, talvez se possa construir uma linha imaginária de desenvolvimento do pensamento democrático, costurando escritos de pensadores tardios que lograram captar diferentes aspectos do genos da democracia, dentre os quais não podem faltar:
Althusius,
Spinoza,
Rousseau,
Jefferson,
Madison,
Paine,
Tocqueville,
Mill,
Dewey e
Arendt.
E depois, pelo menos,
Berlin,
Popper,
Dahl,
Lefort,
Bobbio,
Havel,
Castoriadis,
Maturana,
Dahrendorf,
Rawls,
Sen e
Rancière.
Este é um possível caminho das pedras para captar (ou, talvez, sintetizar) o genos da democracia.
Existirão outros caminhos? É duvidoso. Pode-se sempre acrescentar outros nomes às listas acima (que, com uma exceção, termina no final do século 20), mas isso não significa propriamente um caminho alternativo.
Quem não ler, pelo menos, os autores citados aqui (incluindo os não-democratas contemporâneos da primeira democracia: como Xenofonte, Pseudo-Xenofonte, Platão, Tucídides e Aristóteles) terá dificuldade de fazer essa síntese; ou melhor, de ter aquela visão “de todos os lados” de que falava Hannah Arendt (c. 1950), em O Sentido da Política (fragmento 3b de seus escritos publicados postumamente por Ursula Ludz).
Sim, é preciso compor diferentes aspectos para sintetizar um “DNA” democrático. Por exemplo:
♥ a democracia como a política propriamente dita, ou seja, a política que toma como sentido a liberdade
♥ a democracia como processo de criação social do commons (no sentido político do termo)
♥ a democracia como o regime sem um senhor (na definição, talvez a primeira escrita, de Ésquilo, em Os Persas)
♥ a democracia como processo de desconstituição de autocracia
♥ a democracia como o regime sem doutrina; ou, a democracia não como um ensinar e sim como um deixar-aprender
♥ a democracia como o regime sem utopia; ou a política como “utopia” (na verdade, topia) da democracia (e não o contrário); ou, ainda, a democracia não como ponto de chegada de uma caminhada e sim como um modo de caminhar
♥ a democracia como o regime da opinião, da interação e da polinização mútua de opiniões, da liberdade de opinião – ou seja, da isologia, isonomia e isegoria no tocante às opiniões, que não desvaloriza a doxa em relação à episteme ou à techné (quando se trata do processo de formação da vontade política coletiva)
♥ a democracia como “metabolismo” de uma rede (mais distribuída do que centralizada) social (quer dizer, propriamente humana) de conversações
♥ a democracia como auto-organização societária (a rigor, comunitária)
♥ a democracia como modo-de-vida ou de convivência social
♥ a democracia como uma brecha no muro da cultura patriarcal; ou como um modo de desprogramar (detox, rehab) cultura autocrática
♥ a democracia como dinâmica neo-matrística ou revivescência de uma cultura matrística (pré-patriarcal)
♥ a democracia como um erro no script da Matrix ou como uma janela para o simbionte social poder respirar
♥ a democracia como um modo não-guerreiro (pazeante) de regulação de conflitos (e, neste sentido, como o contrário da guerra – que é a autocracia)
♥ a democracia como o governo de qualquer um (e não o governo de um, de poucos, de muitos ou da maioria)
♥ a democracia como fruição da liberdade presente (que se materializa quando se interage na comunidade política, após a libertação do reino da necessidade, da servidão da casa ou da família e das exigências sobrevivenciais)
♥ a democracia como fundação constante da polis para encontrar um espaço onde os seres humanos possam se reunir permanentemente, sem necessidade, para gerar uma nova entidade (ou uma nova “espécie social” que surge quando vivemos a convivência); ou, a democracia como criação de novos mundos sociais
Isso não esgota os pontos de vista possíveis. A democracia é atributo da sociedade aberta e, assim, da sociedade que tem o futuro aberto à invenção, portanto, aberta também à reinvenção de passado (ou seja, à possibilidade de construir e reconstruir a sua própria “tradição”).
A DEMOCRACIA É OUTRA COISA…
No fragmento já citado acima Hannah Arendt escreve o seguinte:
“A política não é necessária, em absoluto — seja no sentido de uma necessidade imperiosa da natureza humana como a fome ou o amor, seja no sentido de uma instituição indispensável do convívio humano. Aliás, ela só começa onde cessa o reino das necessidades materiais e da força física. Como tal, a coisa política existiu sempre e em toda parte tão pouco que, falando em termos históricos, apenas poucas grandes épocas a conheceram e realizaram. Esses poucos e grandes acasos felizes da História são, porém, decisivos; é só neles que se manifesta de cheio o sentido da política e, na verdade, tanto o bem quanto a desgraça da coisa política. Com isso, eles tornam-se determinantes, mas não a ponto de poder ser copiadas as formas de organização que lhes são inerentes, e sim porque certas ideias e conceitos que se tornaram plena realidade para um curto período de tempo, também co-determinem as épocas para as quais seja negada uma experiência plena com a coisa política”.
Sustento que essa coisa política é a liberdade, mas não no sentido corrente, usual, da palavra, e sim no sentido que lhe atribuíram os democratas atenienses do século 5 AEC Tal liberdade só podia se materializar na polis – um ambiente social configurado de tal maneira que possibilitasse aos seres humanos permanecerem juntos (sem ser na família ou na guerra) por tempo suficiente para viverem a sua convivência, criando um mundo totalmente inédito (além do mundo natural). Isso não tem nada a ver com prover bem-estar para a população. Não é dar ao povo “casa, comida e roupa lavada” (como da democracia muitos esperam atualmente e, por isso, se desiludem com os regimes democráticos). Isso também não tem a ver com a boa governança.
Arendt acrescenta em outra passagem do mesmo fragmento:
“Os gregos sabiam por experiência própria que um tirano sensato (o que chamamos hoje de déspota esclarecido) era de grande vantagem para o puro bem-estar da cidade e o florescimento das artes tanto materiais como intelectuais. Só a liberdade estava extinta. Os cidadãos eram desterrados em suas casas, e era isolado o espaço no qual se realizava o livre trânsito entre iguais, a ágora. A liberdade não tinha mais nenhum espaço e isso significava: não havia mais liberdade política”.
Por aqui dá para começar a perceber que a democracia é outra coisa… Ou seja, não é exatamente o que a gente pensava.
13 – A democracia como bicicleta
Há várias boas metáforas sobre a democracia, como aquela da plantinha frágil que precisa ser regada diariamente, mas a que prefiro mesmo é a da bicicleta que só se mantém estável em movimento e não tem marcha à ré. Se o processo de democratização não avança, a democracia cai.
Ser conservador é conservar um movimento, não o repouso. Como a bicicleta não anda por inércia, é continuar pedalando, visitando terrenos não percorridos, desconhecidos. A metáfora da bicicleta nos diz que, no caso da democracia, ser conservador é ser inovador.
Seguir adiante (no espaço) é também se aventurar em mundos que (ainda) não existem (no tempo). Tudo que avança é uma sonda lançada ao futuro. É isso a inovação.
A segunda democracia (dos modernos) não conservou as instituições da primeira (dos antigos atenienses). Inovou. A questão é que precisamos continuar inovando, não tentando manter um modelo.
Todos os modelos são contingentes. Têm natureza circunstancial. O que atravessa os diferentes modelos é um processo que ultrapassa circunstâncias: o processo de desconstituição de autocracia que esteve presente no movimento contra a tirania dos psistrátidas, no final do século 6 AEC em Atenas e que também esteve presente na resistência parlamentar ao poder despótico de Carlos I, na Inglaterra do século 17.
Assim como não seria razoável manter intocadas as instituições da democracia ateniense, como a Ecclesia e a Boulé, também não é razoável manter, na forma como foram geradas, as instituições da democracia dos modernos, que teve o azar de ser coetânea à criação de uma nova forma de Estado – o Estado-nação, um fruto da guerra, surgido da paz de Vestfália. Azar das circunstâncias porque democracia significa, justamente, sem-guerra, quer dizer, é um modo não-guerreiro, pazeante, de regulação de conflitos.
A democracia dos modernos, entretanto, superou tais circunstâncias limitantes ao gerar a fórmula do Estado democrático de direito. Do contrário o Estado-nação abriria guerra contra seu próprio povo, ou setores dele, considerando-os como “inimigos internos”.
Conservar as instituições da democracia não é mantê-las como foram e sim atualizá-las constantemente para serem o que podem ser em novas circunstâncias sem perder a característica definidora da democracia como processo de democratização (ou de desconstituição de autocracia).
A democracia não é homeostática e sim alostática, quer dizer, é um sistema afastado do estado de equilíbrio que se mantém estável por ser variável. Se mantém porque é capaz de se modificar. Porque é capaz de mudar não apenas os seus parâmetros de interação com o meio, ajustando os estímulos recebidos de fora e adaptando-os de sorte a manter sua estrutura e sua dinâmica internas anteriores, mas de mudar seus próprios padrões de adaptação em consonância com a mudança das circunstâncias.
Por isso a democracia se parece menos com um juiz sentado na cátedra de um tribunal do que com um tracker pedalando uma bicicleta em um terreno acidentado e mutante.
14 – Democracia como modo-de-vida
Em geral a democracia é tomada como regime político stricto sensu, ou seja, modo político de administração do Estado e, num sentido mais amplo, de modo de regulação de conflitos que ocorrem na esfera política propriamente dita. Pouca gente, além dos primeiros democratas atenienses do século 5 AEC, entendeu que a democracia é também um modo-de-vida, ou melhor, de convivência-social. John Dewey e Hannah Arendt perceberam isso. Maturana também. Mas quantos mais? Claude Lefort? Jacques Rancière, talvez?
Estando claro que a democracia não é o regime para dar “casa, comida e roupa lavada” para o povo, ou seja, que ela não incide propriamente nas condições de vida e sim nas condições de convivência social (inclusive para que as pessoas possam, do seu modo, melhorar as suas condições materiais de vida, mas não só), pode-se colocar a seguinte reflexão.
A democracia nasceu a partir de um desejo de convivência não regulada heteronomamente. As pessoas queriam experimentar viver sem um senhor, quer dizer, na prática, sem guerra (a autocracia é a guerra) e sem serem consumidas pela servidão (Mommsen) da casa (a obrigação cotidiana, estiolante e excruciante, de prover a sobrevivência da família).
Os democratas atenienses descobriram que os seres humanos poderiam permanecer juntos, convivendo livremente em rede, quer dizer, libertando-se do jugo da obediência e do império da necessidade. Sim, eles perceberam que a casa não é a praça. Que na casa não se forma nenhuma koinonia (comunidade) política. Que, para tanto, era preciso ir para a praça.
E descobriram também que se fizessem isso por um tempo suficiente gerariam um mundo novo, quer dizer, não um novo universo físico, nem uma nova natureza, mas uma nova “entidade” social, uma (com perdão do mau-jeito do neologismo) inédita “socialeza”.
Eles não disseram nestes termos, mas o sentido da sua aposta pode ser assim descrito: toda pessoa (quer dizer, não a abstração chamada indivíduo, mas os entrocamentos de fluxos entre humanos que transformam indivíduos em pessoas: como escreveu Norbert Wiener, em 1950, “redemoinhos em um rio de água sempre a correr”) é o primeiro exemplar de uma nova espécie social.
Claro que não se pode fazer isso sem política e por isso a democracia, desde que foi inventada pela primeira vez, definiu-se como um processo de desconstituição de autocracia. Mas também – o que poucas pessoas notam – como um processo de desconstituição do domínio da casa sobre as atividades humanas.
A Ilíada, sobre a coragem (e sobretudo a ira) de Aquiles, aquele que mata na ida e não volta mais e a Odisseia, sobre a astúcia de Odisseu, aquele que mata na volta, mas volta depois de enfrentar inúmeras dificuldades e elimina cruelmente os que, aproveitando sua longa ausência, queriam lhe tomar a casa, de certo modo preparam a cultura grega para aceitar formas de convivência fora da guerra e da servidão da casa. O épico é trágico e começa ou termina em inimizade e violência. Implica sempre exigência, não liberdade. A força desses dois contra-exemplos, quem sabe, possibilitou o surgimento da democracia como uma brecha na cultura patriarcal, guerreira e submetida ao domínio de um senhor e ao império da necessidade. Os heroicos antecedentes homéricos foram transmutados quando o combatente virou convivente, conversante, persuasivo – portanto, mais lírico do que épico e, a rigor, desnecessário a não ser para quem deseja livremente o outro, não para quem a ele se obriga. Neste sentido, talvez, possamos dizer que a Agora ateniense é homérica.
A Agora ateniense pôde-se de dizer homérica no sentido de que ela queria reproduzir parte da convivência – da camaradagem, da solidariedade – que os homens experimentavam epicamente na guerra, nos acampamentos de soldados, porém liricamente, sem-guerra (o “herói” deixaria de ser o combatente passando a ser o convivente), num espaço que se tornou público na medida em que não era mais privatizado pelo autocrata, por certo, mas que também não era privatizado pela família (ou por qualquer outro tipo de organização privada e privatizadora de capital social, com filtros para selecionar quem pode entrar e quem não pode, quer dizer, com desvalorização dos laços fracos em relação aos laços fortes, consanguíneos ou hereditários e, via de regra, hierárquicos).
Impossível não lembrar da Academia que Platão fundou na volta da sua fuga de Atenas para não ser acusado de fazer parte da companhia de Sócrates, recém-condenado pelos seus contemporâneos democráticos (algo assim como a negação de Pedro narrada nos Evangelhos). A Academia era uma proteção contra a polis.
Aqui começa a reflexão sobre a democracia como modo-de-vida.
Qual era a aposta dos primeiros democratas? Interpretando de cá para lá, pode-se dizer que era a seguinte (com outros termos, obviamente): se as pessoas passarem a viver a sua convivência, um outro tipo de vida surgirá. A vida propriamente política, a fruição da coisa política que só pode se dar num espaço público, a criação social do commons (no sentido político do termo e não, certamente, no econômico).
Esta era uma compreensão particularíssima do que chamamos de liberdade. A liberdade depende do modo como os seres humanos interagem. Por exemplo, se eles se isolam e não se associam não pode haver liberdade. Se eles não se associam para contender com um problema ou para realizar um projeto comum nascido dos seus desejos semelhantes ou congruentes, não pode haver liberdade. E se eles não criam novas realidades sociais a partir de tudo isso, não pode haver liberdade. Quando fazem tudo isso, porém, os seres humanos não o fazem porque é necessário e sim, frequentemente, porque é desnecessário. O social é um campo que se cria a si mesmo a partir da interação fortuita, a rigor desnecessária. Isto é a fruição da política. Quem está fora da polis, não pode experimentar a liberdade.
O que vem apavorando e açulando os reacionários não é bem a democracia como modo político de administração do Estado e sim a possibilidade da democracia se instalar na base da sociedade, como modo de vida e convivência social, em virtude da emergência de uma sociedade em rede. Inexplicável seria se uma cultura patriarcal, hierárquica e guerreira (autocrática), replicada durante milênios, não estivesse reagindo à emergência de uma sociedade-em-rede que desabilita suas formas de comando e controle.
Para os liberais stricto sensu (quer dizer, os que tomam o sentido da política como a liberdade e não a ordem) a questão central é a existência de democratas atuando continuamente na esfera pública (estatal e social), polinizando opiniões com ideias-sementes democráticas, construindo espaços comuns (commons, sempre no sentido político do termo) em que seja possível associar pessoas para contender com problemas que as afetam e ensejar que elas se juntem para realizar projetos que nasçam da congruência de seus desejos em diversas comunidades de vizinhança, de prática, de aprendizagem e de projeto (o que consubstancia a nova esfera pública correspondente à visão forte da democracia como modo-de-vida e não apenas como modo político de administração do Estado, como já havia percebido, há um século, John Dewey).
Assim, a partir do século 17, democracia é um modo não apenas de domesticar o Leviatã, o Estado-nação europeu moderno, fruto da guerra, da paz de Vestfalia, como fizeram os modernos com a fórmula Estado democrático de direito. Se isso não tivesse acontecido, como se sabe, o Estado avançaria contra os direitos dos cidadãos, guerreando contra os de seu próprio povo. Mas a democracia é também um modo de desprogramar milênios de cultura autocrática. Experimentar processos democráticos – aquilo que chamamos de democracia como modo-de-vida – é a única maneira de evitar que preconceitos e conceitos autocráticos, depositados em camadas sobre camadas, no subsolo da consciência das pessoas, possam emergir e, dependendo das condições, em certas circunstâncias, oferecer uma base para que projetos políticos tenebrosos, de condução autoritária da sociedade, possam vingar.
Difícil pensar fora da caixa. Os pesquisadores da democracia vivem tentando explicar por que o desempenho da democracia tem sido tão ruim. Mas eles se referem sempre à democracia como modo de administração política da forma Estado-nação ou como provedora de boas condições materiais de vida para populações nacionais. Talvez seja hora de começar a pensar no sucesso da democracia em não-países.
Na verdade, democracia como modo-de-vida quer dizer democracia como modo de convivência social, ou seja, modo regulação de conflitos na vida comum ou na convivência social cotidiana. Quando se vai organizar qualquer coisa, quando se vai interagir com alguém, sobretudo para fazer um empreendimento coletivo, pode-se adotar processos democráticos. Isso significa, no fundo, não criar inimigos, cooperar mais do que competir, não exigir alinhamentos de posições e sim montar ecologias de diferenças coligadas, não erigir hierarquias, não lutar ou combater, enfim…
Quando um regime se diz democrático, isso quer dizer apenas que o funcionamento de suas instituições não está impedindo a continuidade do processo de democratização. Esta, é claro, é a visão do liberal inovador, não do liberal conservador (conquanto hoje – diante do surto de reacionarismo – ser um liberal conservador já é uma benção). Todavia, ainda que seja muito importante, em circunstâncias como as que vivemos no final desta segunda década do século 21, conservar instituições pretéritas, o fundamental é permitir que essas instituições não bloqueiem ou dificultem o avanço do processo de democratização.
Para os liberais inovadores, a saída, necessariamente de longo prazo, passa pela formação de clusters democráticos, sempre temporários, altamente interativos (intensamente tramados por dentro) e abertos, com muitos atalhos (ou ligações para fora). A democracia terá de ser encarada por nós como modo-de-vida e exercida em todos os lugares em que for possível desconstituir autocracia (nas famílias, nos grupos de amigos, nas escolas e universidades, nas igrejas, nas organizações da sociedade, nas empresas).
Mesmo vivendo sob uma terceira onda de autocratização, nossa resistência às tendências regressivas e antidemocratizantes não pode ser apenas negativa, reativa. Ela deve ser criativa, proativa. Daqui para frente a pauta dos liberais inovadores será a seguinte. Como sobreviver, viver, conviver e inovar numa época de recessão e desconsolidação democráticas, de declínio do capital social e de reação exacerbada à emergência da sociedade-em-rede? Qual o formato possível para novos empreendimentos sociais, empresariais e governamentais distribuídos e democráticos num mundo que retrograda?
15 – Juntando os pedaços do DNA da democracia
Ralf Dahrendorf, em meados dos anos 90, constatou que não existe democracia sem democratas. Isso não significa que todos têm que ser democratas. Democratas sempre foram minoria, mas não podem ser uma minoria tão ínfima que não consigam cumprir o seu papel de ensejar que a democracia continue.
Isso dá um crack nas mentalidades majoritaristas. Quem dera que nós, os democratas, chegássemos a 1%. Aliás, nunca ultrapassamos muito essa porcentagem: nem na Atenas do século 5 AEC, nem no parlamento inglês dos bill of rights do século 17, nem entre os que, nos séculos 18 e 19, fundaram e consolidaram a democracia na América e nem hoje, no Brasil e no mundo.
Quem não entende a nova dinâmica das redes e não tem muita noção de democracia vai dizer que então estamos perdidos. Com 1% não se pode fazer nada. Partindo de 1% nunca vamos chegar a mais de 50%. Ou, quem sabe, só no século 23.
Mas por que precisaríamos chegar a mais de 50%? O papel precípuo dos democratas não é virar maioria e impor, pela força dos votos, a sua vontade. Os democratas são – sempre foram – o fermento na massa, não a massa.
Fermentar a massa significa, no caso, catalizar o processo de formação da opinião pública. A opinião pública que emerge (ou seja, aquela que brota por emergência das miríades de interações de opiniões privadas, não a soma aritmética dessas opiniões), esta sim, deve ser favorável à democracia. Para tanto, não é necessário que todas as pessoas sejam democratas convictas.
Mas, de qualquer modo, uma massa crítica de democratas é necessária para conseguir polinizar opiniões privadas transformando-as em opinião pública democrática. É possível que 1% seja suficiente (por razões de rede, quer dizer, da fenomenologia da interação social, que não podemos explicar aqui). Parece pouco, mas hoje não temos, no Brasil, 1 milhão e 500 mil democratas (que seria 1% de 150 milhões de eleitores).
Vamos falar a verdade. Não temos hoje, no Brasil, nem 1 milhão, nem 500 mil, talvez nem 100 mil pessoas que saibam explicar por que acham que a democracia é um valor universal e o principal valor da vida pública, que consigam distinguir uma posição liberal (em termos políticos) de uma posição i-liberal, que possam mostrar por que democracia não é a mesma coisa que majoritarismo e que estejam capazes de criticar os populismos contemporâneos mostrando por que eles são os principais adversários da democracia. Temos? Não temos.
Claro que as pessoas que concordam com a democracia (a preferem à autocracia ou, pelo menos, a aceitam ou toleram) são – felizmente – muito mais numerosas. A maioria da nossa população (ou quase) tende a concordar com a democracia, conquanto o número dos que não a valorizam venha aumentando assustadoramente, no Brasil e no mundo.
Larry Diamond (2015) traçou um quadro da recessão democrática (na qual entramos em meados da primeira década deste século). Roberto Stefan Foa e Yascha Mounk (2016-2017) detectaram a desconexão e a desconsolidação democráticas dos últimos anos. O mesmo Mounk e Jordan Kyle (2018) avaliaram empiricamente o estrago que o populismo faz na democracia. Anna Lührmann e Staffan Lindberg (2019), juntamente com o pessoal do V-Dem (da Universidade de Gotemburgo), têm analisado a terceira onda de autocratização em que estamos imersos. Mas quantos entendem tudo isso? E quantos estão interessados nisso?
Não. Não é uma coisa para especialistas. Se não tivermos alguma noção dessas coisas como vamos poder cumprir o papel de agentes fermentadores do processo de formação da opinião pública no mundo atual? Como vamos poder mostrar que o neopopulismo bolivarianista de Chávez e Maduro, Correa e Evo, Funes e Lugo, Ortega e Zelaya, Kirchner e Lula, usam a democracia contra a democracia, da mesma forma (embora não sejam a mesma coisa) que o populismo-autoritário (ou nacional-populismo) de Salvini e Orbán, dos irmãos Kaczyński e de Le Pen, de Farage e Strache, de Bannon e Trump, de Olavo e Bolsonaro?
Ora, se não soubermos mostrar isso, como vamos conseguir ser protagonistas de uma nova alternativa democrática na atualidade?
Mas aí algumas pessoas voltam a perguntar: qual democracia?
A democracia é contra-intuitiva. E é preciso compor seus diferentes elementos para “sintetizar o DNA” democrático, como já vimos na décima-segunda reflexão (acima).
Temos, felizmente, alguma inspiração: os democratas atenienses, Clístenes, Efialtes, Péricles, Aspásia e, sobretudo, os sofistas, como Protágoras, Antífon, Crátilo, Górgias, Hípias, Pródigos, Trasímaco, talvez Alcídamas, Licofronte e o Anônimo Jâmblico. E todos aqueles que, mais de dois milênios depois, lograram captar pedaços do DNA democrático; e. g. Spinoza, Rousseau, Jefferson e os Federalistas, Paine, Tocqueville, Thoreau, Mill, Dewey, Popper, Arendt, Lefort, Castoriadis, Maturana, Rawls, Dahrendorf, Sen, Dahl, Rancière… É preciso juntar esses pedaços e acrescentar outros.