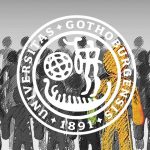Um escola hoje deveria ser mais uma rede de aprendizagem do que uma burocracia do ensinamento. Deveria ser mais autodidática e alterdidática do que heterodidática. Mas, deixando isso de lado por ora, passemos diretamente ao tema deste artigo.
Ninguém pode fazer uma escola de política, sobretudo uma escola de democracia, se não estiver disposto a entrar nos assuntos propriamente políticos. Ser supra-partidário não significa ser supra-político. Pior. Ser não-partidário não pode ser desculpa para ser apolítico (e, muito menos, antipolítico).
Apenas treinar pessoas para vencer eleições, para serem honestas e eficazes de um ponto de vista da gestão (achando que a gestão pública pode ser copiada da gestão empresarial), para terem responsabilidade fiscal e compromisso com as reformas, pode acabar elegendo candidatos analfabetos democráticos, capazes de namorar com populistas-autoritários de extrema-direita ou com neopopulistas de esquerda (e isso é grave para uma escola de democracia na medida em que os populismos se constituem hoje como os principais adversários da democracia). Sem entender o estrago que o populismo faz na democracia, ninguém terá hoje uma boa formação democrática.
Ou então, para fugir de ter que tomar posição (confundindo posição política com posição partidária e por medo de desagradar potenciais clientes e parceiros), refugia-se em políticas identitárias que estão na moda, priorizando temas de direitos de minorias sociais (que são necessários, por certo, mas têm que se somar e não substituir os demais temas políticos). É bom valorizar e observar políticas afirmativas, como as de cotas e de outros estímulos – na linha de construção de novos direitos – para mulheres, negros, indígenas e populações tradicionais e LGBTQIA+ e para portadores de diferenças (ainda chamadas de deficiências). Mas isso não basta num processo de aprendizagem democrática.
Ademais, uma escola de democracia não pode estar voltada apenas para eleger novos representantes legislativos e executivos. Não pode ser somente uma escola de candidatos (ainda que isso exerça sempre grande atração sobre o público – até pela crise do desemprego e da falta de ofertas de trabalho qualificado e bem-remunerado – e sobre clientes e financiadores). Tem também que preparar gente para atuar em outros setores do Estado (como o judiciário, o ministério público, as agências reguladoras etc.) e, sobretudo, para atuar na sociedade (nos meios de comunicação tradicionais e nas mídias sociais, nas organizações da sociedade civil, nas empresas, nas comunidades de prática, de aprendizagem, de projeto, nas vizinhanças e até nos grupos de amigos). Em todos esses lugares os temas políticos devem estar presentes – e ser recorrentes – nas redes de conversações de sorte a potencializar o papel político das pessoas (ou a aumentar o número da população politicamente ativa convertida à democracia). Como se sabe, não existe democracia sem democratas e o número de agentes democráticos hoje é francamente deficitário.
Quando dizemos que há déficit de democratas não estamos nos referindo aos eleitores ou filiados de partidos que se dizem democráticos e nem mesmo às pessoas que, quando perguntadas, respondem que preferem a democracia a outros regimes. Estamos falando de agentes democráticos ativos, fermentadores do processo de formação da opinião pública. Ou seja, agentes que conseguem, com sua atuação, que um público mais amplo perceba o perigo do avanço do autoritarismo – não toda a população, por certo, mas aquela sua parte que pode ser ativada para impedir que uma alternativa autocrática se construa e se estabeleça.
Foram agentes democráticos que, no Brasil do final dos anos 70 e início dos anos 80, conseguiram fermentar uma opinião pública (que não é a mesma coisa que a soma das opiniões privadas dos cidadãos) contrária à ditadura militar. Essa parcela fecundada ou catalisada por razões e emoções compatíveis com a democracia não precisa ser maioria numérica: basta que sua resultante seja pública (quer dizer, composta por emergência, pelo entrechoque de miríades de opiniões que se polinizam mutuamente a partir da interação).
Claro que esses agentes democráticos não são indivíduos iluminados pelo conhecimento. São pessoas que participam de conversações democráticas recorrentes e, portanto, são nodos de redes que se articulam na sociedade. Portanto, são agentes de uma cultura que, como toda cultura, reproduz, de modo “não-natural”, certo tipo de comportamento. Para tanto, estão conectados a clusters de, digamos, “pegajosidade antropológica” fortes o suficientes para que seus membros se reconheçam e se reforcem mutuamente por meio de múltiplos laços de feedback positivo.
OS TEMAS POLÍTICOS QUE NÃO PODEM FALTAR EM QUALQUER PROCESSO DE APRENDIZAGEM DEMOCRÁTICA
E quais são os temas propriamente políticos que não podem faltar nos currículos das iniciativas de aprendizagem política?
A lista abaixo não contém artigos de um programa partidário, muito menos “verdades” de um credo dogmático, e sim temas para análise, para serem submetidos à crítica e à discussão. O que não se pode – em qualquer processo de formação política e de aprendizagem democrática – é passar ao largo deles. Vejamos alguns exemplos:
A aprendizagem democrática permanente para conectar e multiplicar o número de democratas (nas organizações da sociedade e do Estado), fermentar a formação de uma opinião pública democrática, desconstituir autocracia no dia-a-dia e ensaiar a democracia como modo-de-vida e resistir ao autoritarismo e a qualquer populismo.
O parlamentarismo (como meio de superar as insuficiências democráticas das repúblicas presidencialistas que elegem governantes com poderes imperiais) e o voto distrital.
A democratização da política e das suas instituições, sobretudo dos partidos (com o fim da partidocracia).
O voto facultativo e as candidaturas independentes (e outras inovações no sistema eleitoral).
O municipalismo, baseado no localismo cosmopolita (ou glocalismo) e o aumento do protagonismo das cidades (por meio da promoção do desenvolvimento local sustentável).
Mudanças das regras eleitorais, inclusive para evitar a captura das eleições pelos populismos e o seu hackeamento pelos extremismos (com a introdução de inovações como, por exemplo, o voto em mais de um candidato ou o voto negativo etc.).
A construção de novos mecanismos de interação democrática dos cidadãos (não-plebiscitários e não-assembleísticos) para influir no Estado.
A sustentabilidade como grande referencial para o desenvolvimento.
Uma economia de mercado, competitiva, que não queira impor a sociedade a sua racionalidade (ou seja, que parta da ideia de que a economia é que deve ser de mercado e competitiva, não a sociedade, que deve ser cada vez mais colaborativa).
A redução das desigualdades socioeconômicas e o enfrentamento da pobreza pela via da promoção do desenvolvimento social e, emergencialmente, pela adoção de uma renda mínima cidadã e de outros mecanismos de inclusão baseados no investimento em capital humano e em capital social.
A defesa intransigente da ciência diante do ressurgimento de crenças que querem desacreditá-la e o investimento prioritário em ciência básica e aplicada e em tecnologia.
Uma nova educação para o século 21, que não pode ser repetição ou mero aperfeiçoamento da educação praticada nos séculos passados.
A saúde focada em prevenção e na criação de ambientes físicos e sociais saudáveis e o fortalecimento e expansão do sistemas públicos de saúde.
A promoção dos direitos humanos tendo como referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos e seus necessários aperfeiçoamentos.
A segurança pública como ação social e policial, não como guerra contra o crime.
Uma política externa orientada para paz e não por visões ideológicas, que vise buscar um novo lugar para o Brasil no mundo: o lugar de grande parceiro dos povos que se articulam para alcançar o bem comum para a humanidade em todas as áreas (científicas, tecnológicas, comerciais, de defesa dos direitos humanos em escala global e de preparação para o enfrentamento das mudanças globais que afetam a vida e a convivência social das populações do planeta, como as pandemias e epidemias, as doenças endêmicas e as catástrofes provocadas pelo aquecimento global ou pela predação do meio ambiente).
A reconstrução do mundo e do Brasil pós-pandemia (novas formas e dinâmicas do Estado, da sociedade e da política em um mundo em recuperação da catástrofe sanitária).
MAS A PRÓPRIA DEMOCRACIA CONTINUA SENDO O TEMA FUNDAMENTAL
Tudo isso é necessário, sem ser suficiente. É preciso que um processo de formação política, comprometido com a democracia, discuta o que é a democracia, como ela foi inventada pela primeira vez pelos antigos e reinventada pelos modernos (nas suas variantes inglesa, americana e francesa). Quais são as suas falhas genéticas com as quais teremos que conviver posto que dificilmente poderão ser corrigidas. E porque a democracia que temos (com todas as suas falhas) é necessária para alcançarmos as democracia que queremos. Por isso é necessário discutir e ensaiar novas experiências de democracia que sejam: mais distribuídas, mais interativas, mais diretas (sem abolirem a representação), com mandatos revogáveis, regidas mais pela lógica da abundância do que da escassez, mais vulneráveis ao metabolismo das multidões e mais responsivas aos projetos comunitários, mais cooperativas, mais diversas e plurais (não admitindo apenas uma única fórmula internacional mas múltiplas experimentações glocais).
Esse aprendizado nunca foi nem será fácil pois a democracia é contra-intuitiva. Vejamos alguns exemplos capazes de ilustrar essa afirmativa. A democracia…
Não é sinônimo de regime eleitoral (aliás a maioria dos regimes eleitorais existentes hoje no mundo não é democrática).
Não é o governo do povo e sim o governo de qualquer um (não de um, de poucos, de muitos, nem mesmo da maioria – daí que o sorteio, e não a votação, seja da sua essência).
Não é a prevalência da vontade da maioria, mas a possibilidade de convivência de múltiplas minorias.
Não é somente um modo político de administração do Estado, mas também um modo de vida ou de convivência social.
Não é um modelo de sociedade ideal, uma utopia: ou seja, é terrestre, não celeste (não quer construir o céu na terra, nem levar as pessoas para algum lugar melhor, um amanhã radioso e sim permitir que elas vivam, aqui e agora, como seres políticos, autorregulando seus conflitos).
Não é o regime sem corrupção e sim o regime sem um senhor.
É um valor universal, mas não é necessária para quem não a deseja, nem se aplica a todas as sociedades, porque é um processo de desconstituição da autocracia.
Não é uma nova (ou velha) doutrina e sim sem doutrina.
Não é uma ciência ou uma arte de vencer inimigos ou um jeito de eliminar os conflitos e sim um modo de, aceitando os conflitos, regulá-los sem guerra – convertendo inimizade em amizade política.
Sim, a democracia é contra-intuitiva. As pessoas que acham que já sabem o que é democracia, dificilmente conseguem explicar por que ela…
Não é propriamente sobre governar e sim sobre controlar o governo a partir da auto-organização societária.
Não é sobre implantar alguma ordem social conhecida, julgada (por alguém) melhor do que outras e sim sobre permitir que ordens inéditas brotem da interação política dos cidadãos.
Não é adotar um modelo de regime político (para escolher os melhores representantes) e sim permitir que o processo de democratização – ou de desconstituição de autocracia – continue fluindo.
Não é, diretamente, sobre melhorar condições de vida e sim sobre melhorar condições de convivência social.
Que a matéria propriamente política é a liberdade, que o sentido da política é a liberdade, que ser democrata é ser radicalmente liberal, num sentido democrático do termo, e que isso quer dizer o seguinte: a) que liberdade não é libertação e sim interagir livremente na comunidade política; b) que ninguém pode ser livre sozinho; e c) que, assim, minha liberdade começa (não termina) onde começa a liberdade do outro.
Mas, mesmo que fosse fácil explicar tudo isso para alguém, não adiantaria fazê-lo como quem dá uma aula: entra por um ouvido e sai pelo outro. Eis o desafio maior de uma escola democrática de política. Porque promover a aprendizagem da democracia não é atulhar as cabeças dos aprendentes de conteúdos. Não, não se trata apenas de conteúdo.
Assim como a democracia é contra-intuitiva, ela também não é “natural”. Se compararmos toda a história humana a um dia de 24 horas, só houve democracia em 96 minutos e, mesmo assim, na primeira metade desse tempo, em experiências localizadas e fugazes (Atenas e redondezas, nos séculos 5 e 4 a. C.) e, na segunda metade, em vários países (a partir do século 17), nos quais, porém, nunca viveu a maior parte da população mundial. Agora ou em qualquer época os seres humanos, em sua maioria, nunca tiveram a oportunidade de experimentar um regime democrático. Acrescente-se que o número de democracias liberais nunca ultrapassou 40 países em pouco menos de 200 Estados-nações.
E não é “natural”, no sentido acima, nem é normal. É, pelo contrário, um desvio do que foi considerado normal nos últimos 5 milênios. É uma brecha aberta na cultura patriarcal. Nestas circunstâncias, como já foi dito, aprender democracia é desaprender autocracia. E por isso a democracia não pode ser aprendida “naturalmente” ou normalmente na família, na igreja, nas organizações sociais, nas empresas e nos órgãos estatais, onde ainda predominam culturas sintonizadas com modos de vida hierárquicos e autocráticos da civilização patriarcal. Mesmo nos países considerados democráticos, a democracia que é ensinada nas escolas e universidades não é suficiente para provocar uma mudança cultural, quer dizer, uma mudança de comportamento dos agentes. Do contrário, imensos contingentes com mais escolaridade não votariam, crescentemente, em candidatos autoritários (e nem desvalorizariam a democracia, como mostram todos os estudos recentes sobre a recessão e a desconsolidação democráticas).
Por isso – ainda que desejável – o fundamental não é ler os principais clássicos (Spinoza, Rousseau, Jefferson e os Federalistas, Paine, Tocqueville, Mill, Dewey, Popper, Arendt, Bobbio, Lefort, Castoriadis, Maturana, Rawls, Havel, Dahrendorf, Sen, Dahl, Rancière etc.) e os contemporâneos (Diamond, Snyder, Castells, Runciman, Levitsky e Ziblat, Da Empoli, Mounk e Foa, Przeworski, Lührmann, Lindberg e Kyle, Acemoğlu, Bermeo, não é ler os artigos das revistas especializadas (como o Journal of Democracy e a Democratization), nem mesmo estar em dia com os relatórios anuais dos principais centros que monitoram a democracia no mundo (Freedom House, The Economist Intelligence Unit, V-Dem etc.). Tudo isso é muito importante e útil, por certo, mas como aprender democracia é desaprender autocracia, o fundamental é aprender a reconhecer padrões autocráticos de comportamento onde quer que eles se manifestem.
Por isso é tão importante estudar as distopias – as ficcionais (como o Nós de Zamyatin, o 1984 de Orwell, o Duna de Herbert, o Star Wars: Manual do Império de Wallace e até O conto da aia de Atwood) e as reais, quer dizer, as ditaduras mais tenebrosas que surgiram na história (a URSS sob Stalin, a China de Mao, a Alemanha de Hitler, o Camboja de Pol Pot, a Coreia do Norte sob a dinastia Kim) – porque é nesses lugares imaginários ou concretos que os padrões autocráticos aparecem em estado puro (ou quase). Depois será possível percebê-los quando – e no exato momento em que – eles se manifestam na nossa vida política cotidiana e saber o que fazer para desconstituí-los. Política é timing, percepção do momento num blink, num glance. Deixou o momento (aquele kairós que abre a janela aos emaranhados de opiniões capazes de apontar um rumo) passar, perdeu (a janela se fecha). Agentes políticos democráticos são capazes de reconhecer padrões autocráticos imediatamente e tomar providências para evitar que a democracia seja ferida. Sem isso pode-se dizer que é praticamente inútil a aprendizagem da democracia.
Uma saída democrática capaz de interromper o processo continuado de erosão da democracia – no Brasil e em qualquer localidade do mundo onde processos de autocratização de terceira onda estão em curso – exige recomeçar de baixo para cima, multiplicando em cada lugar e setor de atividade o número de agentes democráticos ativos (não apenas o número de pessoas que dizem preferir a democracia a outros regimes políticos, mas de atores políticos que sejam capazes de reconhecer a presença de padrões autocráticos, de detectar precocemente sinais de envenenamento e de desconsolidação da democracia, mesmo quando esses sinais são fracos ou subterrâneos e de agir consequentemente para configurar novos ambientes democráticos). Isso desloca o horizonte para 2030, se começarmos agora. É bom que quem quer se meter a criar escolas democráticas de política tenha isso em mente e trabalhe com esse horizonte.