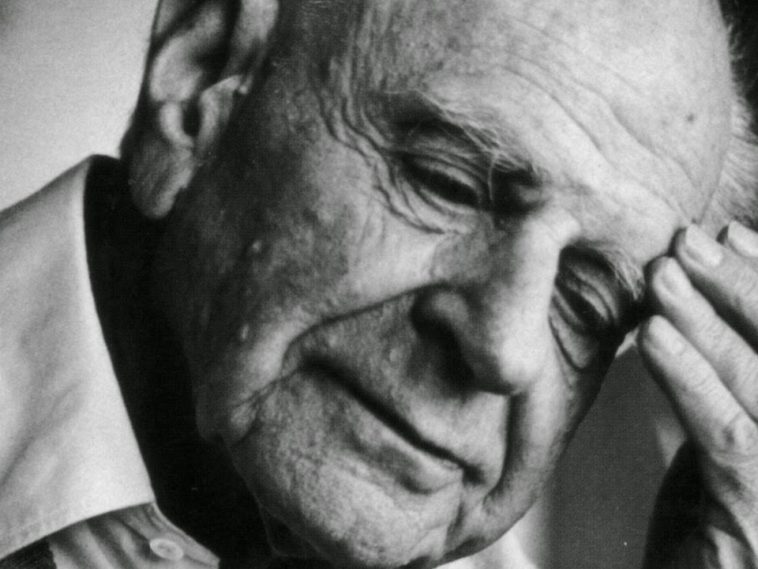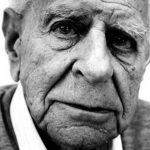No dia 25 de março de 2019 os inscritos no programa Novos Pensadores começaram a se debruçar sobre o primeiro volume de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de Karl Popper (1945), intitulado O Fascínio de Platão.
Entender as razões do fascínio de Platão é fundamental para a aprendizagem democrática.
Como uma canja para os que não estão fazendo o programa vamos publicar aqui os textos originais de Popper – com destaques em vermelho e os comentários provocativos em azul – que geraram conversações democráticas entre os participantes do curso.
Já publicamos os comentários à Introdução do primeiro volume. E também os comentários aos dois primeiros capítulos. E, em seguida, os comentários ao terceiro capítulo e os comentários ao quarto capítulo. E os comentários ao capítulo 5 e ao capítulo 6. Segue abaixo o capítulo 7.
O FASCÍNIO DE PLATÃO
Em favor da Sociedade Aberta (cerca de 430 A. C.):
“Embora somente poucos possam dar origem a uma politica, somos todos capazes de julgá-la”.
Péricles de Atenas
Contra a Sociedade Aberta (cerca de 80 anos depois):
“O maior de todos os princípios é que ninguém, seja homem ou mulher, deve carecer de um chefe. Nem deve a mente de qualquer pessoa ser habituada a permitir-lhe fazer ainda que a menor coisa por sua própria iniciativa, nem por zelo, nem mesmo por prazer. Na guerra como em meio à paz, porém, deve ela dirigir a vista para seu chefe e segui-lo fielmente. E mesmo nas mais ínfimas questões deve manter-se em submissão a essa chefia. Por exemplo, deve levantar-se, ou mover-se, ou lavar-se, ou tomar refeições… apenas se lhe for ordenado que o faça. Numa palavra, deve ensinar sua alma, por hábito prolongado, a nunca sonhar em agir independentemente e a tornar-se totalmente incapaz disso”.
Platão de Atenas
CAPÍTULO 7
O PRINCÍPIO DE LIDERANÇA
Os sábios deverão dirigir e governar, e os ignorantes deverão segui-los.
Platão (*)
Certas objeções (1) a nossa interpretação do programa político de Platão forçaram-nos a uma investigação da parte desempenhada, nesse programa, por ideias morais tais como as de Justiça, Bondade, Beleza, Sabedoria, Verdade e Felicidade. O capitulo presente e os dois seguintes dedicam-se à continuação dessa análise, devendo ocupar-nos a seguir a parte desempenhada pela ideia de Sabedoria na filosofia política de Platão.
Vimos que a ideia que Platão tem da justiça reclama, fundamentalmente, que os governantes naturais governem e os escravos naturais sejam escravizados. É parte da ideia historicista de que o estado, a fim de deter qualquer mudança, seja uma cópia de sua Ideia, ou de sua verdadeira “natureza”. Esta teoria da justiça indica claramente que Platão via o problema fundamental da política na indagação: Quem deverá dirigir o estado?
I
Tenho a convicção de que, por haver expressado o problema da política pela forma “Quem deve governar”, “De quem deve ser a vontade suprema?”, etc., Platão introduziu na filosofia política permanente confusão. Esta é, em verdade, análoga à confusão que ele criou no campo da filosofia moral, ao identificar coletivismo e altruísmo, como discutimos no capítulo anterior. É claro que uma vez feita a pergunta “Quem deve governar” difícil será evitar respostas tais como “o melhor”, ou “o mais sábio”, ou “o governante nato”, ou “aquele que conhece a arte de governar” (ou, talvez, “A Vontade Geral”, ou “a Raça dos Amos”, “Os Trabalhadores Industriais”, ou “O Povo”). Mas tais respostas, por mais convincentes que pareçam (pois quem iria advogar um governo “do pior”, ou “do mais estúpido”, ou “do escravo nato”?) são, como tentarei mostrar, inteiramente inúteis.
Em primeiro lugar, uma resposta dessas é passível de persuadir-nos de que algum problema fundamental de teoria política foi resolvido. Mas, se nos encaminharmos para a teoria política de um ângulo diferente, então veremos, que, longe de resolver qualquer problema fundamental, simplesmente nos desviamos dele ao admitir que é fundamental a pergunta: “quem deve governar?” De fato, mesmo aqueles que adotam essa admissão de Platão chegam a convir em que os dirigentes políticos nem sempre são suficientemente “bons” ou “sábios” (não necessitamos incomodar-nos com a significação precisa dessas palavras), e que absolutamente não é fácil obter um governo em cuja bondade e sabedoria se possa confiar implicitamente. Isto posto, devemos então perguntar se o pensamento político não enfrentaria, desde o início, a possibilidade de um mau governo e a conveniência de nos prepararmos para ter os piores líderes enquanto esperamos os melhores. Mas isto leva a novo encaminhamento rumo ao problema da política, pois nos força a substituir a pergunta “Quem deve governar?” por esta nova (2): Como poderemos organizar as instituições políticas de modo tal que maus ou incompetentes governantes sejam impedidos de causar demasiado dano?
Os que acreditam que a primeira indagação é fundamental tacitamente admitem que o poder político é “essencialmente” livre de controle. Admitem que alguém deve assumir o poder, seja um indivíduo, ou um corpo coletivo, tal como uma classe. E admitem que aquele que detém o poder pode, quase inteiramente, fazer o que lhe apraz; pode, especialmente, reforçar seu poder, aproximando-o mais, portanto, de um poder ilimitado e incontrolado. Admitem que o poder político é essencialmente soberano. Feitas essas admissões, então, realmente, a única indagação importante que resta é: “quem deve ser o soberano?”
Denominarei essa admissão a teoria da soberania (incontrolada), usando tal expressão não com relação a qualquer uma das várias teorias de soberania apresentadas mais especialmente por escritores tais como Bodin, Rousseau ou Hegel, mas com relação à admissão mais geral de que o poder político é praticamente incontrolado, ou à exigência de que deva ser assim, juntamente com a consequência de que a principal questão a resolver é colocar esse poder nas melhores mãos. Essa teoria da soberania é tacitamente adotada por Platão e desde então vem desempenhando o seu papel. É também adotada implicitamente, por exemplo, por aqueles escritores modernos que acreditam ser o maior problema: Quem deve mandar? Os capitalistas ou os trabalhadores?
Sem entrar numa critica minuciosa, desejo apontar que há sérias objeções a uma apressada e implícita aceitação de tal teoria. Quaisquer que pareçam ser seus méritos especulativos, ela é por certo uma admissão muito irrealista. Nenhum poder político jamais foi isento de controle, e enquanto os homens permanecerem humanos (enquanto não se materializar o “Admirável Mundo Novo”), não poderá haver poder político absoluto e irrestrito. Enquanto um homem não puder acumular em suas mãos poder físico suficiente para dominar todos os outros, deverá ele continuar a depender de seus auxiliares. Mesmo o mais poderoso dos tiranos depende de sua polícia secreta, de seus verdugos e de seus sequazes. Essa dependência significa que seu poder, por maior que possa ser, não é isento de controle, e que ele tem de fazer concessões, equilibrando os grupos antagônicos. Isso significa que há outras forças políticas, outros poderes além dos seus, e que só utilizando-os e pacificando-os poderá ele exercer seu domínio. Isso mostra que mesmo os casos extremos de soberania nunca são casos de soberania pura. Nunca são casos em que a vontade ou o interesse de um homem (ou, se tal coisa houver, a vontade ou interesse de um grupo) pudesse alcançar seu alvo diretamente, sem ceder em algo a fim de alistar as forças que não pode conquistar. E, num número esmagador de casos, as limitações do poder político vão muito além disso.
Acentuei estes pontos empíricos, não porque deseje usá-los como argumentos, mas para evitar objeções. Proclamo que todas as teorias de soberania se esquecem de enfrentar uma questão mais fundamental: a de saber se não devemos lutar por um controle institucional dos governantes através do equilíbrio de suas forças com outras forças. Essa teoria de controles e equilíbrios pode pelo menos reclamar cuidadosa consideração. As únicas objeções a tal reivindicação, tanto quanto posso ver, são: a) tal controle é praticamente impossível; b) ou é essencialmente inconcebível, por ser o poder político essencialmente soberano (3). Creio que ambas essas objeções dogmáticas são refutadas pelos fatos; e com elas cai grande número de outras opiniões influentes (por exemplo, a teoria de que a única alternativa para a ditadura de uma classe é a de outra classe).
Brilhante Popper!
A fim de suscitar a questão do controle institucional dos governantes, não necessitamos admitir mais do que não serem os governos bons ou sábios. Como, porém, falei algo acerca de fatos históricos, penso dever confessar que me sinto inclinado a ir um pouco além dessa admissão. Inclino-me a pensar que raras vezes os governantes têm estado acima da média, quer moral, quer intelectualmente, e muitas vezes abaixo dela. E penso ser razoável adotar, em política, o princípio de preparar-nos para o pior, do melhor modo possível, embora devamos ao mesmo tempo, é lógico, procurar obter o melhor. Parece-me loucura basear todos os nossos esforços políticos na fraca esperança de termos êxito na obtenção de governantes excelentes, ou mesmo competentes. Por mais fortes, porém, que sejam minhas opiniões a este respeito, devo insistir, todavia, em que a minha crítica da teoria da soberania não depende dessas opiniões pessoais.
Pondo de parte essas opiniões pessoais e deixando de lado os acima mencionados argumentos empíricos contra a teoria geral da soberania, há uma espécie de argumento lógico que pode ser usado para mostrar a inconsistência de quaisquer formas particulares da teoria da soberania; mais precisamente, o argumento lógico pode adotar formas diferentes, mas análogas, para combater a teoria de que os mais sábios devem governar, que as teorias de que o governo deve caber aos melhores, à lei, à maioria, etc. Uma forma particular desse argumento lógico dirige-se contra uma versão demasiado ingênua do liberalismo, da democracia, e do princípio de que a maioria deve governar; e é um tanto semelhante ao bem conhecido “paradoxo da liberdade”, primeiramente usado, e com sucesso, por Platão. Ao criticar a democracia e ao historiar o surgimento do tirano. Platão implicitamente propõe a seguinte questão. E se for vontade do povo, não que ele próprio governe, e sim um tirano em seu lugar? O homem livre, sugere Platão, pode exercer sua absoluta liberdade a princípio desafiando as leis e, em última análise, desafiando sua própria liberdade e clamando por um tirano (4). Isto não é apenas uma possibilidade remota; tem acontecido numerosas vezes; e, de cada vez que aconteceu, colocou em desesperada posição intelectual todos aqueles democratas que adotam, como base final de seu credo político, o princípio do governo da maioria, ou forma semelhante do princípio de soberania. De um lado, o princípio que adotaram exige deles que se oponham a tudo quanto não seja o governo da maioria e, portanto, a uma nova tirania; de outro lado, o mesmo princípio exige deles que aceitem qualquer decisão adotada pela maioria e, assim, o domínio do novo tirano. A inconsistência de sua teoria deve, sem dúvida, paralisar-lhes as ações (5). Os nossos democratas que exigem o controle institucional dos governantes pelos governados, e especialmente o direito de expelir o governo pelo voto majoritário, devem, por conseguinte, basear essas exigências em campo melhor do que uma contraditória teoria da soberania. (A possibilidade disso será resumidamente demonstrada na próxima secção deste capítulo.)
Platão, como vimos, esteve próximo de descobrir os paradoxos da liberdade e da democracia. Mas o que Platão e seus seguidores esqueceram é que todas as outras formas da teoria da soberania dão nascimento a inconsistências análogas. Todas as teorias de soberania são paradoxais. Por exemplo, podemos ter escolhido “o mais sábio”, ou “o melhor”, como governante. Mas “o mais sábio”, em sua sabedoria, pode achar que não ele, mas “o melhor” é quem deve governar; e “o melhor”, em sua bondade, pode talvez decidir que o governo deve caber “à maioria”. Importante é notar que mesmo a forma da teoria de soberania que exige o Reinado da Lei está sujeita à mesma objeção. Esta, de fato, foi vista muito cedo, como mostra a observação de Heráclito (6): “A lei pode exigir, também, que seja obedecida a vontade de Um Homem”.
Sintetizando esta breve crítica, creio poder-se asseverar que a teoria da soberania fica em fraca posição, tanto empírica como logicamente. O mínimo que se pode pedir é que não seja adotada sem cuidadosa consideração de outras possibilidades.
II
Não é, em verdade, difícil mostrar que pode ser desenvolvida uma teoria de controle democrático isenta do paradoxo da soberania. A teoria que tenho em mente é uma que não procede, por assim dizer, de uma doutrina da intrínseca bondade ou da justiça de um governo da maioria, mas antes da baixeza da tirania. Mais precisamente, baseia-se na decisão, ou na adoção da proposição, de evitar a tirania e resistir-lhe.
Aqui fica claro que Popper, conquanto implicitamente, já admitia que a democracia é um processo de desconstituição de autocracia. Ou seja, não é um modelo determinado de governo (como o governo da maioria).
Podemos, efetivamente, distinguir dois tipos principais de governo. O primeiro tipo consiste dos governos de que nos podemos livrar sem derramamento de sangue — por exemplo, por meio de eleições gerais; vale dizer, as instituições sociais fornecem meios pelos quais os governados podem expelir os governantes, e as tradições sociais (7) asseguram que essas instituições não serão facilmente destruídas pelos que detiverem o poder. O segundo tipo consiste de governos de que os governados não se podem livrar a não ser por meio de revoluções vitoriosas — isto é, na maioria dos casos, não se livram deles. Sugiro o termo “democracia” como etiqueta abreviada para o primeiro tipo, e o termo “tirania”, ou “ditadura”, para o segundo. Creio que isso corresponde de perto ao uso tradicional. Mas desejo deixar claro que nenhuma parte de meu argumento depende de tais etiquetas; e se alguém invertesse essas denominações (como se faz frequentemente hoje em dia), então eu simplesmente diria que sou a favor daquilo que esse alguém chama “tirania” e me oponho ao que ele chama “democracia”; e rejeitaria como sem importância qualquer tentativa para descobrir o que “realmente” ou “essencialmente” significa a “democracia”, como, por exemplo, traduzindo a palavra por “governo do povo”. (Pois, embora o povo possa influenciar as ações de seus governantes pela ameaça de despedi-los, nunca se governa a si mesmo, em qualquer sentido concreto e prático).
Eis a “definição” de democracia de Popper. Democracia é o tipo de governo de que podemos nos livrar pacificamente. Importante notar que isso só pode acontecer se houver “tradições sociais” que não permitam que as instituições não sejam destruídas pelos poderosos. Essas tradições sociais, em termos atuais, poderiam ser avaliadas pelos níveis de capital social da sociedade.
Se fizermos uso das duas etiquetas, como sugerimos, poderemos então descrever agora, como princípio de uma política democrática, a proposta de criar, desenvolver e proteger as instituições políticas, para evitar a tirania. Este princípio não significa que seja sempre possível estabelecer instituições desse tipo que sejam impecáveis e perfeitas, ou que assegurem que à política adotada pelo governo democrático seja forçosamente justa, boa ou sadia; ou sequer melhor do que a adotada por um tirano benévolo. (E como não efetuamos qualquer afirmação desse tipo, fica eliminado o paradoxo da democracia). O que se pode dizer, entretanto, é que a adoção do princípio democrático traz implícita a convicção de que mesmo a aceitação de uma política má numa democracia (desde que perdure a possibilidade de efetuar pacificamente a mudança do governo) é preferível à subjugação por uma tirania, por sábia ou benévola que esta seja. Encarada de tal ângulo, a teoria da democracia não se baseia no princípio de que a maioria deve governar, mas, antes, no de que diversos métodos igualitários para o controle democrático, tais como o sufrágio universal e o governo representativo, devem ser considerados como simplesmente salvaguardas institucionais, de eficácia comprovada pela experiência, contra a tirania, repudiada de modo geral como forma de governo. E estas instituições devem ser susceptíveis de aperfeiçoamento.
Outra passagem brilhante de Popper, que desconstitui a ideia simplória e equivocada de que democracia é o governo da maioria.
Quem aceita o princípio da democracia neste sentido não se vê, consequentemente, forçado a encarar o resultado de um voto democrático como uma expressão autorizada do que é justo. Embora aceite uma decisão da maioria, a fim de que possam funcionar as instituições democráticas, estará livre para combatê-la por meios democráticos e para trabalhar por sua revisão. E se viver para ver o dia em que o voto da maioria destrua as instituições democráticas, esta triste experiência só lhe dirá que não existe um método perfeito para evitar a tirania. Mas não enfraquecerá sua decisão de combater a tirania, nem exporá como inconsistentes suas teorias.
III
Voltando a Platão, verificamos que, por sua ênfase sobre o problema “quem deve governar”, implicitamente admitiu ele a teoria geral da soberania. Elimina-se, portanto, sem sequer haver sido suscitada, a questão de um controle institucional dos governantes, de um equilíbrio institucional de seus poderes. O interesse é desviado das instituições para as questões de pessoal, e o problema mais urgente torna-se então o de escolher os líderes naturais e adestrá-los para a liderança.
Em razão desse fato, certas pessoas pensam que, na teoria de Platão, o bem do estado é, em última análise, um assunto ético e espiritual, dependendo antes das pessoas e da responsabilidade pessoal do que da construção de instituições impessoais. Creio que essa concepção do platonismo é superficial. Todas as políticas de longo alcance são institucionais. Não há meio de fugir a isso, nem mesmo para Platão. O principio da liderança não substitui os problemas institucionais por problemas de pessoal; apenas cria novos problemas institucionais. Como veremos, sobrecarrega mesmo as instituições com uma tarefa que vai além do que pode ser razoavelmente requerido de uma instituição, a saber, a tarefa de selecionar os futuros líderes. Seria, portanto, um erro pensar que a oposição entre a teoria dos equilíbrios e a teoria da soberania corresponde à existente entre institucionalismo e personalismo. O princípio de liderança de Platão afasta-se muito de um personalismo puro, porquanto envolve o trabalho das instituições; e, em verdade, pode-se dizer que é impossível um personalismo puro. Mas também se pode dizer que é igualmente impossível um institucionalismo puro. Não só a construção de instituições envolve importantes decisões pessoais, mas o funcionamento até mesmo das melhores instituições (como o sistema democrático de controles e equilíbrios) dependerá sempre, em considerável grau, das pessoas envolvidas. As instituições são como fortalezas. Devem ser bem ideadas e guarnecidas de homens.
Checks and balances (freios e contrapesos).
Esta distinção entre o elemento pessoal e o institucional numa situação social é um ponto muitas vezes omitido pelos críticos da democracia. A maior parte deles mostra-se insatisfeita com as instituições democráticas por achar que estas não impedem necessariamente que um estado ou uma política decaiam de certos padrões morais ou de certas exigências políticas que podem ser tão prementes quanto admiráveis. Mas tais críticos dirigem mal seus ataques; não compreendem o que se pode esperar das instituições democráticas, nem qual seria a alternativa para as instituições democráticas. A democracia (usando esta etiqueta no sentido acima sugerido) fornece o arcabouço institucional para a reforma das instituições políticas. Torna possível a reforma das instituições sem usar de violência e, portanto, o uso da razão na formulação de novas instituições e no reajustamento das antigas. Não pode, porém, fornecer razão. A questão do padrão moral e intelectual de seus cidadãos é em amplo grau um problema pessoal (A ideia de que esse problema pode ser atacado, por sua vez, por um controle institucional eugênico e educacional é errônea, creio; e certas razões para essa crença serão dadas abaixo.) É inteiramente errado censurar a democracia pelos defeitos políticos de um estado democrático. Deveríamos antes censurar-nos a nós mesmo, isto é, aos cidadãos do estado democrático. Num estado não democrático, o único modo de conseguir reformas razoáveis é a derrubada violenta do governo, com a introdução de um arcabouço democrático. Os que criticam a democracia baseando-se em terreno “moral” deixam de distinguir entre os problemas pessoais e os institucionais. As instituições democráticas não podem aperfeiçoar a si mesmas. O problema de aperfeiçoá-las é sempre um problema das pessoas, e não das instituições. Mas, se quisermos aperfeiçoamentos, devemos deixar claro quais as instituições que desejamos aperfeiçoar.
Eis aqui o grande equívoco das teorias da corrupção (ou de combate à corrupção). Tudo isso pode ser apreciado sob a evidência de que não existe democracia sem democratas.
Há outra distinção no campo dos problemas políticos, correspondente à existente entre pessoas e instituições. É a que existe entre os problemas atuais e os problemas do futuro. Ao passo que os problemas atuais são amplamente pessoais, a edificação do futuro deve necessariamente ser institucional. Se se aborda o problema político indagando “quem deve governar”, e se se adota o princípio de liderança de Platão — isto é, o princípio de que os melhores devem governar — então o problema do futuro deve tomar a forma de idear instituições para a seleção dos futuros líderes.
É este um dos mais importantes problemas da teoria platônica da educação. Ao abordá-lo, não hesito em dizer que Platão corrompeu e confundiu ao extremo a teoria e a prática da educação, ligando-a à sua teoria da liderança. O dano causado é, se possível, maior até do que o infligido à ética pela identificação do coletivismo com o altruísmo, e à teoria política pela introdução do princípio de soberania. Ainda muitos tomam amplamente como certa a admissão de Platão de que a tarefa da educação (ou mais precisamente das instituições educacionais) deve ser a escolha dos futuros líderes e seu adestramento para a liderança. Sobrecarregando essas instituições com uma tarefa que deve ir além das metas de qualquer instituição, Platão é em parte responsável por seu deplorável estado. Mas, antes de entrarmos numa discussão de sua concepção sobre as tarefas educacionais, desejo desenvolver, mais minuciosamente, sua teoria da liderança, a liderança dos sábios.
IV
Acho muito provável que esta teoria de Platão deva numerosos de seus elementos à influência de Sócrates. Um dos princípios fundamentais de Sócrates era, creio, seu intelectualismo moral. Entendo por isso: a) sua identificação da bondade com a sabedoria, sua teoria de que ninguém age contra seu melhor conhecimento e de que a falta de conhecimento é responsável por todos os enganos morais; b) sua teoria de que a excelência moral pode ser ensinada e de que não requer quaisquer faculdades morais particulares, a não ser a universal inteligência humana.
Sócrates era um moralista e um entusiasta. Era o tipo do homem que criticaria qualquer forma de governo por seus insucessos (e em verdade tal crítica seria necessária e útil a qualquer governo, embora só seja possível numa democracia), mas reconhecendo a importância de ser leal às leis do estado. Sucede que passou a maior parte de sua vida sob uma forma democrática de governo e, como bom democrata, considerou de seu dever expor a incompetência e a charlatanaria de alguns líderes democráticos de sua época. Ao mesmo tempo, combate qualquer forma de tirania; e se considerarmos seu corajoso comportamento sob o regime dos Trinta Tiranos, não haverá razão para imaginarmos que sua crítica dos líderes democráticos fosse inspirada por qualquer coisa parecida com inclinações antidemocráticas (8). Não é improvável que haja requerido (como Platão) que os melhores governassem; isso teria significado, na sua opinião, os mais sábios, ou aqueles que conhecessem algo a respeito da justiça. Mas devemos lembrar-nos de que por “justiça” ele entendia a justiça igualitária (como se vê das passagens do Górgias citadas no capitulo anterior), e de que não só era um igualitário como um individualista — talvez mesmo o maior apóstolo da ética individualista, em todos os tempos. E devemos observar que, se exigia que os mais sábios devessem governar, claramente acentuava não se referir aos mais letrados; de fato, era cético quanto a toda liderança profissional, quer se tratasse da dos filósofos do passado ou dos eruditos de sua própria geração, os sofistas. A sabedoria a que ele se referia era de outra espécie. Era simplesmente esta verificação: quão pouco sei! Aqueles que não sabem disso, ensinava, nada absolutamente sabem. (Este é o verdadeiro espírito cientifico. Certas pessoas ainda pensam, como Platão ao se estabelecer como um sábio e erudito Pitagórico (9) que a atitude agnóstica de Sócrates deve ser explicada pela falta de êxito da ciência de sua época. Mas isto só mostra que eles não compreenderam seu espirito, permanecendo possuídos pela mágica atitude pre-socrática para com a ciência e para com o cientista, a quem consideram como um exorcista algo glorificado, como sábio, erudito, iniciado. Julgam-no pela quantidade de conhecimentos que possui, em vez de tomar, como Sócrates, sua consciência do que não sabe como a medida de seu nível científico assim como de sua honestidade intelectual).
Um texto falso. Por algum motivo Karl Popper quer salvar Sócrates, distorcendo a realidade. Sócrates é quase exatamente o contrário de tudo que ele diz.
É importante ver que este intelectualismo socrático é decididamente igualitário. Sócrates acreditava que todos podem ser ensinados; no Menon vemo-lo a ensinar a um jovem escravo uma versão (10) do agora chamado teorema de Pitágoras, a fim de tentar provar que qualquer escravo não educado tem a capacidade de aprender até assuntos abstratos. E seu intelectualismo é também anti-autoritário. Uma técnica, como por exemplo a retórica, pode talvez ser dogmaticamente ensinada por um perito, de acordo com Sócrates; mas o conhecimento real, a sabedoria e também a virtude só podem ser ensinados por meio de um método que ele descreve como uma espécie de partejamento. Os ávidos de aprender podem ser ensinados a libertar-se de seu preconceito; assim, podem aprender a autocrítica, bem como que a verdade não é atingida facilmente. Mas podem também aprender a formar juízos e a confiar, criticamente, em suas próprias decisões, em sua capacidade de compreensão. Tendo em vista tais ensinamentos, é claro quanto a exigência de Sócrates (se é que ele apresentou alguma vez tal exigência) de que os melhores, isto é, os intelectualmente honestos, devessem governar, difere da exigência autoritária de que os maís letrados, ou da exigência aristocrática de que os melhores, entendidos como os mais nobres, devessem governar. (A crença de Sócrates de que mesmo a coragem é sabedoria pode, creio, ser interpretada como uma crítica direta à doutrina aristocrática do herói de nascimento fidalgo.)
É tudo o contrário do que afirma Popper. Incrível essa tentativa de manter o endeusamento de Sócrates. Popper só pôde ter conhecimento da vida de Sócrates a partir as obras de Xenofonte e Platão (contemporâneos), alguma coisa de Aristófanes (que é crítico, também contemporâneo) e de Aristóteles (que só nasceu 15 anos após a morte de Sócrates). Há também uma apologia de Sócrates de Libânio (orador grego do século IV d. C.). Problema: nenhum dos biógrafos de Sócrates era defensor da democracia e alguns, em particular – como Xenofonte e Platão – eram declarados adversários da democracia.
Esse intelectualismo moral de Sócrates, porém, é uma espada de dois gumes. Tem seu aspecto igualitário e democrático, que mais tarde foi desenvolvido por Antístenes. Mas tem também um aspecto que pode dar nascimento a tendências fortemente anti-democráticas. Sua insistência sobre a necessidade de esclarecimento, de educação, pode ser facilmente mal interpretada como uma exigência de autoritarismo. Isto se prende a uma questão que muito parece haver perturbado Sócrates: a de que aqueles que não são suficientemente educados, e assim não são bastante sábios para conhecer suas deficiências, são justamente os que mais necessitam de educação. A disposição para aprender, por si mesma, prova a posse da sabedoria; é de fato toda a sabedoria que Sócrates reclama para si mesmo, pois aquele que está disposto a aprender conhece bem quão pouco sabe. Já o deseducado parece, assim, necessitado de uma autoridade que o desperte, visto como não se pode esperar que faça auto-crítica. Mas este elemento de autoritarismo foi admiravelmente equilibrado no ensinamento de Sócrates, pela ênfase em que a autoridade não deveria reclamar mais do que isto. O verdadeiro mestre só pode demonstrar o que é dando provas daquela autocrítica que falta ao deseducado. “Toda a autoridade que tenho repousa apenas em meu conhecimento de quão pouco sei”; este é o modo pelo qual Sócrates poderia ter justificado sua missão de despertar o povo de seu sono dogmático. Acreditou ele que essa missão educacional era também uma missão política. Sentia que o meio de aperfeiçoar a vida política da cidade era educar os cidadãos na autocrítica. Neste sentido é que proclamava ser “o único político de seu tempo” (11), em oposição àqueles que lisonjeiam o povo, em lugar de promover-lhe os verdadeiros interesses.
Ao contrário. Sócrates, durante toda a sua vida, foi antipolítico, nunca levantou (a não ser uma vez, ao que se saiba) a voz na Ecclesia, recomendava a seus discípulos que não participassem da assembléia, que ridicularizava como uma reunião de tolos e ignorantes. Ou seja, durante toda a sua vida Sócrates escarneceu da democracia, o que pode ser facilmente comprovado pelas posições assumidas por ele mesmo e, sobretudo, por seus discípulos. Popper falsifica abertamente a história.
Esta identificação socrática de sua atividade educacional e política podia ser facilmente deformada na exigência platônica e aristotélica de que o estado devesse cuidar da vida moral de seus cidadãos. E pode ser facilmente utilizada como uma prova perigosamente convincente de que todo controle democrático é vicioso. De fato, como podem ser julgados pelos deseducados aqueles cuja tarefa é educar? Como podem os melhores ser controlados pelos menos bons? Tal argumento, sem dúvida, é inteiramente anti-socrático. Admite a autoridade dos homens sábios e letrados e vai muito além da ideia modesta de Sócrates sobre a autoridade do mestre como exclusivamente fundada na consciência própria de suas limitações. A autoridade do estado em tais assuntos é susceptível de realizar, de fato, o exatamente oposto ao alvo de Sócrates. É passível de produzir auto-satisfação dogmática e maciça complacência intelectual, em vez de insatisfação crítica e avidez por aperfeiçoamento. Não acho que seja desnecessário acentuar esse perigo, raras vezes tido em clara conta. Mesmo um autor como Crossman, que, acredito, compreendia o verdadeiro espírito socrático, concorda (12) com Platão no que denomina a terceira crítica platônica de Atenas: “A educação, que deveria ser a maior responsabilidade do estado, foi deixada entregue ao capricho individual… Eis aqui mais uma tarefa que somente deveria ser confiada aos homens de comprovada probidade. O futuro de qualquer Estado depende da geração moça e é, portanto, loucura permitir que as mentes das crianças sejam moldadas segundo o gosto individual e a força das circunstâncias. Igualmente desastrosa fora a política de laissez-faire do Estado com relação aos mestres, professores e conferencistas sofistas” (13). Mas a política de laissez-faire de Atenas, criticada por Crossman e Platão, tivera o inapreciável resultado de capacitar certos conferencistas-sofistas a ensinarem, especialmente o maior de todos eles, Sócrates. E quando essa política foi mais tarde abandonada, o resultado foi a morte de Sócrates. Isto constituiria uma advertência de que o controle do estado sobre tais assuntos é perigoso e que o apelo por “homens de comprovada probidade” pode facilmente levar á supressão dos melhores. (A recente supressão de Bertrand Russell é um caso ilustrativo.)
Falso. Sócrates não era sofista. Combatia os sofistas e, em grande parte, é responsável pela imagem negativa sobre eles que se disseminou. Também falso os motivos alegados por Popper para a condenação de Sócrates. Incrível que Popper tenha enveredado por esse caminho. A falsificação é tão grosseira que os motivos de Popper ficam sem explicação.
Mas, até onde lidamos com princípios básicos, temos aqui um exemplo do preconceito profundamente arraigado de que única alternativa ao laissez-fare é a plena responsabilidade do estado. Creio, por certo, que é responsabilidade do estado prover para que todos os seus cidadãos tenham uma educação que os habilite a compartilhar da vida da comunidade e a fazer uso de qualquer oportunidade de desenvolver seus dotes e interesses especiais; e o estado deve certamente prover para que a falta “da capacidade de um indivíduo para pagar” (como Crossman com razão acentua) não o afaste de mais elevados estudos. Isso, acredito, faz parte das funções protetoras do estado. Dizer, porém, que “o futuro do estado depende da geração moça e que é portanto loucura permitir que as mentes das crianças sejam moldadas pelo gosto individual”, isto me parece escancarar a porta ao totalitarismo. O interesse do estado não deve ser invocado levianamente para defender medidas que podem por em perigo a mais preciosa de todas as formas de liberdade, a saber, a liberdade intelectual. E embora eu não advogue o laissez-faire com relação a mestres e educadores, creio que esta política é infinitamente superior a uma política autoritária que dê aos funcionários do estado plenos poderes para moldar as mentes e para controlar o ensinamento da ciência, apoiando assim a duvidosa autoridade do perito com a do estado, arruinando a ciência pela prática costumeira de ensiná-la como doutrina autoritária e destruindo o espírito científico da indagação, o espírito da busca da verdade, oposto à crença em sua posse.
Tentei mostrar que o intelectualismo de Sócrates era fundamentalmente igualitário e individualista e que o elemento de autoritarismo nele envolvido fora reduzido ao mínimo pela modéstia intelectual de Sócrates e por sua atitude científica. O intelectualismo de Platão é muito diferente desse. O “Sócrates”, platônico da República (14) é a personificação de um autoritarismo sem reservas. (Mesmo as apreciações desaprovadoras que dirige a si próprio não se baseiam na consciência de suas limitações, sendo antes um meio irônico de afirmar a própria superioridade.) Seu alvo educacional não é o despertar da auto-crítica e do pensamento crítico em geral. É, antes, a doutrinação — a moldagem de mentes e de almas que (para repetir uma citação das Leis (15) devem “tomar-se, por longo hábito, extremamente incapazes de fazer qualquer coisa independentemente”. E a grande ideia igualitária e libertadora de Sócrates de que é possível raciocinar com um escravo, de que há um elo intelectual mútuo entre os homens, um meio de compreensão universal, a saber, a “razão”, essa ideia é substituída pela exigência de um monopólio educacional da classe dirigente, acrescido da mais estrita censura até mesmo dos debates orais.
Sócrates acentuara que não era sábio; que não estava de posse da verdade, mas era antes um pesquisador, um inquiridor, um amante da verdade. Isso, explicou ele, expressa-se pela palavra “filósofo”, isto é, o amante da sabedoria, o que a procura, em oposição ao “sofista”, isto é, o homem profissionalmente sábio. Se alguma vez ele proclamou que os estadistas devessem ser filósofos, só podia ter significado com isso que, sobrecarregados de excessivas responsabilidades, eles deviam lançar-se à busca da verdade, com a consciência de suas limitações.
Aqui a falsificação popperiana fica patética. Os sofistas não eram profissionais da sabedoria em nenhum sentido. É um esforço desesperado para manter a aura de santo e herói que foi atribuída a Sócrates pelos seus biógrafos Xenofonte e Platão.
Como fez Platão a conversão dessa doutrina? À primeira vista, pode parecer que ele não a alterou em absoluto, ao exigir que a soberania do estado fosse investida nos filósofos, especialmente em vista de, tal como Sócrates, haver definido os filósofos como amantes da verdade. Mas a alteração feita por Platão é, na verdade, tremenda. Seu amante da verdade não é mais o modesto buscador e, sim, o orgulhoso possuidor dela. Traquejado em dialética, é ele capaz de intuição intelectual, isto é, de ver as eternas e celestiais Formas ou Ideias e de comunicar-se com elas. Colocado bem acima de todos os homens comuns, ele é “semelhante a um deus, se não… divino” (16), tanto por sua sabedoria quanto por seu poder. O filósofo ideal de Platão aproxima-se tanto do onisciência quanto da onipotência. É o Filósofo-Rei. Creio difícil conceber maior contraste do que o existente entre o ideal socrático e o platônico do filósofo. É o contraste entre dois mundos: o mundo de um individualista racional e modesto e o de um semideus totalitário.
Popper parece aquele marxista que quer salvar Marx pondo toda a culpa em Lenin. Ou aquele leninista que quer salvar Lenin pondo toda a culpa em Stalin. O filósofo como amante da verdade não foi inventado por Sócrates e sim pela tradição pitagórica.
A exigência de Platão de que deva governar o sábio — o possuidor da verdade, o “filósofo plenamente qualificado” (17) — suscita, naturalmente, o problema de selecionar e educar os governantes. Numa teoria puramente personalista (em oposição a uma institucional), esse problema poderia ser resolvido simplesmente declarando-se que o governante sábio, em sua sabedoria, será bastante sábio para escolher o melhor homem como seu sucessor. Isto não é, porém, um meio muito satisfatório de abordar o problema. Demasiadas coisas dependeriam de circunstâncias incontroladas; um acidente pode destruir a estabilidade futura do estado. Mas a tentativa de controlar as circunstâncias, de prever o que poderia acontecer e tomar providências a tal respeito, deve levar aqui, como em toda parte, ao abandono de uma solução puramente personalista e à sua substituição por uma institucional. Como já assinalamos, a tentativa de planejar para o futuro deve sempre conduzir ao institucionalismo.
V
A instituição que, de acordo com Platão, tem de cuidar dos futuros líderes pode ser descrita como o departamento educacional do estado. De um ponto de vista puramente político, esta é, em muitos aspectos, a mais importante instituição da sociedade de Platão. Conserva as chaves do poder. Só por essa razão, deveria ser claro que pelo menos os graus mais elevados de educação ficam sob direto controle dos governantes. Mas há, para isso, algumas razões adicionais. A mais importante é a de que “os peritos e… os homens de comprovada probidade”, como diz Crossman, que, na concepção de Platão, são apenas os adeptos mais sábios, isto é, os próprios governantes, somente eles podem ter por encargo a iniciação final dos futuros sábios nos mais altos mistérios da sabedoria. Isto se refere, acima de tudo, à dialética, isto é, à arte da intuição intelectual, de visualizar os originais divinos, as Formas ou Ideias, de desvendar o Grande Mistério que fica por trás das aparências do mundo quotidiano do homem comum.
Quais são as exigências institucionais de Platão com referência a essa forma de educação mais elevada? São notáveis. Exige ele que só sejam admitidos aqueles que deixaram para trás a juventude. “Quando sua força corporal começa a fraquejar, quando passaram da idade dos deveres públicos e militares, então, e só então, pode-lhes ser permitida a entrada no campo sagrado… ” (18), isto é, o campo dos mais altos estudos dialéticos. A razão de Platão para esta espantosa regra é bastante clara. Ele receia a força do pensamento. “Todas as grandes coisas são perigosas” (19), é a afirmativa com que introduz a confissão de temer o efeito que o pensamento filosófico possa ter sobre cérebros que ainda não se achem no limiar da velhice. (Tudo isto é posto por ele na boca de Sócrates, que morreu em defesa de seu direito à livre discussão com os jovens.) Isto, porém, é exatamente o que deveríamos esperar, se nos lembrarmos de que o alvo fundamental de Platão era deter a mudança política. Em sua juventude, os membros da classe superior deverão lutar. Quando ficarem demasiado velhos para poderem pensar independentemente, tornar-se-ão estudantes dogmáticos, para se imbuírem de sabedoria e autoridade, de modo a também se tornarem sábios e transmitir, com sua sabedoria, às gerações futuras, a doutrina do coletivismo e do autoritarismo.
Falso novamente. Sócrates não foi condenado pelo motivo apontado por Popper. Havia liberdade de discussão em Atenas – e ela era ampla, com jovens e velhos. Sócrates foi condenado em razão dos efeitos dos seus ensinamentos antidemocráticos a seus discípulos, como Crítias, Cármides e Alcibíades, que se transformaram em golpistas, aliados dos espartanos, e ditadores cruéis e assassinos. É difícil entender o que deu em Popper.
É interessante notar que, numa passagem posterior e mais trabalhada, em que tenta pintar os governantes com as mais brilhantes cores, Platão modifica essa sugestão. Aí (20), permite que os futuros sábios comecem seus estudos dialéticos preparatórios aos trinta anos de idade, acentuando, naturalmente, a necessidade “de grande precaução” e os perigos “da insubordinação… que corrompe tantos dialéticos”; e requer que “aqueles a quem possa ser permitido o uso de argumentos devem possuir naturezas disciplinadas e bem equilibradas”. Esta alteração, por certo, ajuda a dar ao quadro mais brilho. Mas a tendência fundamental é a mesma. De fato, na continuação dessa passagem, vemos que os futuros líderes não devem ser iniciados nos estudos filosóficos mais altos — na visão dialéctica da essência do Bem — antes de alcançarem, após passar por muitas provas e tentações, a idade dos cinquenta.
Tal é o ensinamento da República. Parece que o diálogo Parmênides (21) contém mensagem semelhante, pois Sócrates é ali descrito como um jovem brilhante que, havendo incursionado com êxito pela filosofia pura, vê-se em sérias dificuldades quando lhe é pedido uma resenha dos problemas mais sutis dá teoria das Ideias. É despedido então pelo velho Parmênides, com a advertência de que deveria adestrar-se mais completamente na arte do pensamento abstrato, antes de aventurar-se de novo ao campo mais elevado dos estudos filosóficos. E é como se tivéssemos, aqui (entre outras coisas) a resposta de Platão: “Mesmo Sócrates foi certa vez jovem demais para a dialéctica” — dada aos alunos que o importunavam desejando uma iniciação que ele considerava prematura.
Por que não deseja Platão que seus líderes tenham originalidade ou iniciativa? A resposta, creio, é clara. Ele odeia a mudança e não lhe apraz ver que sejam necessários reajustamentos. Essa explicação da atitude de Platão, porém, não se aprofunda bastante. De fato, enfrentamos aqui uma dificuldade fundamental do princípio de liderança. A própria ideia de selecionar ou educar futuros líderes é auto-contraditória. Pode-se resolver o problema, talvez, até certo grau da excelência corporal. A iniciativa física e a coragem corporal não são, provavelmente, tão difíceis de verificar. Mas o segredo da excelência intelectual é o espírito de crítica; é a independência intelectual. E isto leva a dificuldades que devem mostrar-se insuperáveis para qualquer espécie de autoritarismo. O autoritário, em geral, escolherá aqueles que obedecem, que acreditam nele, que correspondem à sua influência. Ao fazê-lo, porém, plausivelmente escolherá mediocridades, pois exclui aqueles que se revoltam, que duvidam, que ousam resistir à sua influência. Nem pode uma autoridade admitir que o intelectualmente corajoso, isto é, aquele que ousa desafiar essa autoridade, seja o tipo de maior valor. Naturalmente, as autoridades sempre permanecerão convencidas de sua capacidade para descobrir a iniciativa. Mas o que entendem por isso é apenas a rápida captação de suas intenções, e continuarão sempre incapazes de ver a diferença. (Aqui podemos penetrar, talvez, no segredo da dificuldade peculiar de escolher líderes militares capazes. As exigências da disciplina militar acentuam as dificuldades discutidas e os métodos de promoção militar são tais que quem ousa pensar por si mesmo é normalmente eliminado. Nada é menos verdadeiro, até onde se trata da iniciativa intelectual, do que dizer que os que são bons para obedecer também são bons para comandar (22). Dificuldades muito semelhantes se erguem nos partidos políticos: raras vezes o “Sexta Feira” do líder partidário é um sucessor capaz.)
Acredito termos chegado aqui a um resultado de certa importância e que pode ser generalizado. Dificilmente pode idear-se uma instituição para seleção dos indivíduos de maior realce. A seleção institucional pode servir maravilhosamente para os fins propostos por Platão, isto é, para deter toda mudança. Mas, se lhe pedirmos mais, então já não servirá para nada, pois tenderá sempre a eliminar a iniciativa e a originalidade e, de modo mais geral, as qualidades inesperadas e pouco freqüentes. Isto não é, por certo, uma crítica do institucionalismo político. Só reafirmamos o que antes já havíamos dito, isto é, que sempre devemos preparar-nos para os piores líderes, embora, naturalmente, cuidemos de procurar os melhores. É, porém, uma crítica da tendência para sobrecarregar as instituições, especialmente a instituição educacional, com a tarefa impossível de escolher os melhores. Nunca isto poderia ser sua tarefa. Tal tendência transforma nosso sistema educacional numa corrida, faz de um curso de estudos uma carreira de obstáculos. Em vez de encorajar o estudante a dedicar-se a seus estudos por amor a estudar, em vez de encorajá-lo a amar realmente o objeto de sua pesquisa e a indagação, (23) é ele incitado a estudar em função de sua carreira pessoal e levado a só adquirir aqueles conhecimentos que lhe sejam úteis para transpor os obstáculos de que se deve livrar a fim de adiantar-se. Em outras palavras, mesmo no campo da ciência, nossos métodos de seleção se baseiam num apelo á ambição pessoal, de forma um tanto crua. (E é como reação natural a esse apelo que o estudante aplicado é encarado com suspeita por seus colegas.) A exigência impossível de uma seleção institucional de líderes intelectuais põe em perigo a própria vida não só da ciência, como da inteligência.
Tem-se dito, e sempre com verdade, que Platão foi o inventor tanto de nossas escolas secundárias como de nossas universidades. Não conheço argumento melhor para uma visão otimista da humanidade, nem prova melhor de seu amor indestrutível à verdade e à decência, de sua originalidade e obstinação e saúde, do que o fato de não haver sido arruinada por esse devastador sistema de educação. A despeito da traição de tantos de seus lideres, há um grande número, antigos assim como novos, de decentes, inteligentes e devotados às suas obrigações. “Às vezes me espanto por não ter sido o dano feito mais claramente perceptível”, diz Samuel Butler (24), e por terem moços, e moças crescido de modo tão bom e sensato, como ocorreu, apesar das tentativas quase deliberadamente feitas para desviar e enfezar esse crescimento. Alguns, sem dúvida, foram prejudicados, sofrendo disso até o fim de suas vidas; mas muitos pareceram pouco, ou nada, piores, e alguns quase melhores. A razão poderia estar em que o instinto dos moços, na maioria dos casos, tanto se rebela contra seu adestramento, que, por mais que façam os mestres, nunca conseguem que eles lhes prestem séria atenção.”
Pode-se mencionar aqui que, na prática, Platão não mostrou demasiado sucesso como seletor de líderes políticos. Tenho em mente não tanto o decepcionante resultado de sua experiência com Dionísio, o Moço, tirano de Siracusa, como a participação da Academia de Platão na vitoriosa expedição de Dio contra Dionísio. Dio, famoso amigo de Platão, foi apoiado nessa aventura por certo número de membros da Academia de Platão. Um deles era Calipo, que se tomou o companheiro de maior confiança de Dio. Dio, depois que se fez tirano de Siracusa, mandou assassinar Heráclides, seu aliado (e talvez seu rival). Pouco mais tarde, foi ele próprio assassinado por Calipo, que usurpou a tirania para perdê-la treze meses após. (Foi ele, por sua vez, assassinado pelo filósofo pitagórico Leptines.) Mas este acontecimento não foi o único dessa espécie na carreira de Platão como mestre. Clearco, um dos discípulos de Platão (e de Isócrates), fez-se tirano de Heracléia, depois de haver-se apresentado como um líder democrático. Foi assassinado por um seu parente, Quíon, outro membro da Academia de Platão. (Não podemos saber como Quíon, que alguns retratam como um idealista, teria agido, pois foi logo morto.) Estas e outras experiências similares de Platão (25) — que se podia gabar de um total de pelo menos nove tiranos entre seus discípulos e companheiros de outrora — lançam luz sobre as dificuldades peculiares relacionadas com a seleção de homens que devam ser investidos de poder absoluto. É difícil encontrar um homem cujo caráter esse poder não corrompa. Como diz Lord Acton: todo poder corrompe, e o poder absoluto corrompe de forma absoluta.
Popper faz um interessantíssimo registro dos resultados do projeto educativo de Platão. Isso é muito relevante porquanto, como o próprio Popper escreve, “tem-se dito, e sempre com verdade, que Platão foi o inventor tanto de nossas escolas secundárias como de nossas universidades”.
O trecho acima chega a ser surpreendente. Enquanto fomos levados a acreditar que a Academia de Platão era um lugar devotado ao culto do sublime conhecimento das Formas ou Ideias puras, verdadeira fraternidade dos amantes da sabedoria, não vimos as barbaridades que ali se cometiam. Ninguém nos disse – nas escolas e universidades – que a academia platônica (modelo de nossas universidades) era, na verdade, um centro político conspiratório contra a democracia. Como se sabe, Platão, com medo, fugiu de Atenas após a condenação de Sócrates e voltou muito tempo depois, quando a irritação dos democratas atenienses com os ensinos antidemocráticos de seu mestre havia esfriado, para organizar sua academia. O que não sabíamos é que ele, na verdade, fundou uma espécie de centro de formação de tiranos. Sim, a excelsa Academia era uma organização política voltada para destruir a (ou impedir a expansão da) democracia. Tudo muito parecido com o projeto atual de Steve Bannon de fundar uma universidade do populismo (na Cartuxa de Trisulti, a 130 quilômetros de Roma), uma moderna escola de gladiadores para treinar agentes antiglobalistas i-liberais capazes de manter e expandir a atual onda de autocratização que vai devastando o mundo neste início do século 21.
Muito importante ler a nota 25 (abaixo): “A Academia era famosa por educar tiranos. Entre os discípulos de Platão estavam Cairon, mais tarde tirano de Pele, Eurasto e Corisco, tiranos de Esquépsis (perto de Atarneu), e Hermias, mais tarde tirano de Atarneu e Assos. Hermias, segundo algumas fontes, foi discípulo direto de Platão; de acordo com a chamada “Sexta Carta Platônica”, cuja autenticidade é discutível, talvez ele fosse apenas um admirador de Platão disposto a aceitar seus conselhos. Hermias tornou-se protetor de Aristóteles e do terceiro diretor da Academia, o discípulo de Platão, Xenócrates. [Veja-se ainda] Perdicas III e suas relações com o aluno de Platão Eufaco, onde também se fala de Calipo como discípulo de Platão… Esta fraqueza fundamental permanece na teoria do ditador benevolente, teoria que ainda floresce mesmo entre alguns democratas. Tenho em mente a teoria da personalidade dirigente cujas intenções visam ao melhor para seu povo e em quem se pode confiar. Mesmo se esta teoria fosse aceitável, mesmo que pudéssemos crer que um homem conseguisse continuar, sem ser controlado ou contrabalançado, em tal atitude, como admitiríamos que ele encontrasse um sucessor da mesma rara excelência?”
Em suma: o programa político de Platão foi muito mais institucional do que personalista: esperava ele deter a mudança política pelo controle institucional da sucessão na liderança. O controle devia ser educacional, baseado numa concepção autoritária do ensino, na autoridade do perito letrado, do “homem de comprovada probidade”. Foi isto o que Platão fez da exigência de Sócrates de que um político responsável deveria ser um amante da verdade e da sabedoria, mais do que um perito, somente sendo sábio (26) se conhecesse suas próprias limitações.
Falso novamente. Sócrates já tinha tal concepção.
Torna-se quase obrigatório ler ou reler o livro de I. F. Stone (1988), O Julgamento de Sócrates.
Notas
As notas estão desorganizadas (por culpa do próprio Popper, do tradutor e do editor brasileiros) e sem revisão.
(*) A legenda deste cap. é de Leis, 690b (Cf. nota 28 ao cap. 5).
1 — Cf. texto de notas 2-3 ao cap. 6.
2 — Ideias semelhantes foram expressas por J. S. Mill; assim, escreve ele em sua Lógica (l.a ed., p. 557 sg.) : “Embora as ações dos governantes de modo algum sejam inteiramente determinadas por seus interesses egoístas, é uma segurança contra esses interesses egoístas a exigência de controles constitucionais”. Similarmente escreve ele em The Subjection of Women (p. 251 da edição Everyman, grifos meus): “Quem duvida de que possa haver maior bondade, maior felicidade e maior afeição, sob. o governo absoluto de um homem bom? Entretanto, as leis e instituições exigem adaptação, não aos homens bons, mas aos maus.” Por muito que eu concorde com a sentença grifada, acho que a suposição contida na primeira parte não se justifica realmente. (Cf. esp. nota 25 (3) a este capítulo). Admissão semelhante pode ser encontrada em excelente passagem de seu Representative Government (1861, ver esp. p. 49) onde Mill combate a ideia platônica do rei filósofo porque) especialmente se seu regime fôsse benevolente, envolveria a “abdicação” da vontade e da capacidade do cidadão comum para julgar uma política.
Pode-se observar que essa admissão de J. S. Mill fez parte de uma tentativa para resolver o conflito entre o Essay on Government de James Mill e o “ famoso ataque de Macaulay” contra ele (como J. S. Mill o chama; cf. sua Autobiography, cap. V, Uma Etapa Adiante, l.a ed., 1873, p. 157-161; as críticas de Macaulay foram primeiramente publicadas na Edinburgh Review, março de 1829, junho de 1829 e outubro de 1829). Esse conflito desempenhou grande papel no desen-volvimento de J. S. Mill; sua tentativa de resolvê-lo determinou, em realidade, o objetivo e o caráter finais de sua Lógica (“os capítulos principais do que mais tarde publiquei sobre a Lógica das Ciências Morais”) como nos diz em sua auto-biografia.
A solução do conflito entre seu pai e Macaulay que J. S. Mill nos propõe é esta: Diz ele que seu pai tinha razão em crer que a política era uma ciência dedutiva, mas que errava ao sustentar que “o tipo de dedução (era) o da… geometria pura”, ao passo que Macaulay tinha razão em crer que fosse de caráter mais experimental, mas errava ao considerá-la equivalente ao “ método puramente experimental da química.” Segundo J. S. Mill, a verdadeira solução para o método adequado da política é o método dedutivo da dinâmica, caracterizado, a seu ver, pela soma de efeitos, tal como a ilustra o princípio da composição de forças.
Não creio que haja muita coisa nesta análise (que, fora outras coisas, se baseia em má interpretação da dinâmica e da química). Contudo, o pouco que tem pareceria defensável.
James Mill, como tantos antes e depois dele, tentou “ deduzir a ciência do governo dos princípios da natureza humana”, como dizia Macaulay (na parte final de seu primeiro artigo), estando este certo, creio eu, ao qualificar essa tentativa como “absolutamente impossível”. O método de Macaulay, também, podia ser descrito como bastante mais empírico, na medida em que fazia pleno uso dos fatos históricos a fim de refutar as teorias dogmáticas de J. Mill. Mas o método ,que pôs em prática nada tem a ver com o da química, ou com aquele que J. S. Mill acreditava fôsse o da química (nem com o método indutivo baconiano que Macaulay, irritado com o silogismo de J. S. Mill, elogiou). Era simplesmente o método de repelir demonstrações lógicas inválidas num campo em que nada de interesse poderia ser logicamente demonstrado, e de discutir teorias e situações possíveis á luz de teorias e possibilidades alternativas e de evidências factuais da história. Um dos principais pontos em foco era o de que J. Mill acreditava haver demonstrado a necessidade de produzirem a monarquia e a aristocracia um regime de terror — ponto que foi fàcilmente refutado por exemplos. As duas passagens de J. S. Mill citadas no início desta nota mostram a influência dessa refutação.
Macaulay sempre acentuou que apenas desejava refutar as provas de Mill, e não pronunciar-se sobre a verdade ou falsidade de suas alegadas conclusões. Só isso teria mostrado claramente que ele não tentou por em prática o método indutivo que tanto louvara.
3 — Cf., p. ex., a observação de E. Meyer (Gesch. d. Altertums, V, p. 4) de que o “poder é, em sua própria essência, indivisível”.
4 — Cf. Rep., 562b-565e. No texto, estou aludindo esp. a 562c: “ Não conduz o excesso (de liberdade) os homens a um estado tal que começam a querer ardentemente uma tirania?” Cf. ainda 563d/e: “E no fim, como bastante bem sabeis, eles não dão qualquer importância às leis, quer escritas, quer não escritas, pois não querem ter déspota de qualquer natureza sobre eles. Esta é pois a origem de que surge a tirania” (para o princípio deste trecho ver nota 19 a cap. 4).
Outras observações de Platão sobre os paradoxos da liberdade e da democracia estão em: Rep., 564a: “Deste modo, é provável que muita liberdade não se converta senão em muita escravidão, tanto no indivíduo como no estado… Daí ser razoável supor que a tirania não chega ao poder senão por intermédio da democracia. Daquilo que eu considero ser o maior excesso possível de liberdade nasce a mais dura e pesada forma de escravidão”. Ver também Rep., 565c/d: “ Não tem o povo comum o hábito de converter um homem em seu campeão ou líder partidário e de exaltar sua posição, fazendo-o grande?” — “ Esse é seu costume”. — “ Então parece claro que, onde quer que surja uma tirania, essa liderança partidária democrática será a origem de que ela nasce.”
O chamado paradoxo da liberdade é o argumento de que a liberdade, no sentido da ausência de qualquer controle restritivo, deve levar á maior restrição, pois torna os violentos livres para escravizarem os fracos. Esta ideia, de forma levemente diferente e com tendência muito diversa, é claramente expressa por Platão.
Menos conhecido é o paradoxo da tolerância: a tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada até àqueles que são intolerantes; se não estivermos preparados para defender uma sociedade tolerante contra os ataques dos intolerantes, o resultado será a destruição dos tolerantes e, com eles, da tolerância. — Nesta formulação, não quero implicar, por exemplo, que devamos sempre suprimir a manifestação de filosofias intolerantes; enquanto pudermos contrapor a elas a argumentação racional e mantê-las controladas pela opinião pública, a supressão seria por certo pouquíssimo sábia. Mas deveríamos proclamar o direito de suprimi-las, se necessário mesmo pela força, pois bem pode suceder que não estejam preparadas para se opor a nós no terreno dos argumentos racionais e sim que, ao contrário, comecem por denunciar qualquer argumentação;. assim, podem proibir a seus adeptos, por exemplo, que deem ouvidos aos argumentos racionais por serem enganosos, ensinando- os a responder aos argumentos por meio de punhos e pistolas. Deveremos então reclamar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar os intolerantes. Deveremos exigir que todo movimento que pregue a intolerância fique á margem da lei e que se considere criminosa qualquer incitação á intolerância e á perseguição, do mesmo modo que no caso da incitação ao homicídio, ao sequestro de crianças ou á revivescência do tráfego de escravos.
Outro dos paradoxos menos conhecidos é o paradoxo da democracia, ou, mais precisamente, do governo da maioria; isto é, a possibilidade de que a maioria possa decidir que um tirano deva reinar. Que a crítica de Platão á democracia pode ser interpretada do modo aqui esboçado e que o princípio do governo da maioria pode levar a auto-contradições, isso foi primeiro sugerido, tanto quanto sei, por Leonard Nelson (cf. nota 25 (2) a este capítulo). Não penso, porém, que Nelson, que, a despeito de seu apaixonado humanitarismo e de sua ardente luta pela liberdade, adotou muito da teoria política de Platão, e especialmente o princípio platônico da liderança, se tenha dado conta de que argumentos análogos podem ser suscitados contra todas as diversas formas particulares da teoria da soberania.
Todos esses paradoxos podem ser facilmente evitados se formularmos nossas exigências políticas» do modo sugerido na secção II deste capítulo, ou talvez de uma maneira como esta: exigirmos um governo que governe de acordo com os princípios do igualitarismo e do protecionismo; que tolere todos os que se disponham a agir do mesmo modo, isto é, que sejam tolerantes; que seja controlado pelo público e lhe preste contas. E podemos acrescentar que alguma forma de voto majoritário, juntamente com instituições para manter o público bem informado, são o melhor, embora não infalível, meio de controlar tal governo. (Não há meios infalíveis). Cf. também cap. 6, os quatro últimos parágrafos do texto anterior á nota 46; texto de nota 20, cap. 17; nota 7 (4) ao cap. 24; e nota 6 a este capítulo.
5 — Mais observações sobre este ponto serão encontradas no cap. 19.
6 — Cf. passagem (7) na nota 4 ao cap. 2. As seguintes observações sobre os paradoxos da liberdade e da soberania talvez pareçam levar a discussão demasiado longe; como, porém, os argumentos aqui discutidos são de caráter um tanto formal, pode ser justo também torná-los mais consistentes, ainda que isso envolva algo aproximado a fiar fino demais. Além disso, minha experiência em debates desse tipo leva-me a esperar que os defensores do princípio da liderança, isto é, da soberania dos melhores ou dos mais sábios, possam efetivamente’ oferecer o seguinte contra-argumento: (a) ‘se o “mais sábio” decide que governe a maioria, então não será realmente sábio. Como consideração ulterior, poderiam acrescentar em apoio dessa afirmação que (b) um sábio jamais estabeleceria um princípio capaz de conduzir a contradições como a do governo da maioria. Minha resposta a (b) seria a de que apenas nos basta alterar a decisão do “ sábio” de tal modo que ele fique livre de contradições. (Por exemplo, ele poderia decidir em favor de um governo obrigado a reger-se de conformidade com o princípio do igualitarismo e do protecionismo e controlado pelo voto da maioria. Esta decisão do sábio poria fim ao princípio de soberania e, visto como eliminaria assim toda contradição, poderia corresponder á decisão de um “ sábio” ; mas é claro que isto não basta para livrar o princípio do governo do mais sábio de suas próprias contradições). O outro argumento (a) representa um problema diferente. De fato, impele-nos perigosamente a definir a “sabedoria” ou “bondade” de um político de forma tal que só mereça essas qualificações se se achar decidido a não abandonar o poder. E, na verdade, a única teoria da soberania livre de contradições seria a teoria que exigisse que apenas um homem absolutamente decidido a aferrar-se ao poder é que deveria governar. Os que acreditam no princípio da liderança deveriam enfrentar francamente esta consequência lógica de seu credo. Para ser livre de contradições, ele implica não o governo do melhor ou do mais sábio, mas o governo do homem forte, do poderoso. (Cf. também nota 7 ao cap. 24).
7 — Cf. minha conferência ” Towards a Rational Theory of ‘Tradition”, (publicada primeiramente em The Rationalist Yearbook, 1949) onde tento mostrar que as tradições desempenham uma espécie de papel intermédio e intermediário entre as pessoas (e as decisões pessoais) e as instituições.
8 — Quanto ao comportamento de Sócrates sob o regime dos Trinta, ver Apol. 32c, Os Trinta tentaram envolver Sócrates em seus crimes, mas ele resistiu. Isso teria significado para ele a morte, se o regime dos Trinta durasse um pouco mais. Cf. também notas 53 e 56 ao cap. 10. Quanto á afirmação deste parágrafo, mais adiante, de que a sabedoria consiste em conhecer as limitações do próprio conhecimento, ver Carmides, 167a, 170a, onde o significado de “conhece-te a ti mesmo” é explicado desse modo; a Apologia (cí. esp. 23a-b) exprime tendência semelhante (da qual ainda há um eco no Timeu, 72a). Sobre as importantes modificações na interpretação de “ conhece-te a ti mesmo” que se verificam no Filebo, ver nota 26 a este capítulo (Cf. também nota 15 ao cap. 8).
9 — Cf. Platão, Fedon, 96-99. Creio que Fedon é ainda parcialmente socrático, mas muito amplamente platônico. A história de seu desenvolvimento filosófico narrada pelo Sócrates do Fedon tem dado origem a muita discussão. Acredito que não seja uma autobiografia autêntica nem de Sócrates nem de Platão. Sugiro que é simplesmente a interpretação dada por Platão ao desenvolvimento de Sócrates. A atitude de Sócrates para com a ciência (atitude que combinava o mais agudo interesse pela argumentação racional com uma espécie de agnosticismo moderno) era incompreensível a Platão. Tentou ele explicá-la referindo-se ao atraso da ciência ateniense no tempo de Sócrates, cm contraposição ao pitagorismo. Platão apresenta, assim, essa atitude agnóstica de modo tal que não mais é ela justificada á luz do pitagorismo de adoção recente. (E tenta mostrar quanto as novas teorias metafísicas da alma teriam atraído o ardente interesse de Sócrates pelo indivíduo; cf. notas 44 e 56 ao cap. 10 e nota 58 ao cap. 8).
10 — É a versão que envolve a raiz quadrada de 2 e o problema da irracionalidade, isto é, o próprio problema que precipitou a dissolução do pitagorismo. Refutando a aritmetização pitagórica da geometria, deu ela origem a métodos geométrico-dedutivos específicos, que conhecemos de Euclides (Cf. nota 9 (2) ao cap. 6). O uso deste problema no Menon pode ser relacionado ao fato de haver uma tendência em certas partes deste diálogo para “ exibir” a familiaridade do autor (dificilmente a de Sócrates) com os “mais recentes” desenvolvimentos e métodos filosóficos.
11 — Górgias, 52 ld sg.
12 — Cf. Crossman, Plato To-Day, 118. “Em face desses três
erros cardeais da democracia ateniense…” Pode-se ver da ob. cit., 93, quão verdadeiramente Crossman entende Sócrates: “Tudo quanto há de bom em nossa cultura ocidental nasceu desse espírito, quer o encontremos em cientistas, sacerdotes, ou políticos, ou simplesmente homens e mulheres -comuns que recusaram preferir falsidades políticas à pura verdade… afinal, seu exemplo é a única fórça que pode romper a ditadura da forca e da ambição… Sócrates mostrou que a filosofia nada mais g do que a objeção consciente ao preconceito e à falta de razão.”
13 — Cf. Crossman, ob. cit., 117 sg. (o primeiro grifo é meu). Parece que Crossman esqueceu momentaneamente que, no estado de Platão, a educação é um monopólio de classe. É verdade que na Rep. a posse de dinheiro não é uma chave para a educação superior. Mas isso não tem a menor importância. O ponto importante é que só os membros da classe dirigente são educados. (Cf. nota 33 ao cap. 4). Além disso, Platão, pelo menos para o fim de sua vida, Platão foi tudo menos um adversário da plutocracia, que ele preferia muito a uma sociedade sem classes ou igualitária. Cf. a passagem de Leis, 744b sgs. citada na nota 20 (1) ao cap. 6. Quanto ao problema do controle estatal da educação, cf. nota 42 a esse capítulo e notas 39-41 ao cap. 4.
14 — Burnet supõe (Greek Philosophy, I, 178) que «- República é puramente socrática (ou mesmo pré-socrática, opinião que pode estar mais próxima da verdade; cf. esp. A. D. Winspear, The Genesis of Plato’s Thought, 1940). Mas não faz qualquer tentativa séria para conciliar essa opinião com uma importante declaração de Platão que extrai de sua Sétima Carta (326a, cf. Greek Philosophy, I, 218), que •ele considera autêntica. Cf. nota 56 (5, d) ao cap. 10.
15 — Leis, 942c, cit. em forma mais ampla no texto de nota 33, cap. 6.
16 — Rep., 540c.
17 — Cf. citações de Rep., 473c-e, transcritas no texto de nota 44 do capítulo 8.
18 — Rep., 498b-c. Cf. Leis, 634d-e, onde Platão louva a lei dórica que “proíbe a qualquer jovem indagar se leis tais são justas e leis quais são injustas, proclamando todas unanimemente justas.” Só os anciãos podem criticar uma lei, alude o velho escritor, mas só o podem fazer quando não esteja próximo qualquer jovem. Ver também texto de nota 21 deste capítulo e notas 17, 23 e 40 ao cap. 4.
19 — Rep. 497d.
20 — Ob. cit., 537. As citações seguintes são de 537d-e e 539d. A “ continuação desta passagem” é 540b-c. Outra observação sumamente interessante acha-se em 536c-d, onde Platão declara que as pessoas escolhidas (na passagem anterior) para os estudos dialéticos são decididamente por demais velhas para aprender disciplinas novas.
21 — Cf. Cherniss, The Riddle of the Early Academy, p. 79, e o Parmenides, 135c-d. Grote, o grande democrata, comenta veemente este ponto (isto é, o relativo às passagens “ mais brilhantes” da Rep., 537c-540) : “O decreto que proíbe o debate dialético com a juventude… é francamente anti-socrático… Parece tirado, em verdade, das acusações de Melito e Anitos no processo contra Sócrates… Em nada difere da principal imputação que lhe fizeram, a saber, a de corromper a juventude… E quando observamos que (Platão) proíbe qualquer intercâmbio com os indivíduos de menos de trinta anos, é de observar como singular coincidência ser esta a exata proibição que Crítias e Calicles impuseram efetivamente ao próprio Sócrates, durante o curto domínio dos Trinta Oligarcas em Atenas.” (Grote, Plato and the Other Companions of Socrates, ed. 1875, vol. Ill, 239).
22 — A ideia, discutida no texto, de aqueles que são bons para obedecer também são bons para mandar, é de Platão, cf. Leis, 762e. Toynbee demonstrou de forma admirável a eficácia com que o sistema platônico pode operar para educar os dirigentes numa sociedade detida; cf. A Study of History, III, esp. 33 sgs.; cf. notas 32 (3) e 45 (2) ao cap. 4.
23 — Alguém talvez possa perguntar como um individualista pode reclamar devotamento a qualquer causa, e em especial a uma causa tão abstrata como a indagação científica. Mas tal pergunta apenas revelaria o velho engano (discutido no capítulo anterior) de identificar individualismo e egoísmo. Um individualista pode não ser egoísta, pode devotar-se não só a auxiliar os indivíduos como também ao desenvolvimento de meios institucionais para auxiliar os demais. (Fora isso, não penso que o devotamento deva ser reclamado, mas apenas encorajado). Acredito que o devotamento a certas instituições, por exemplo, às de um estado democrático, e mesmo a certas tradições, pode encaixar-se bem no domínio do individualismo, desde que não se percam de vista os alvos humanitários dessas instituições. O individualismo não pode ser identificado com o personalismo anti-institucional. Este é um erro frequentemente cometido por individualistas. Estão eles certos em sua hostilidade ao coletivismo, mas confundem instituições com coletivos (estes proclamam ser fins em si mesmos) e, portanto, tornam-se personalistas anti-institucionais, o que os conduz perigosamente para perto do princípio da liderança. (Acredito que isso em parte explique a atitude hostil de Dickens para com o Parlamento). Quanto à minha terminologia (“individualismo” e “coletivismo”) ver texto de notas 26-29, cap. 6.
24 — Cf. Samuel Butler, Ercwhon, p. 135 (1872), edição Everyman.
25 — Cf., para esses acontecimentos: Meyer, Gesch. d. Altertums, V, 522-525, e 488 sgs.; ver também nota 69 ao cap. 10. A Academia era famosa por educar tiranos. Entre os discípulos de Platão estavam Cairon, mais tarde tirano de Pele, Eurasto e Corisco, tiranos de Esquépsis (perto de Atarneu), e Hermias, mais tarde tirano de Atarneu e Assos (Cf. Aten., XI, 508, e Estrabão, XIII, 610). Hermias, segundo algumas fontes, foi discípulo direto de Platão; de acordo com a chamada “ Sexta Carta Platônica”, cuja autenticidade é discutivel, talvez ele fôsse apenas um admirador de Platão disposto a aceitar seus conselhos. Hermias tornou-se protetor de Aristóteles e do terceiro diretor da Academia, o discípulo de Platão, Xenócrates.
Quanto a Perdicas III e suas relações com o aluno de Platão Eufaco, ver Aten., XI, 505 sgs., onde também se fala de Calipo como discípulo de Platão.
(1) A falta de sucesso de Platão como educador não é muito surpreendente se considerarmos os princípios de educação e seleção desenvolvidos no primeiro livro das Leis (a partir de 637d e esp. efn 643a: “ Definamos a natureza e significado da educação”, até o final de 650b). Este texto, com efeito, nos diz que existe um grande instrumento para a educação, ou melhor, para a seleção dos homens em quem podemos confiar. E esse meio é o vinho, que, ao embriagar as pessoas postas à prova, solta-lhes a língua e permite que façamos uma ideia do que elas realmente são. “ Que mais adequado do que o vinho para, primeiro, por a prova o caráter de um homem e, depois, adestrá- lo? Que é mais barato e menos censurável?” (649d-e). Até agora, não vi o método da bebida discutido por qualquer dos educadores que glorificam Platão. Isso é estranho, pois o método é ainda amplamente usado, especialmente nas universidades, embora talvez já não seja tão barato.
(2) Fazendo justiça ao princípio da liderança, devemos admitir, contudo, que outros foram mais afortunados do que Platão em sua seleção. Leonard Nelson (cf. nota 4 a este cap.), por exemplo, que acreditava nesse princípio, parece ter tido a capacidade única de atrair, como de escolher, certo número de homens e mulheres que permaneceram leais á sua causa, nas circunstâncias mais tentadoras e difíceis. Mas a sua causa era melhor que a de Platão; era a ideia humanitária da liberdade e da justiça igualitária. * (Alguns dos ensaios de Nelson foram recentemente publicados numa tradução inglesa, pela Yale University Press, sob o título de Socratic Method and Criticai Philosophy, 1949. O ensaio de apresentação, muito interessante, é de Julius Kraft).
(3) Esta fraqueza fundamental permanece na teoria do ditador benevolente, teoria que ainda floresce mesmo entre alguns democratas. Tenho em mente a teoria da personalidade dirigente cujas intenções visam ao melhor para seu povo e em quem se pode confiar. Mesmo se esta teoria fôsse aceitável, mesmo que pudéssemos crer que um homem conseguisse continuar, sem ser controlado ou contrabalançado, em tal atitude, como admitiríamos que ele encontrasse um sucessor da mesma rara excelência? (Cf. também notas 3 e 4 ao cap. 9 e nota 69 ao cap. 10).
(4) Relativamente ao problema do poder, mencionado no texto, é interessante comparar o Górgias (5Z5e sg.) com a Rep. (615d sg.). As duas passagens são estreitamente paralelas. Mas o Górgias insiste em que os maiores criminosos são sempre “ homens procedentes da classe que está com o poder”; as pessoas particulares, diz-se, podem ser más, porém não incuráveis. Na Rep., esta clara advertência contra a influência corruptora do poder é omitida. A maior parte dos grandes pecadores é de tiranos, mas, diz-se, “também há entre eles certas pessoas particulares”. (Na Rep., Platão repousa no interesse próprio, que, confia, impedirá os guardiães de fazerem mau uso de seu poder; cf. Rep., 466b-c, cit. no texto de nota 41, cap. 6. Não fica inteiramente claro por que razão o interesse próprio teria tão benéfico efeito sobre os guardiães e não sobre os tiranos).
26 — Nos primeiros (socráticos) diálogos (p. ex. na Apol. e no Carmides; cf. nota 8 ao presente cap., nota 15 ao cap. 8 e nota 56 (5) ao cap. 10), a sentença “conhece-te a ti mesmo” é interpretada como “conhece quão pouco conheces”. O último diálogo (platônico) Filebo, entretanto, introduz uma mudança sutil mas muito importante. A principio (48c/d sg.) a sentença é aí interpretada implicitamente do mesmo modo, pois dos muitos que não conhecem a si mesmos é dito “proclamarem… mentindo, que são sábios”. Mas esta interpretação é agora desenvolvida do seguinte modo: Platão divide os homens em duas classes, os fracos e os poderosos. A ignorância e loucura do fraco é descrita como risível, ao passo que a ignorância do porte é “adequadamente chamada “má” e “odiosa”… Mas isso implica a doutrina platônica de que quem detém o poder deve ser sábio e não ignorante (ou de que só quem é sábio deve deter o poder), em contraposição à doutrina socrática original de que (todos e especialmente) quem detém o poder deve ter consciência de sua ignorância. (Não há, por certo, qualquer sugestão no Filebo de que a “sabedoria”, por sua vez, deva ser interpretada como “ a consciência das próprias limitações”; ao contrário, a sabedoria envolve aí um perito conhecimento do ensinamento pitagórico e da Teoria Platônica das Formas, tal como desenvolvida no Sofista).
Para se inscrever no programa Novos Pensadores, que começou em 08/01/2018, mas não tem dia para terminar, clique http://novospensadores.com. Todas as 74 sessões já realizadas estão gravadas em vídeos e disponíveis para os inscritos.